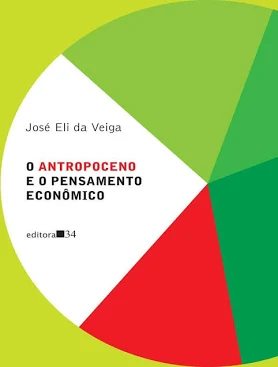Ricardo Abramovay – A Terra é Redonda – 12/05/2025
Considerações sobre o livro recém-lançado de José Eli da Veiga
A utopia que dominou o século XX e desabou como castelo de cartas em 1989 oferecia o inegável conforto intelectual de transformar de forma inapelável e completa as próprias bases sobre as quais se constituíram as sociedades modernas. Era como recomeçar do zero. Sistema de preços, lucro, empresas privadas e o que Karl Marx chamou de “anarquia da produção” seriam substituídos por decisões racionais vindas da inteligência planificadora que, apoiada, em tese, sobre participação social democrática, sinalizaria aos organismos centrais quais seriam as necessidades e os desejos da sociedade.
Esta utopia foi importante inclusive em países democráticos e sua derradeira expressão política foi o governo de “Union Populaire” da França que, sob a presidência de François Mitterrand, em 1981, deu início à estatização dos dez maiores grupos econômicos do país. A ousadia não durou um ano e depois de sua reversão nenhuma força política expressiva, em qualquer lugar do mundo, preconiza o que a esquerda europeia chamava de “nacionalização dos grandes monopólios” como caminho para combater as desigualdades, evitar os desperdícios e usar os recursos materiais e bióticos em benefício da sociedade.
Mas este final melancólico nem de longe suprimiu os valores ético-normativos em que se fundamentou a utopia da esquerda do século XX. Tanto mais que o espetacular aumento da riqueza em todo o mundo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, não tardou a revelar seus pés de barro pela destruição em que se assentou de recursos e serviços ecossistêmicos sem os quais o bem-estar e o próprio dinamismo econômico estavam sob risco crescente.
A utopia do século XXI não é e não pode ser conformista e condescendente. Ela mantém e, sobretudo, ela expande o que marcou os projetos de emancipação social do século XX. Sua ênfase é, em primeiro lugar, a expansão das liberdades substantivas dos seres humanos, para empregar a expressão de Amartya Sen, que exerceu influência decisiva sobre os trabalhos vindos dos diversos programas e de diferentes agências das Nações Unidas.
A conquista desta liberdade supõe não apenas direitos humanos, mas exige que se rompa com a noção de que a natureza é apenas um meio, cujo uso ilimitado pode se perenizar, já que sua exaustão será compensada por aquilo que nosso engenho tecnológico é capaz de criar.
Só que em vez de trazer a marca da tomada do Palácio de Inverno ou de uma vitória eleitoral que ponha de cabeça para baixo as regras do jogo, a utopia do século XXI assemelha-se a trocar os pneus do carro com o veículo em movimento. Ela não se propõe a suprimir os pilares da vida social (mercados, empresas, lucros) e sim a ampliar os bens públicos, reduzir ao mínimo as atividades predatórias da saúde humana e do meio ambiente e promover participação social e inovação tecnológica que contribuam para atingir este objetivo.
Nada exprime melhor a utopia do século XXI que os dezessete Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados pelas Nações Unidas em 2015 e que serão revistos em 2030. E apesar da má reputação de que goza o pensamento econômico como sinônimo daquilo que Thomas Carlyle chamou de ciência sombria, que só conseguiria conceber a sociedade como resultado não antecipado de interesses individuais, transformando, na trilha de Bernard de Mandeville, o egoísmo em virtude social, é exatamente no pensamento econômico que se encontram as fontes mais férteis das quais se alimenta esta utopia.
É o que mostra a impressionante síntese do mais recente volume da trilogia que José Eli da Veiga acaba de publicar, O Antropoceno e o pensamento econômico. O primeiro volume da trilogia (O Antropoceno e a ciência do sistema terra, Ed. 34, 2019) discute uma expressão relativamente recente no âmbito das ciências da terra e da vida: o sistema terra.
O termo tem a ambição de romper com a estreita especialização em que são treinados os pesquisadores das disciplinas que compõem esta área científica diante da urgência de se compreender o fato de que as atividades humanas dos últimos oitenta anos não só provocaram alterações na biosfera, mas se tornaram uma força de natureza geológica, interferindo no comportamento do sistema climático e por aí nos oceanos, na atmosfera e nos solos. Daí a ideia de Antropoceno.
No segundo volume, o Antropoceno e as humanidades (Ed. 34, 2023), a reflexão se volta às ciências do homem e da sociedade e alguns dos mais expressivos pensadores sociais contemporâneos são objeto de reflexão. O livro se apoia em ninguém menos que Charles Darwin para mostrar que, longe da ideia vulgar segundo a qual a evolução biológica pode ser resumida a uma disputa acirrada em que vence o mais forte, a vida (e a vida social) é composta, antes de tudo por processos cooperativos apresentados numa obra decisiva e pouco conhecida do criador da teoria da evolução, The Descent of Man.
E quem imaginou que no terceiro volume, O Antropoceno e o pensamento econômico, a narrativa se concentraria em como os ajustes no sistema de preços podem contribuir a enfrentar aquilo que Sir Nicholas Stern colocou como a mais importante falha de mercado da sociedade atual (as mudanças climáticas), a surpresa será imensa.
Longe de sua imagem caricatural que a vê como a disciplina que estuda a alocação de recursos escassos entre fins alternativos, baseada inteiramente na ideia de que indivíduos racionais e auto interessados relacionam-se uns aos outros a partir da sinalização que os mercados transmitem ao que compram e vendem, a ciência econômica da segunda metade do século XX reserva novidades que o livro de José Eli da Veiga tem a virtude de expor de maneira dinâmica, persuasiva e, como não poderia deixar de ser, polêmica.
A apresentação dos autores mais expressivos do pensamento econômico das últimas seis décadas sobre o Antropoceno gira em torno de duas questões centrais.
A primeira rompe com o dogma básico do pensamento neoclássico expresso por um de seus mais consagrados expoentes, Lionel Robbins, que, referindo-se à relação entre ética e economia, escreveu, em 1932: “infelizmente não parece logicamente possível associar os dois estudos de qualquer outra maneira que não seja a justaposição”.
A reflexão dos economistas que se voltaram a estudar o Antropoceno, ao contrário, coloca a ética no coração da economia. Se a vulnerabilidade da biosfera for abordada sob o ângulo puramente instrumental o resultado será a convicção (que domina o pensamento econômico convencional) de que seu eventual esgotamento pode ser enfrentado por meio de inovações tecnológicas que entregarão para a sociedade os serviços que as atividades humanas acabaram por destruir.
Não surpreende então que, para colocar a natureza como finalidade e não como meio, é necessário fazer aquilo que Lionel Robbins acreditava impossível. A abordagem dos mais importantes economistas sobre o Antropoceno supõe, assim. a contestação das premissas epistemológicas (e, de certa forma, ontológicas) em que a disciplina convencionalmente se apoia.
Não se trata de negar a importância dos mercados, das empresas e do lucro e sim de mostrar que a compreensão da vida econômica se torna mais fértil caso ela se amplie para incluir a cooperação, a solidariedade e os bens públicos e, mais que isso, a importância de um tratamento dos materiais, da energia e dos recursos bióticos de que depende a oferta de bens e serviços com instrumentos que não se resumem ao que o sistema de preços sinaliza.
É nesta reflexão sobre ética que se apoia a discussão central do livro: para que serve, qual o alcance e quais os limites do crescimento econômico? A miragem de uma solução unificada e totalizante para enfrentar a destruição a que vem levando a gigantesca riqueza produzida pela grande aceleração, o decrescimento, é rejeitada não por sua impossibilidade prática ou por não estarem reunidas as forças político-culturais que poderiam levá-las à prática.
O equívoco da proposta de decrescimento está em que ele se tornou, de certa forma, o outro lado da moeda do mito do crescimento. Ele se abstém de estudar a vida social com base no uso dos recursos materiais, energéticos e bióticos e nos serviços de provisão (na alimentação, na mobilidade, na construção, na saúde) a que este uso dá lugar.
Mais importante que saber se a economia cresce ou não é conhecer como se extraem e transformam os recursos voltados à oferta de bens e serviços e se estes bens e serviços contribuem a melhorar ou piorar tanto a vida social como o meio ambiente.
A proposta que decorre desta análise é que é preciso “crescer decrescendo” e “decrescer crescendo”. O aparente paradoxo se explica: por mais importante que seja a virtude do crescimento em criar empregos, arrecadar impostos e estimular inovações, estes atributos serão ofuscados se os bens e serviços em que eles se apoiam forem o tabaco, a destruição dos tecidos urbanos provocada pela massificação dos automóveis individuais (em detrimento dos transportes públicos) e a ampliação do consumo de alimentos ultraprocessados que são vetores da pandemia global de obesidade.
É preciso reduzir ao mínimo estas atividades (decrescer) ampliando aquelas que aumentam a oferta de bens públicos e as que se voltam a regenerar os serviços ecossistêmicos que, até aqui, o crescimento econômico vem destruindo, como as energias renováveis, alimentos de qualidade e o fortalecimento das áreas protegidas (crescer). Em vez de se fixar nesta medida sintética (e, de certa forma, arbitrária) que é o PIB, o fundamental é examinar as bases materiais, energéticas e bióticas da formação da riqueza e seus efeitos reais sobre o bem-estar humano e os serviços ecossistêmicos.
Em suma, a riqueza e a diversidade das correntes de pensamento apresentadas neste livro são antídotos contra o ceticismo dos apologistas do fim do mundo e contra o cinismo dos que insistem em dizer que não há e não haverá força suficiente para mudar a trajetória destrutiva que está levando ao aumento das emissões, à crescente erosão da biodiversidade e a diferentes formas de poluição. Conhecer o pensamento econômico sobre o Antropoceno é certamente um caminho promissor para evitar esta dupla paralisia.
Ricardo Abramovay é professor titular da Cátedra Josué de Castro da Faculdade de Saúde Pública da USP. Autor, entre outros livros, de Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável (Elefante)