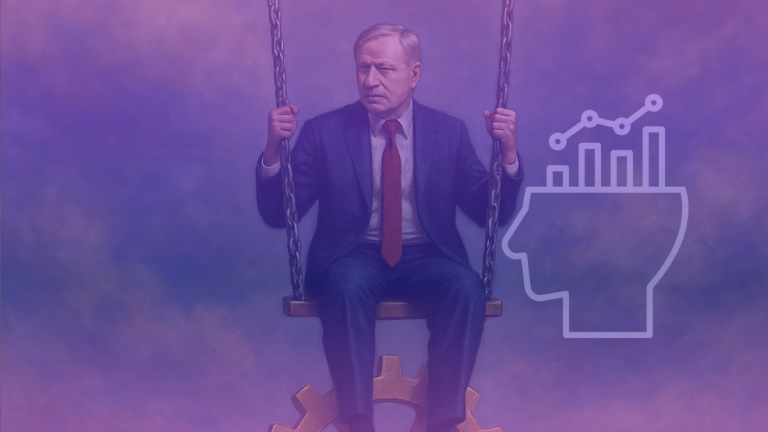Luta de classes perde espaço. Para a fome, apenas programas sociais. Projetos de emancipação aprisionam-se na Academia. O identitarismo propõe inclusão vazia diante de opressões. Resultado: discursos estéreis, desilusão e avanço do fascismo
Maurício Abdalla – OUTRAS PALAVRAS – 04/06/2025
A pobreza foi tema recorrente na teologia e nas ciências sociais e foi objeto de inúmeras e distintas concepções. Havia, porém, duas compreensões gerais acerca da pobreza que separavam as análises e em dois campos, a partir dos quais se dividiam as ações e projetos de intervenção prática na esfera social e política. Em um campo, podia-se reunir as teologias e concepções religiosas ingênuas ou conservadoras, para as quais a pobreza aparece como o campo eterno da caridade assistencialista e a visão liberal. Todas têm em comum a compreensão de que a pobreza não é um problema transitório, superável na história, mas sim uma condição dada da existência humana.
Na visão religiosa ingênua e na concepção liberal humanista, os pobres podem receber paliativos para aplacar seu sofrimento e é possível resgatar uma parcela deles para conceder-lhe ascensão social. Há também um liberalismo pragmático que se preocupa com a pobreza por entender que a desigualdade extrema pode atrapalhar o bom desenvolvimento da economia. Assim, admitem, justificam e até defendem programas assistenciais e de transferência de renda para minimizar os efeitos deletérios da pobreza para a estabilidade econômica. Mas a realidade estrutural da pobreza nunca é considerada como algo produzido na história, que pode ser eliminado por nossa ação.
No outro campo, situavam-se a Teologia da Libertação e as teorias sociais crítico-emancipatórias, grande parte de inspiração marxista, mas também com desenvolvimentos locais próprios, que tinham em comum a concepção da pobreza como um problema estrutural, que poderia e deveria ser eliminado pela raiz. A situação de privação a que bilhões de seres humanos estão submetidos não teriam caráter de perenidade, inevitabilidade ou necessidade. Ao contrário, seriam produzidas na história por estruturas injustas criadas por um conjunto de seres humanos e impostas com violência aos demais.
A práxis (ação e discurso, prática e teoria) resultante dessa concepção colocava como objetivo a transformação estrutural da sociedade e tinha uma percepção sistêmica acerca da pobreza. Ou seja, o problema não era concebido de forma fragmentada – cujas soluções seriam apenas locais e estariam restritas a cada grupo social vitimado pela pobreza –, mas compreendido como parte de uma totalidade que unificava distintas realidades em um campo maior de exploração e opressão. Era, portanto, necessário entender cada face real e específica da pobreza, sem ocultar ou desconsiderar suas especificidades, dentro de uma totalidade maior que abarcava as distintas formas de exploração, opressão e exclusão.
A análise crítica e rigorosa do sistema e a práxis emancipatória dos movimentos sociais populares dos países periféricos identificaram que as raízes geradoras da pobreza eram as mesmas que produziam opressões específicas contra distintos grupos entre os pobres. A estrutura econômica tinha diferentes formas de concretização e especificidades relacionadas à realidade dos países colonizados pelo processo civilizatório do capital, como a escravização dos negros, a violência contra os povos indígenas e suas consequências para as relações sociais. A prática dos movimentos sociais, principalmente os populares, despertou também a atenção para os problemas das mulheres, tematizando a questão de gênero de forma popular, um pouco diferente do feminismo clássico. Isso marcou o discurso e a prática de intelectuais orgânicos, pastorais e Comunidades Eclesiais de Base, movimentos sociais e partidos que se colocavam no campo da luta emancipatória até os anos 1990. As questões de gênero, raça e etnia eram compreendidas, em suas particularidades, na totalidade das consequências da colonização capitalista.
A partir dos anos 90, muita coisa mudou na práxis emancipatória dos setores progressistas das igrejas, dos movimentos sociais e partidos de esquerda. De um lado, a queda dos regimes socialistas do Leste Europeu e da URSS provocou um furacão que bagunçou análises, utopias e discursos. De outro, uma ofensiva planejada dos EUA no campo cultural e intelectual entrou em marcha para conquistar o território estratégico das subjetividades, exatamente em um momento de fragilidade e confusão.1 Essa ofensiva não foi apenas ideológica, no sentido de entregar às massas uma explicação falsa do mundo, para submetê-las ao sistema. A batalha das ideias foi vencida também no campo do pensamento teórico, do discurso emancipatório, da conformação dos movimentos sociais e partidos de esquerda.
Os movimentos emancipatórios atuais têm grande dificuldade para identificar, com a clareza de outros tempos, um lócus central do poder e da exploração e não têm conseguido pensar de forma sistêmica, de modo a identificar uma totalidade que conecta a pobreza e as opressões particulares entre si e estas às esferas econômica e macropolítica.
As mudanças reais nas relações de poder e na economia global geraram essa dificuldade de entendimento, mas o refúgio de intelectuais em teorias fragmentadoras e antimarxistas da “onda pós” (pós-moderna, pós-estruturalista, pós-colonial, pós-crítica), oferecidas à mancheia nas universidades, com amplo apoio das agências estadunidenses a partir dos anos 90,2 foram determinantes para uma mudança de perspectiva.3 É claro que isso iria se refletir, de uma forma ou de outra, na dinâmica das novas gerações da esquerda e na práxis do campo emancipatório.
Mas, o impacto foi potencializado pelo fato de que os partidos de esquerda, a Igreja Católica, os movimentos sindical e popular (com poucas exceções) deixaram de fazer a formação de militantes que era feita por meio da educação popular, que unia teoria e prática. Isso fez com que o campo teórico das lutas emancipatórias passasse a ser alimentado apenas pelas universidades, onde o mundo real, a prática social e as lutas reais parecem passar a quilômetros de distância e tudo se torna apenas conceito de livre manipulação teórica.
A forma de compreensão da realidade produzida pela “onda pós” gerou uma percepção subjetiva do mundo que descarta a totalidade sistêmica em nome da fragmentação do real, defendida por teorias desencarnadas da realidade efetiva da luta política popular. No campo da organização social, isso impede que se tenha uma definição clara a respeito de qual inimigo se deve enfrentar, o que ocasiona a criação de inimigos dentro do próprio campo emancipatório e chega a provocar uma disputa fratricida entre grupos e pessoas que, a princípio, deveriam estar do mesmo lado na luta. O resultado é que os movimentos de emancipação atual não conseguem definir estratégias coletivas de ação no nível macrossocial, adaptadas à conjuntura e às transformações do mundo.
É esse contexto de mudanças e perplexidade que cria o ambiente para o florescimento de teorias, concepções e discursos que abandonam quase por completo a perspectiva de transformação estrutural em favor da exclusividade, fragmentação e autonomia de questões relacionadas aos direitos das minorias sociológicas.
Em uma concepção sistêmica da sociedade e de seus problemas, cada vez mais “fora de moda”, as opressões relacionadas a questões raciais, étnicas, de sexo, gênero, idade, condição física e mental etc., são opressões específicas, que ocorrem no interior de uma sociedade dividida em classes por um sistema que explora a parcela majoritária da população e a lança em situação de pobreza. A realidade das pessoas que, além da pobreza genérica, sofrem as opressões relacionadas a uma existência específica enseja a criação, por reconhecimento de identidade comum, de subgrupos políticos particulares que desenvolvem lutas, resistências e produção intelectual relacionadas a essas identidades. Porém, quando se considera que todos vivem em uma mesma sociedade atravessada por um conflito de classes do qual ninguém pode fugir, esses grupos podem entender-se como um grupo identitário particular, sem, contudo, perder a perspectiva de uma identidade maior definida pela condição de classe, que une a todos e todas em uma condição estrutural de pobreza e exclusão.
Quando as identidades são concebidas a partir da compreensão da unidade de classe, deixam de existir a mulher genérica, o negro genérico, a pessoa trans genérica etc. (cujos inimigos seriam o homem genérico, o branco genérico, a pessoas cis genérica etc.), para se tratar da mulher trabalhadora, do negro pobre e excluído, da pessoa trans desempregada etc. Ou seja, os conceitos mais gerais relacionados às questões de sexo, raça, etnia, identidade de gênero etc. ganham concreticidade quando pensados não em sua dimensão abstrata e ideal, mas na concreticidade de sua existência dentro de um sistema que os moldam a uma realidade específica. À luz dessa compreensão, surge a mulher concreta, o negro concreto, a pessoa trans concreta etc. Todos passam a se compreender como vítimas de uma situação de opressão adicional, que deve ser pensada a partir de suas especificidades, dentro de uma situação mais ampla de pobreza que os unifica como classe e é causada pelos agentes concretos do sistema.
A percepção dessa relação estabelece uma distinção entre, de um lado, as formas de luta por inclusão e representatividade que só transformam as condições de vida e trabalho dos poucos que conseguem ocupar os espaços limitados de inclusão e representação, enquanto a maioria dos “representados” continua amargando as condições de vida precárias que a estrutura social lhes destina; e, de outro lado, as formas de luta que, além de almejarem uma mudança nas relações culturais que reproduzem as opressões, encaram o problema econômico estrutural como causa de uma exclusão maior decorrente da pobreza, desemprego, salários baixos, jornadas excessivas de trabalho, concentração de terras, segregação urbana e falta de acesso aos serviços públicos (saúde, educação, segurança, crédito, mobilidade etc.) e aos meios de ascensão social (emprego e educação superior de qualidade). É a mesma divisão dos campos que distinguiam as visões liberais e crítico-emancipatórias com relação à pobreza. Assim se dividiam os espectros políticos à direita e à esquerda na luta política e social.
A primeira forma é uma maneira de pensar liberal e pode ser abraçada por pessoas de distintas compreensões e posições de classe; a segunda é a perspectiva do campo emancipatório crítico, que só pode ser abraçada por aqueles que se situam em condição subalterna no sistema, como classe que não possui propriedade rentável ou renda que não venha de seu próprio trabalho, e por aqueles que se colocam a seu lado do ponto de vista teórico e prático.
Porém, por força de muita propaganda e guerra cultural inteligentemente planejada e executada, a concepção que isola esses subgrupos e deixa de concebê-los como pertencentes a um grupo maior, atravessado pela divisão de classes e pelos problemas de ordem econômica estrutural, acabou prevalecendo até nos movimentos sociais e partidos de esquerda. A abordagem de orientação liberal e pós-moderna dessas temáticas deixou de caracterizar apenas o espectro político da direita liberal. Assim, ao contrário de atuar no sentido de conectar as lutas identitárias às lutas mais abrangentes e interrelacionadas (sem deixar de considerar as especificidades), que incluem a esfera da economia e da macropolítica, a visão liberal predominante na esquerda concebe essas lutas como autônomas e independentes, que se unem apenas quando algumas dessas opressões se acumulam em identidades individuais múltiplas (como o ser mulher e negra, ou negro e LGBTQIA+ etc.).
Nessa concepção particularista e fragmentada da luta social todos os problemas se reduzem ao que é tematizável na esfera específica de cada “identidade” experimentada e vivenciada no cotidiano. Como a classe social não é um desses temas de visibilidade aparente no particular, nem na vivência pessoal – pois é produto de uma elevação dialética do pensamento –, essa maneira de se compreender a luta social admite aliança dos grupos identitários com grandes empresas capitalistas, responsáveis pela situação de desigualdade e fome no mundo, guerras genocidas, destruição do ecossistema, exploração da população dos continentes periféricos, desinformação e atentados à democracia, como Rede Globo, Walt Disney, Vale, Banco Itaú, Visa, Microsoft, IBM etc., e as fundações internacionais geridas por bilionários.
É nesse contexto que a pobreza e as raízes de sua produção desaparecem do âmbito da luta e dos discursos da esquerda, restando apenas a disputa pelos espaços limitados de representação, o empreendedorismo identitário, a meritocracia liberal com cores progressistas ou o talento individual de pessoas dos grupos oprimidos, como saídas possíveis para a situação de pobreza, acessíveis apenas para uma parcela insignificante desses grupos sociais.
Tal visão exclusivista, nem sempre apresentada de forma explícita, tem sido chamada de identitarismo.7 Jessé Souza descreve bem esse deslocamento de perspectiva:
Como as classes e suas socializações primárias se tornam invisíveis, então o mundo social passa a ser dividido em grupos sociais cujas diferenças se devem a supostas “identidades culturais grupais” – mulheres, homens, negros, brancos etc. É como se a sociedade fosse um amontoado de indivíduos, todos com a mesma capacidade, a mesma família, a mesma educação, as mesmas chances, apenas com gênero e raça diferentes. Como a real produção da desigualdade é mantida em segredo, então as diferenças só podem se dever a gênero e raça, obviamente.
O identitarismo liberal adotado pela esquerda, ou seja, a nova forma de se abordar as opressões das minorias sociológicas, é fruto de concepções que vieram do Norte Global para substituir as teorias emancipatórias dos países periféricos, que relacionavam as opressões de gênero e raça à exploração de classe e à luta contra o sistema. Ainda sobre o tema, diz Souza:
O tema da diversidade, como forma de proteger as minorias identitárias, foi utilizado para tornar invisível a desigualdade de classe no acesso a riqueza e poder. Com isso, tanto o capitalismo financeiro quanto a Rede Globo podem tirar onda de emancipadores. Para o capital, é irrelevante se ele está explorando homem ou mulher, branco ou preto, homossexual ou heterossexual.9
Nessa concepção, o problema da pobreza estrutural praticamente desaparece em nome da luta pela “representatividade” e pela “diversidade” dentro do sistema. As identidades oprimidas podem sentir-se vencedoras quando um artista negro ou negra ou trans ganha milhões e entra no show business, ainda que seus irmãos e irmãs de opressão e de classe sigam amargando as piores condições de vida e de trabalho que se possa imaginar, ou sofrendo preconceitos que podem custar-lhes a felicidade, a integridade física e até a vida. Basta o sucesso de um artista da favela para se dizer que “a favela venceu”, quando as casas das favelas continuam sob o risco de desabamento nas encostas, com acesso precário, sem serviços de esgoto, segregadas da cidade e sob o império do terror imposto pelo crime organizado do tráfico ou das milícias.
Embora produto teórico do liberalismo, o identitarismo espalhou-se pela esquerda, que o acolheu de forma acrítica, pensando ter ele a exclusividade no tratamento das opressões de gênero, raça e etnia, que já faziam parte das lutas emancipatórias latino-americanas e eram tematizadas por autores e autoras do mundo periférico em outras épocas e em outra perspectiva, em livros que jamais se tornaram best sellers, escritos por autores que não viraram celebridades midiáticas. E ele penetrou de tal forma no universo mental da nova esquerda que, por mais que se esclareça, de todas as formas possíveis, que a crítica ao identitarismo não é a crítica às lutas das minorias, haverá sempre os que responderão como se a crítica fosse dirigida a essas lutas.
A crítica teórica de esquerda ao identitarismo é uma defesa do caráter revolucionário e estrutural que as lutas das minorias podem ter, mas que é sufocado por um modismo alimentado por grandes e poderosas corporações que dominam a economia mundial. De maneira alguma, nem lógica e nem praticamente, é uma crítica que parte de quem é contra essas lutas. Quando, porém, se tenta alertar que o identitarismo é uma concepção que provoca o isolamento dessas lutas e bandeiras e faz as questões estruturais da pobreza desaparecerem do horizonte emancipatório, o embotamento da capacidade raciocinativa de muitos militantes e intelectuais aflora e se torna visível.
O maior sintoma da vitória dos EUA na guerra cultural iniciada nos anos 1990, mesmo sobre o pensamento emancipatório, é a reação quase hipnótica de pessoas que respondem a crítica ao identitarismo, feita por gente assumidamente do campo da esquerda, com discursos rasos em defesa da luta dos negros, jovens, mulheres, população LGBTQIA+, como se estivessem confrontando alguém da extrema-direita que combatem as pautas desses movimentos e as reduzem a “mimimi” e à moda do “politicamente correto”.
O desaparecimento da pobreza e das questões de classe social no discurso atual da esquerda, portanto, foi resultado tanto da perplexidade causada pela fase neoliberal e globalizada do capitalismo, que predomina desde a penúltima década do século XX até os nossos dias, quanto da disseminação proposital de ideias e modas teóricas vindos dos EUA e Europa por meio das universidades e da promoção midiática e editorial de autores cujos pensamentos eram aplicações desses modismos intelectuais à nossa realidade.
O resultado disso, no mundo real, é a perda cada vez maior de identificação dos pobres com os discursos da esquerda, principalmente dos que não pertencem a uma identidade oprimida particular. Além disso, cresce a adesão dos pobres ao discurso fascista, que os articulam também em uma identidade fragmentada, um tipo de identitarismo de direita, no qual eles se identificam como pessoas abandonadas pelo sistema e cujos valores e tradições estão ameaçados pela esquerda. O lema “Deus, Pátria e Família” tem arrastado muito mais os pobres do que qualquer jargão lacrador identitário a que se reduziu a prática identitarista. E sem a adesão dos pobres, maioria em qualquer país capitalista, a esquerda (e qualquer força política) se inviabiliza como alternativa de poder.
Notas:
1 Ver sobre isso meu artigo “Em busca da funda de Davi”, publicado em Outras Palavras.
2 ROCKHILL, Gabriel. Como a teoria francesa pós-marxista contribuiu com a CIA em desacreditar o anti-imperialismo e o anticapitalismo. Opera Mundi, 10/03/17.
3 Para entender o que esteve em jogo no pensamento acadêmico nos anos 1990, ver o livro de João E. Evangelista: Crise do marxismo e irracionalismo pós-moderno. São Paulo: Cortez, 1992
4 Digo isso amparado em 30 anos de docência em Universidade Federal e quase 40 de educação popular militante.
5 Essa foi a história dos movimentos negro e feminista, que surgiram originalmente das lutas de trabalhadores e trabalhadoras organizados em movimentos de inspiração socialista.
6 Atente-se o leitor ou leitora que falo de uma visão predominante, não exclusiva. Se seu grupo identitário ou a sua percepção individual não se enquadram nessa descrição, é óbvio que a análise crítica não se refere a você e a seu grupo. Portanto, antes da irritação padrão e da reação negativa comumente gerada por essa reflexão, entenda que, se sua prática ou a de seu grupo realmente não reproduz a descrição acima, não é você ou seu grupo o objeto da crítica.
7 Mesmo estando claro, é preciso repetir milhões de vezes que o identitarismo é uma perspectiva a respeito das lutas identitárias. Ele não se confunde com as próprias lutas e pautas que se articulam sob o eixo das identidades (como a dos negros, mulheres, população LGBTQIA+), mas é uma maneira particular de se entendê-las. Assim a crítica ao identitarismo não é uma crítica às lutas e pautas das minorias, mas a uma maneira de se concebê-las. Tratei isso de forma didática, quase “explicado às crianças” em um pequeno artigo chamado “O significado da crítica ao identitarismo”, publicado em Outras Palavras.
8 SOUZA, Jessé. Como o racismo criou o Brasil. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2021. p. 23-24
9 SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à lava-jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017. Nota de rodapé 61.
10 Veja sobre isso o artigo de Rodrigo Perez Oliveira: Os impasses da política identitária, na revista Insight Inteligência n. 107, dezembro de 2024.