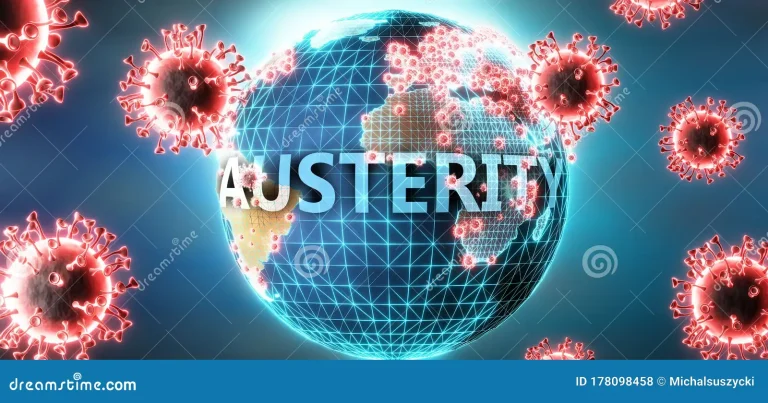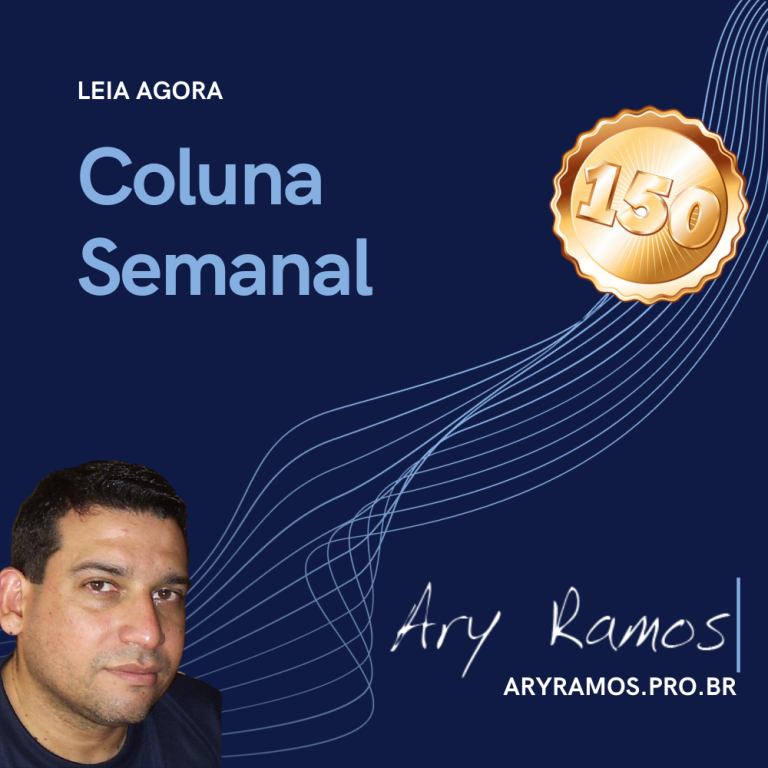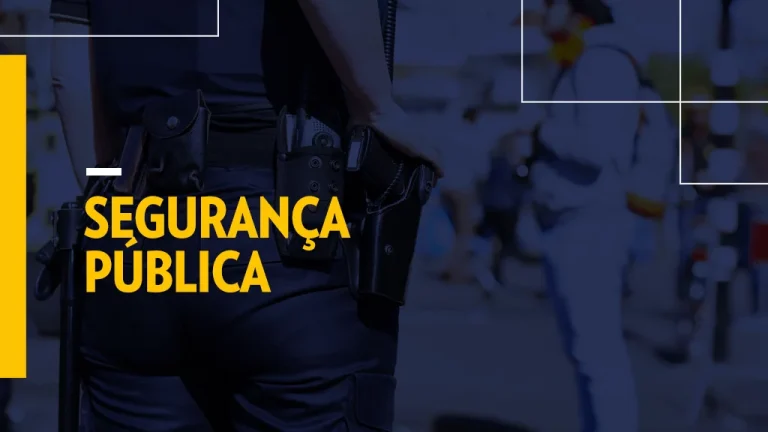Pensadora italiana desvenda os perigos da austeridade que, ao despolitizar a economia, isenta tecnocratas do escrutínio democrático – e abre caminhos para o fascismo. Uma pista para entender o “casamento” entre Bolsonaro e Guedes
Francisco Rohan de Lima – Outras Palavras, 23/02/2023
A liberdade é sempre a liberdade para o que pensa diferente.” Rosa Luxemburgo (1871-1919), filósofa polaco-germânica.
Como eu havia prometido no texto que escrevi para Outras Palavras e para o blog de Lúcio Flávio Pinto,1 volto ao tema da austeridade na economia para comentar o livro da professora Clara Mattei, cujo título, em tradução livre, é A ordem do capital – como economistas inventaram a austeridade e prepararam o caminho para o fascismo2. Fiquei curioso porque, como escrevi antes, sempre ouvi e li que austeridade, um princípio de ordem moral indicativo de prudência e moderação, deveria ser aplicado à gestão econômica das nações, evitando endividamento excessivo, descontrole e ineficiência de gastos do governo. Uma frase clichê encapsula esse tipo de abordagem: as contas públicas devem ser administradas com a mesma prudência de uma dona de casa na economia doméstica.
Mas nós sabemos que, com assuntos complexos, nada pode ser assim tão simples. Tive um mestre na minha juventude que, quando eu tentava transformar ideias muito complexas em formulações simplistas, que não podiam ser desenvolvidas e eram incapazes de solucionar um problema difícil, costumava dizer: “Simplificou, morreu”. De fato, na simplificação, o raciocínio paralisa por inanição e morre, incapaz de prosperar. O mestre tinha razão. Mattei sabe disso também. Seu livro foi feito para nos mostrar que seu conceito de austeridade faz sentido.
A simplificação artificial explica por que a gestão da economia doméstica, por exemplo, não pode ser comparada à gestão da economia pública. Assim, o governo pode criar dívida muito facilmente; o governo pode imprimir moeda; o governo pode criar receita. Ora, a dona de casa não pode nada disso. Por que, então, apesar dessas diferenças claras, continuamos a ouvir esse discurso?
O dilema liberal que produz a ideia de austeridade
Uma resposta possível é que a ideia de austeridade está arraigada no pensamento do homem moderno, desde os primórdios das formulações sobre economia, a partir do século XVII. O arquiteto original da austeridade é John Locke (1632-1704), o pai do liberalismo e, na sua concepção fundadora, a instituição do Estado só é admitida para proteger a propriedade. Mas, mesmo apenas com esse objetivo, custa dinheiro. Se custa dinheiro, é preciso que o governo seja moderado e prudente, afirmam os fundadores da Economia.
Eis aí a origem ancestral do dilema liberal que produz a ideia de austeridade. Keynes, com sua ironia habitual, escreveu certa vez que “as ideias de economistas e de filósofos, tanto quando têm razão quanto não a tem, são mais poderosas do que normalmente se pensa.” “Na verdade”, disse ele, “o mundo é governado por homens práticos, que se creem bastante isentos de quaisquer influências intelectuais, e que são normalmente escravos de algum economista defunto.”3
Outro motivo porque continuamos a ouvir esse discurso sobre austeridade e ele tem tanta importância, refere-se ao fato de que, desde o século XVII, o Estado se agigantou formidavelmente, demandando gastos e endividamentos colossais. Um terceiro motivo diz respeito ao sucesso das grandes economias dos países desenvolvidos, que seguiram o princípio de austeridade aplicado às políticas econômicas, ao contrário do fracasso daqueles que não adotaram tais medidas.4 Mas, quanto a essa última razão, de novo, nada pode ser tão simples, pois mesmo em cada economia desenvolvida, há os que estão à margem dos benefícios daquele desenvolvimento.
Estamos falando de quantidades maiores ou menores, cada vez maiores, de marginalizados do trabalho formal, por avanços na tecnologia, e sua face oposta, o obsoletismo tecnológico, por monumentais consolidações empresariais na produção e na circulação de bens e serviços, pela globalização e suas cadeias de produção segmentadas e complementares, pela inteligência artificial e automação, pela busca de menores custos e mais eficiência nos resultados, através de inovações e realimentação das máquinas de conhecimento, consumo e constante mutação, que produzem, além de riquezas numa ponta, excluídos em série na outra.
Estaríamos caminhando para a sociedade beneficente geral, na qual um terço das populações seria simplesmente mantido por uma mesada governamental, embutida na economia dos países mantenedores?
Estaríamos caminhando para a precificação da exclusão? E no sentido de varrer essa preocupação para debaixo do tapete? E para desistir dos desfavorecidos, com bolsas disso e daquilo? Desistir da educação de qualidade para todos, com políticas de cotas? Abandonar os abandonados? Sim, estou criticando as soluções precárias. O que quero dizer é que não podemos ficar apenas na emergência. É preciso trabalhar em soluções sustentáveis e permanentes.
O atrito corrosivo que está no ar
A marcha capitalista é uma guerra em andamento contínuo e constante. A sociedade moderna se caracteriza pela mudança permanente, uma contradição em termos. “Portanto, só os ciclos são eternos”, escreveu Pepetela, o grande escritor angolano5. Como disse outro alguém, referindo-se à sociedade capitalista: um tubarão que deve nadar para não morrer por asfixia. Assim, empresas gigantes se formam, são vendidas, se fundem, e se dissolvem num piscar de olhos. Novas tecnologias surgem para serem superadas no momento seguinte.
Por ironia da história, é o capitalismo que confirma e atualiza a pregação da extinção por atrito na frase genial de Marx & Engels, escrita para o combate: “Tudo que é sólido desmancha no ar”6. Sobre os excluídos, Yuval Noah Harari7, o célebre estudioso israelense, fala do famoso gap (disparidade). De um lado os incluídos, que detêm conhecimento, habilidades tecnológicas, dinheiro e sintonia com as mudanças culturais e científicas; de outro lado os excluídos, que estão expelidos, na bolha da segregação social, marginalizados do sistema, sem meios de sair dessa situação. Harari classifica esse problema como um dos grandes desafios da Humanidade no século XXI.
Há, porém, outro tipo de segregado, atualizado com as ferramentas tecnológicas, mas estagnado no negacionismo, incapaz de superar as rupturas da modernidade e isolado, à mercê de delírios autoritários, sem capacidade e interesse em sair dessa situação. É desse último lugar que surgem as falanges do fascismo atual.
A reação intelectual ao neoliberalismo
A partir de algum momento, pelo que li, durante e após o governo Thatcher no Reino Unido e o governo Reagan, nos EUA, e depois do fracasso do experimento comunista – estamos falando da década de noventa – começaram a ressurgir os pensadores sociais, marxistas ou neomarxistas, forjados no combate ao Consenso de Washington (final dos anos 80), marco da origem do que passou a se chamar de neoliberalismo.
Encontramos, assim, o trabalho monumental de Thomas Piketty8, com seus diversos livros sobre a teoria econômica e social. Devemos mencionar, dentre muitos outros, a combatividade intelectual de Mark Blyth9, e o pensamento original da professora Wendy Brown10. São todos persuasivos e brilhantes em sua formulação de crítica ao establishment controlado pelos economistas do mainstream, sociais-democratas, liberais, ultraliberais ligados a Universidade de Chicago, leia-se Milton Friedman (1912-2006), ou ordoliberais, estes próximos da combinação estatal com o mercado, de origem alemã.
A esse combate de ideias e na trincheira da esquerda, vem juntar-se a jovem professora Clara Mattei e seu livro, cujo título tanto me intrigou por vincular de forma tão expressiva a ideia de austeridade ao fascismo. Não nos enganemos, Clara Mattei é uma pensadora com raízes no diagnóstico marxista do capital, que traz suas ideias ancoradas na luta de classes para denunciar o uso da austeridade nos últimos cem anos e o neoliberalismo mais recente para o esmagamento da força de trabalho, não com a meta de extingui-la, mas para estiolar o seu vigor representativo. Ela resume bem nestas linhas: “As três formas de políticas de austeridade – fiscal, monetária, e industrial – trabalharam em uníssono para desarmar as classes trabalhadoras e exercer a pressão sobre os salários.” Como isso foi feito? Por que esse tema continua atual?
A ordem do capital, austeridade: fascismo
Clara Mattei começa atualizando o conceito de austeridade. Diz ela que austeridade, tal como a conhecemos agora, surgiu após a Primeira Guerra Mundial como um método para evitar o colapso do capitalismo. Ou seja, economistas em posições de poder utilizaram ferramentas políticas para tornar todas as classes da sociedade mais investidas na produção capitalista privada, mesmo quando essas mudanças atingiram profundos (e involuntários) sacrifícios pessoais.
Seu livro, A ordem do capital, é dedicado da seguinte forma: “Para Gianfranco Mattei e revolucionários em todos os lugares – passado, presente e futuro”11 (Não falei para vocês no meu artigo anterior, sobre o seu livro, que ela tinha algo de Rosa Luxemburgo no olhar?). O trabalho busca sustentar que o principal objetivo da adoção da austeridade, como princípio, seria a despolitização da economia ou a reinstalação de um divisor entre política e economia, que o cenário pós-Segunda Guerra teria borrado ou dissolvido.
Essa despolitização incluiria a retirada do Estado da consecução de objetivos econômicos, revertendo o comando para forças impessoais do mercado, permitindo, segundo ela, o sufocamento de qualquer contestação da relação proprietário vs salários ou da propriedade privada. Fique claro, aqui, que a professora se refere à Itália dos anos 1920. Visto que no pós-Segunda Guerra o mundo explodiu na rebeldia: o movimento feminista, o sindicalismo revolucionário, Cuba, o rock, a geração beat, as denúncias de Nikita Khrushcove, o Gulag, a revolta nas Universidades, Maio de 1968, o movimento negro, a revolução sexual, a conquista do coração dos jovens pela revolução cultural marxista, a marcha contra a guerra do Vietnã.
Mattei engata, em seguida, escrevendo que outra medida da despolitização da economia teria sido isentar as decisões econômicas do escrutínio democrático, estabelecendo e protegendo instituições econômicas “independentes”. Finalmente, a professora dispara que a despolitização se completaria com a promoção da teoria econômica como “objetiva” e “neutra”, portanto transcendendo as relações de classe, culminando com a austeridade encontrando seus aliados na tecnocracia e na crença no poder dos economistas como guardiões de uma ciência indisputável (todas as aspas são da autora).
Aqui soa como algo que conhecemos bem e me parece de difícil contestação. A independência de nosso Banco Central, por exemplo, está na ordem do dia. Não vou entrar no erro de seu presidente em se manifestar e tomar partido nas eleições recentes. Sabe-se lá o quanto foi “cobrado” para fazê-lo e o quanto cedeu. Mas, se cedeu, abriu mão do escudo que a independência oferece. Se o fez espontaneamente enfraqueceu a ideia de independência da instituição. De qualquer modo o Banco Central tem metas preestabelecidas em lei. Gostemos ou não, a suspeita dos contribuintes é que pretender interferir na agência só poderia ser para silenciá-la ou dobrá-la à vontade do príncipe, controlando a taxa de juros politiqueiramente para obter aprovação popular imediata e efêmera. Ademais fique claro que, para eliminar a “independência” do Banco Central, não precisa mudar a legislação. Basta fritar o seu presidente todos os dias na mídia.
A pílula goela abaixo
Depois da pausa para respirar, resta saber como, segundo Mattei, a austeridade levaria ao fascismo. Em suma, observando a história pelo ângulo adotado pela professora, o olhar austero sobre o mundo social seria reflexo do suporte dado pelo pensamento econômico liberal ao regime fascista que se originou na Itália de Benito Mussolini, um egresso do partido socialista, é bom não esquecer. Ainda segundo Mattei, o sistema (establishment) liberal internacional estaria convencido, ali no pós-guerra, inicio dos anos 20, de que a ditadura de Mussolini, que assumiu o poder em 1922, seria a única solução para empurrar a pílula da austeridade goela abaixo do “turbulento” povo italiano. Portanto, o método fascista seria tolerado graças (i) à ideia de que política e economia seriam duas coisas separadas e (ii) ao trabalho nada desprezível de economistas liberais na consolidação do governo Mussolini.
Clara Mattei afirma que pode apresentar evidências empíricas dos motivos e objetivos daqueles que conceberam a austeridade como política. Ainda que a ideia de austeridade seja anterior ao advento do fascismo em mais de 200 anos, portanto não tenha sido concebida com essa finalidade.
Segundo a professora, o que teria sido mostrado na época, isto é, nos anos 1920, como agora, seria a reabilitação da acumulação do capital como um meio de alimentar as massas – mas o seu verdadeiro motivo tem sido repetidamente revelado: facilitar a permanente e estrutural extração de recursos de muitos para poucos.
Mattei finaliza a síntese escrevendo que os cem anos cobertos por sua narrativa, rastreariam como os advogados da austeridade continuariam a moldar nossa sociedade e tem, constantemente, protegido o capitalismo de ameaças democráticas em potencial. Sim, a professora extrapola a situação ocorrida na Itália no entre guerras para os dias atuais. Mas quanto ao fascismo, sua presença não está nítida nas situações das crises na Itália, Espanha, Grécia e Portugal, ocorridas nesse início de século.
Mas, afinal, o que é o Fascismo hoje?
Antes de entrarmos na demonstração da teoria da professora Clara Mattei sobre a ligação entre
austeridade e fascismo, e para evitarmos imprecisões e ambiguidades, vale a pena fazer uma rápida digressão para abordar brevemente a definição de fascismo, esta palavra tão mencionada nos anos recentes, não apenas no Brasil, mas igualmente na Europa e nos Estados Unidos, devido – em minha muito modesta opinião – à justamente aquela massiva alienação dos ressentidos, especialmente localizados dentro do que a sociologia e a ciência política chamam de pequena-burguesia, comprimida entre a massa proletária e a alta burguesia. Os excluídos por falta de interesse devem ser mais bem entendidos como autoalienados da modernidade, por insegurança e ressentimento diante das ideias progressistas, que os empurram para fora do círculo de participação. Diante da velocidade das mudanças, não conseguem mais entender o mundo.
Essa pequena-burguesia tem duas opções: (i) foge da alienação e se engaja no trabalho intelectual realimentando os grupos progressistas; ou (ii) tem suas frustrações e ressentimentos canalizados para se tornar massa de manobra e buscar objetivos fictícios (salvar o mundo do comunismo, restaurar a inquisição religiosa ou defender a família, por exemplo) a troco de satisfações simbólicas (não à toa em 8/1, no Brasil, atacaram os símbolos das instituições).
Cito: “Na base de seu [da pequeno-burguesia] comportamento político, em quase todos os países evoluídos do Ocidente, encontram-se hoje atitudes irracionais e extremistas. Essas atitudes evidenciam sua reação diante da sociedade de massas que nada mais concede ao individuo pequeno-burguês, que consequentemente encontra sua segurança e sua maneira de se impor na subversão de direita.” 12
O Dicionário de política, de Bobbio, Matteucci e Pasquino, um trabalho clássico e de indiscutível aceitação, depois de esclarecer que há várias e complexas definições de fascismo, nos diz que este é um sistema autoritário de dominação caracterizado pela monopolização da representação política por parte de um partido único de massa; por uma ideologia fundada no culto ao chefe, na exaltação da coletividade nacional; no desprezo dos valores do individualismo liberal e no ideal da colaboração de classes; pelo aniquilamento das oposições, mediante o uso da violência e do terror; por um aparelho de propaganda baseado no controle das informações e dos meios de comunicação; pela tentativa de integrar nas estruturas de controle do partido ou do Estado a totalidade das relações econômicas, sociais, políticas e culturais.
Umberto Eco (1932-2016), o genial pensador da cultura, escreveu um ensaio com uma lista de 14 características atuais do fascismo13. Diz ele que o fascismo se baseia no apelo à frustração social, na rejeição ao modernismo, no culto a tradição, na alta expectativa quanto à força do adversário, na comparação forçada entre dissidência e traição, no culto à ação pela ação, no medo da diferença, na obsessão pelo golpismo, na consideração do pacifismo como envolvimento com o inimigo, no desprezo pelo fraco, na educação para o heroísmo, no patriarcalismo bélico, um populismo seletivo e no uso de novilíngua.14
Essas indicações do que seria o fascismo atualizado, junto às referências do referido Dicionário de Política, sustentam a opinião sobre as ocorrências eventuais do fascismo no Brasil, nos anos recentes. No mais, basta conferir os vídeos das bizarras figuras manobradas que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes da República no dia 8 de janeiro de 2022, num triste espetáculo humano.
De volta à teoria Mattei
Devo confessar que, ao entrar nos capítulos das demonstrações da teoria Mattei, titubeei levemente diante da citação em epígrafe de um trecho do discurso de Francesco Saverio Nitti (1868-1953), que teria sido pronunciado na Conferência de Bruxelas (1920) e/ou de Gênova (1922).
Nesse discurso, Nitti recomenda à sociedade italiana “consumir menos e produzir mais”, expressões que Mattei grifou como se fossem um lema da austeridade imposto às massas trabalhadoras italianas. Eu posso estar errado, mas os adeptos do anticapitalismo em geral apreciariam esse slogan. Afinal, o consumismo é um dos esteios do capitalismo, conforme se lê no texto da própria Mattei: “O capitalismo está em crise quando o seu relacionamento crucial (a venda da produção para lucrar)… é contestada pelo público.”
A própria professora ressalta, no entanto, que a Itália encontrava-se destruída naquele pós-Primeira Guerra, sujeita às pressões da economia internacional e do capital estrangeiro. Assim, segundo ela, a adoção das políticas de austeridade, de certo modo, foi uma escolha soberana e que tais medidas funcionaram bem na acumulação de capital para os poucos virtuosos poupadores e empreendedores (o itálico é meu, mas a ironia é da jovem mestra). Até este ponto não vejo a austeridade pavimentando o caminho do fascismo, mas o contrário, ou seja, o fascismo abrindo passagem na marra para a austeridade na economia.
Afinal, depois da tragédia da Grande Guerra (1917), sabe-se hoje, com certeza, que havia poucas alternativas efetivas à austeridade fiscal. Isso se for excluída a geração de dívida, o aumento da tributação e a impressão de moeda, haja vista a colossal inflação na Europa, que sucedeu à Primeira Guerra e antecedeu a Segunda Guerra. Note-se que o advento de Mussolini no poder na Itália é de 1922. E o de Adolf Hitler, na liderança do Partido Nacional-Socialista alemão, é de 1921. O ovo da serpente está bem situado nos anos 20, portanto. Ambos ascenderam ao poder no bojo da crise inflacionária, que suponho não tenha sido causada por políticas de austeridade.
Francesco Nitti (que chegou a fazer parte do partido Esquerda Independente) e Luigi Einaudi (1864-1971), que presidiu a Itália entre 1948 e 1955 – ambos citados por Mattei – foram notórios antifascistas, que ostensivamente desprezavam tanto Mussolini quanto os bolcheviques. Posso estar enganado, mas achei um tanto equivocado misturar Nitti e Einaudi, com as figuras de Maffeo Pantaleoni (1857-1924), um adepto do fascismo, e Vilfredo Pareto (1848-1923), o famoso polímata, cujas motivações e ligações com o fascismo são bastante controversas, e, ainda Umberto Ricci (1879-1946), cujo mentor era adepto do fascismo. Ricci, todavia, exilou-se na Universidade do Egito durante os anos Mussolini, ainda que tenha produzido escritos defendendo as medidas liberais na área econômica.
Há, sim, um traço em comum entre esses intelectuais na área econômica. Eram, em maior ou menor grau, liberais e sintonizados com o pensamento tradicional do liberalismo inglês, que cultivou – e cultiva – a austeridade como princípio moral aplicável à economia, sem que isso represente necessariamente qualquer inclinação manifesta pelo fascismo, cujas características afrontam o liberalismo. Todavia, Mattei flagrou a diplomacia e a imprensa britânicas dando vivas a Mussolini por ele ter liberado o fluxo de pagamentos aos credores, aplicado a força para impor medidas de austeridade e equilíbrio fiscal, e protegido os investimentos estrangeiros, assegurando novos aportes no país. Mas, vejam, foi preciso primeiro o fascismo chegar e abrir as portas para dona austeridade passar.
Porém, essa inversão não altera os gravames sobre a austeridade segundo a ótica adotada no A ordem do capital. E quem sou eu para duvidar das conclusões da extensa pesquisa que a professora Clara Mattei realizou, entre 2015 e 2017, no Instituto de Economia da Escola Superior Sant’Anna, em Pisa, Itália, cujo título diz tudo, ou quase tudo: “Austerity and Repressive Politics: Italian Economists in the Early Years of the Fascist Government”?15
Um desses economistas liberais que certamente colaborou com Mussolini foi Alberto de Stefani (1879-1969), um neoliberal avant-la-lettre, sucedido por Giuseppe Volpi (1877-1947), um empresário, Antonio Mosconi (1866-1955), advogado, e Guido Jung, financista, de família judia; todos certamente liberais na economia, e fascistas na política, portanto. A bem da verdade, Jung fazia uma distinção marcante entre o Nazismo e o Fascismo. Presumo que com o propósito de colocar-se separado na questão judaica. Parece que estou vendo a triste figura do ministro Paulo Guedes, um suposto liberal, na mimese do seu chefe, falando palavrões e dizendo barbaridades na célebre reunião do ministério do ex-presidente Bolsonaro, em abril de 2021, que mais parecia uma célula subversiva. A minha esperança é que ele tenha vergonha e, em frente ao espelho, se arrependa daquelas cenas. Pelo menos.
A referida pesquisa de Mattei é que oferece sustentação para o ataque aos economistas liberais italianos. Mas o liberalismo está sob ataque, tanto da esquerda quanto da direita, há quase 200 anos. A tolerância política, um esteio do liberalismo – especialmente a liberdade de pensamento e opinião – é usada na era digital pelos extremistas para ferir de morte, pelo abuso, justamente o direito individual. A sociedade atual se vê forçada, como autodefesa, a restringir a capacidade de influência das fake news e seu potencial de manobra e de recrutamento dos subversivos de direita, para usar a expressão do dicionário de Norberto Bobbio. A questão que se impõe, no momento, é estabelecer limites e o controle de quem controla o pensamento e a expressão alheia. Esse dilema mostra, por si só, a regressão do direito individual, quase sempre desconsiderado pelos coletivistas.
No caso da economia, parece mesmo sempre haver uma cisão dos técnicos contra os políticos; dos neutros contra os demagogos; dos sábios contra os ignorantes; dos puros contra os fisiológicos.
A virtude estaria no campo da economia, o vício no campo de política, que resiste a ser moldada, sempre vulnerável ao clientelismo, ao fisiologismo, ao patrimonialismo, e disposta a se vender no orçamento secreto, no mensalão ou nas intermináveis rachadinhas. O desprezo pela política abre as portas para o militarismo, tido como honesto, incorruptível, dedicado a servir desinteressadamente ao país etc. No círculo vicioso, se eu entendi bem a professora, depois dos militares, viriam os economistas de plantão para fazer valer as políticas de austeridade. Notem, por favor, a força sempre precede o remédio e não o contrário.
Clara Mattei, todavia, parece ter razão quando afirma que esta clivagem entre economia e política favorece o autoritarismo. Sabemos que defender a política nesses tempos de perfis tão toscos e corruptos no Congresso é tarefa difícil. Mas a democracia demanda que essa luta se imponha. Haverá de ter uma maioria – ou mesmo uma minoria mais atuante – interessada em expressar o desejo legítimo dos eleitores em receber os serviços do Estado na saúde e educação de qualidade, infraestrutura sólida, cidadania digna, trabalho, remuneração e aposentadoria justa; em fazer valer uma reforma tributária a altura desse nome, com taxação progressiva, fique claro. A economia enfraquecida destrói os empregos e a renda, e desmobiliza os sindicatos. O emprego vira mercadoria rara. Ao contrário, a economia forte aumenta a procura da mão de obra, incrementa o poder dos sindicatos para a negociação coletiva e para a participação dos trabalhadores no lucro das empresas.
Como a austeridade conduz ao fascismo?
Talvez seja óbvio, mas não encontrei a resposta a essa questão, pelo menos de modo expresso, no trabalho da professora Mattei. Seria por dedução? Seria pela mera associação entre as medidas econômicas liberais, dentre elas o princípio de austeridade aplicado à economia, e o regime de força do fascismo? A professora debruçou-se no exame do caso específico da Itália, onde o fascismo surgiu como ideologia e prática do regime Mussolini, e estenderia suas conclusões como uma regra?
Se for assim, devemos ponderar em primeiro lugar que, como já assinalei, o regime fascista é que, historicamente, abriu caminho para a introdução das práticas de austeridade na economia italiana. Segundo, o fenômeno não se repetiu, pelo menos da mesma forma, em outros países e em outras épocas. Ou seja, o regime fascista à Mussolini não foi usado para impor medidas austeras na economia em outros países no pós-Segunda Guerra, salvo registros nas ditaduras sul-americanas, ibéricas e na ditadura grega dos anos 1970.
Mas, sim, foi adotado, inclusive com a aprovação de parlamentares, por pressão de credores ou por ajustes internos e soberanos ou por consenso como solução para o endividamento das nações e recuperação de seu equilíbrio fiscal, em tempos de crise. Sim, para proteção do capital investido no país, como notaram todos os professores críticos do neoliberalismo. Faltaria, talvez, nesse aspecto, uma abordagem sobre a questão da dívida. Esse tema foi dissecado à exaustão no monumental Dívida16, de David Graeber, antropólogo norte-americano, professor na London School of Economics. No livro, Graeber examina a história da dívida e do crédito, além da história do dinheiro. E, mais uma vez, temos a dívida como uma questão – exatamente como no caso da austeridade – transitando da esfera Moral para a esfera do Direito e tornando-se jurídico-obrigacional, inicialmente apenas via contrato.
A professora também tem razão ao afirmar que Mussolini, e seus economistas – especialmente Alberto de Stefani – implantaram com êxito as regras de austeridade que o parlamento italiano recusava-se anteriormente a adotar. Esse ponto está muito bem documentado no seu livro, que inclui o jornalismo e a correspondência diplomática britânica. Podemos deduzir que, a despeito dos meios, o “sucesso” na aplicação da austeridade trouxe a recuperação econômica da Itália e, com ela, o enorme apoio das massas proletárias e da pequeno-burguesia ao regime? Essa popularidade deu impulso ao populismo fascista que, entre muitos fatores, inclusive geopolíticos, conduziu o mundo à Segunda Guerra.
Além dos atos documentados, a arte corrobora a afirmação de Mattei sobre o empenho das classes conservadoras em separar a economia da política e com isso afastar os eleitores das questões econômicas, reservando-as aos “esclarecidos”. Refiro-me àquele filme maravilhoso sobre o período entre guerras, Vestígios do Dia (1993), de James Ivory, baseado no livro do Nobel nipo-britânico Kazuo Ishiguro. Há uma cena que se passa nos meados dos anos 1930, com a elite inglesa simpática ao nazifascismo. Durante o jantar os elegantes convivas germanófilos, para demonstrar que o povo não entende nada – logo não deve ser consultado – convidam o mordomo (Antony Hopkins) que está no serviço de atendê-los, a responder a algumas perguntas sobre política externa, finanças e economia.
O serviçal prontifica-se, mas pede desculpas humildemente e não consegue sequer balbuciar respostas a nenhuma das questões. Um dos aristocratas finaliza: “Vejam cavalheiros, o homem não consegue responder a essas questões. Mas, ainda assim, o Império Britânico insiste com a noção de que as decisões da nação fiquem nas mãos do nosso bom homem e de milhões como ele.” Cai o pano.
Ademais Mattei mostrou, de forma eloquente, que economia é um tema político muito grave. E é um perigo separá-la da política para deixá-la nas mãos exclusivas dos economistas. Há advogados que redigem, na calada da noite, decretos para um golpe contra o estado de direito. Há médicos que receitam cloroquina e ivermectina e que pregam a imunidade de rebanho contra um vírus letal. E há liberais que não têm pudor em admitir e em se adaptar ao fascismo. Os últimos anos têm sido pródigos nesses exemplos.
Como leitor, faço poucas ressalvas ao trabalho de Clara Mattei, pontuais e relativas a algumas premissas que aparecem aqui e ali e que me parecem dogmáticas e, como tal, ultrapassadas. Por exemplo, referir-se à força do trabalho como motor do capitalismo17 como se estivesse no século XIV. A relação entre o capital e o trabalho adquiriu tantas modalidades complexas e variáveis sofisticadas, inclusive com a inserção de tecnologia e mercado de capitais, que a frase fica reduzida a um slogan nostálgico.
No mais, o livro de Clara Mattei tem o encanto radical das melhores produções intelectuais e é impregnado da paixão pelo estudo candente que realizou. As notas e referências tomam mais de um quarto da obra muito bem fundamentada. Isso explica, por si só, o brilho nos seus olhos quando fala do seu livro fascinante. Eu tinha razão quando me enchi de entusiasmo para devorá-lo.