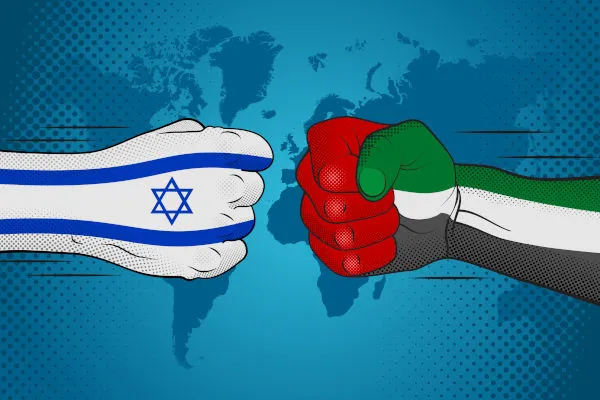Luiz Gonzaga de Mello Belluzo – A Terra é Redonda – 20/09/2023
Vou perpetrar a ousadia de rabiscar algumas ideias a respeito do livro de Lucas Crivelenti e Castro Novíssima dependência: a subordinação brasileira ao imperialismo no contexto do capitalismo financeirizado.
Peço vênia, diria um jurista de escola, para começar com a globalização, um conceito demasiado impreciso, enganoso e carregado de contrabandos ideológicos. Entre os contrabandos mais notórios, inscreve-se a tentativa de excluir as relações de poder entre os Estados nacionais, ou seja, abolir as relações entre os Impérios e seus súditos.
Ainda assim, se pretendemos avançar na análise e compreensão dos processos de transformação que sacodem a economia e a sociedade contemporâneas, estamos condenados a empreender a crítica ao conceito de globalização.
São muitos os que defendem, desde uma posição supostamente “científica”, o caráter benigno do chamado processo de globalização. Dois pressupostos estão implícitos nesta formulação: (i) a globalização conduzirá à homogeneização das economias nacionais e à convergência para o modelo liberal de mercado; (ii) esse processo ocorre acima da capacidade de reação das políticas decididas no âmbito dos Estados nacionais.
As receitas liberal-conservadoras, em voga, recomendam para os países emergentes, popularescas deduções, em linha direta, dos modelos abstratos da teoria neoclássica. Senão vejamos: a ampla abertura comercial está apoiada na vetusta teoria das vantagens comparativas, sem as tímidas modificações da “nova teoria do comércio”; as privatizações e o não intervencionismo do Estado emanam de uma modelo competitivo de equilíbrio geral; a liberalização financeira decorre da hipótese dos mercados eficientes.
Quando falamos em etapa financeira do capitalismo, em capitalismo financeiro, frequentemente não nos damos conta do significado que essa palavra tem. Karl Marx tratou a forma financeira como a mais desenvolvida do capital. “Mais desenvolvida” na concepção marxista diz respeito à realização do conceito de capital enquanto processo de acumulação de riqueza, monetária, abstrata. A economia do capital é um regime cujo objetivo não é a produção de mercadorias, nem mesmo a submissão do trabalho, ainda que em sua metamorfose – Dinheiro-Mercadoria-Dinheiro – o capital seja obrigado a passar necessariamente por tais agruras.
Karl Marx trabalha com a simultaneidade de dois movimentos: o da reiteração dos mecanismos
básicos de reprodução econômica e social do capitalismo e a transformação, a mudança, conduzida pelo incessante impulso à superação destes limites. É essa a história do capitalismo.
Autoidentidade e diferença, no sentido de que os mecanismos de controle despótico impostos pela máquina capitalista continuam a operar sempre, enfrentando os métodos de resistência e as alternativas criadas pelas classes trabalhadoras na luta de classes. Vamos repetir: o regime do capital tem uma única finalidade: acumulação de riqueza abstrata, encarnada no dinheiro. Por isso, no capitalismo qualquer ato só adquire significado econômico quando começa e termina com o dinheiro.
A financeirização não é, portanto, uma deformação do capitalismo, mas um “aperfeiçoamento” de
sua natureza. Aperfeiçoamento que exaspera o seu movimento contraditório: na incessante busca da “perfeição”, ou seja, a acumulação de dinheiro a partir do dinheiro – sem a mediação da exploração do trabalho – o regime do capital é obrigado a desvalorizar a força de trabalho e a expandir o capital fixo para além dos limites permitidos pelas relações de produção, o que engendra as crises periódicas de realização e de superacumulação.
No capitalismo, a finança é a instância de controle e dominação. É através da forma financeira
que se realiza a chamada alocação de recursos, processo encarado pela economia neoclássica como a grande proeza dos mercados competitivos. Na visão marxista, a concorrência capitalista se realiza no âmbito dos mercados financeiros que promovem, de fato, a distribuição de recursos mediante o “descongelamento” do capital imobilizado nas diversas esferas de produção, em busca das melhores oportunidades e das aplicações mais rentáveis.
A respeito do tema alocação de recursos, vou me permitir a reprodução de um trecho do livro Dinheiro: o poder da abstração real, escrito em parceria com Gabriel Galípolo: “Sob os auspícios do capital financeiro e de um sistema monetário internacional assimétrico, ocorreu a brutal centralização do controle das decisões de produção, localização espacial e utilização dos lucros em um núcleo reduzido de grandes corporações e instituições financeiras à escala mundial. A centralização do controle impulsionou e foi impulsionada pela fragmentação espacial da produção”.
A centralização do comando no capital financeiro alterou profundamente a estratégia da grande empresa produtiva. Os lucros acumulados são primordialmente destinados às operações de tesouraria. Já os novos empréstimos financiam a recompra das próprias ações para garantir “valorização” da empresa. Dados do Federal Reserve (FED) revelam que, no período 2003-2008, o volume de crédito destinado a financiar posições em ativos já existentes foi quatro vezes maior do que os créditos destinados à criação de emprego e renda no setor produtivo.
Na posteridade da crise de 2008, a reiteração da dominância da forma financeira da riqueza e dos rendimentos das empresas e das famílias endinheiradas está ancorada “em derradeira instância” no inchaço das dívidas públicas nacionais.
Vamos repetir uma banalidade: a dívida pública é riqueza privada. Para a compreensão do enriquecimento e reprodução das desigualdades é necessário avaliar o papel do endividamento público no ciclo atual de “inflação de ativos”. Os “mercados” sustentam uma nova escalada de preços nas bolsas de valores, escorados nas operações do FED com títulos públicos destinadas a regular a liquidez e manter reduzidas as taxas longas. Os títulos do governo americano constituem, portanto, o lastro de última instância, fiador das políticas monetárias de “facilitação quantitativa” e de suas consequências para a deformação da riqueza e ampliação das desigualdades.
O capitalismo global assumiu a sua forma mais avançada como economia monetária, cujos agentes
detentores dos poderes de criação da riqueza social são tangidos pelo império da acumulação de riqueza abstrata. Isso não depende da maldade ou bondade desses agentes, senão de forças sistêmicas que lhes impõem a necessidade de desejar sempre mais para sobreviver em sua natureza capitalista. Esse comportamento impulsiona a dinâmica sistêmica e, ao mesmo, é reforçado por ela. É necessário sublinhar a palavra forma porque a compreensão da dinâmica capitalista como movimento das formas transformadas permite conferir significado preciso à palavra contradição. Contradição como negação da negação no movimento de construção de novas positividades, logo adiante negadas.
É sob esse critério que devemos observar a concomitância entre o avanço tecnológico, pífia evolução na produtividade trabalho, dissolução das relações salariais, queda nos rendimentos médios dos trabalhadores, encolhimento da massa de salários, empregos precários, redução nas taxas de investimento, crescimento explosivo do endividamento privado e público, a valorização incessante dos ativos financeiros e, finalmente, o rápido agravamento das condições ambientais.
Estas transformações nos mercados financeiros ocorridas nas últimas duas décadas estão submetendo, de fato, as políticas macroeconômicas nacionais à tirania de expectativas volúveis.
Não foram poucos os ataques especulativos contra paridades cambiais, os episódios de deflação brusca de preços de ativos reais e financeiros, bem como as situações de periclitação dos sistemas bancários. É desnecessário reafirmar que estes episódios são o resultado inevitável, na maior parte dos casos, do livre movimento do floating capital.
Essas situações têm sido contornadas pela ação de última instância de governos e bancos centrais da tríade (Estados Unidos, Alemanha e Japão). Apesar disso, não raro, até mesmo países sem tradição inflacionária foram submetidos a crises cambiais e financeiras, cuja saída exigiu sacrifícios em termos de bem-estar da população e renúncia de soberania na condução de suas políticas econômicas.
A inserção dos países neste processo de globalização foi hierarquizada e assimétrica. Os Estados Unidos usufruindo de seu poder militar e financeiro dão-se ao luxo de impor a dominância de sua moeda, ao mesmo tempo em que mantêm um déficit elevado e persistente em conta corrente e uma posição devedora externa. Isto significa que o os mercados financeiros parecem dispostos a aceitar, pelo menos por enquanto, que os Estados Unidos exerçam, dentro de limites elásticos, o privilégio da “segniorage”.
Esta polarização da confiança se traduz em limitações à autonomia das políticas nacionais de outros países. A intensidade da restrição depende da forma e do grau da articulação das economias nacionais com os mercados financeiros sujeitos à instabilidade das expectativas. Japão e Alemanha, por exemplo, são superavitários e credores e por isso têm mais liberdade para praticar expansionismo fiscal e juros baixos, ou tolerar amplas flutuações no valor de suas moedas, sem atrair a desconfiança dos especuladores.
Países, com passado monetário turbulento, precisam pagar elevados prêmios de risco para refinanciar seus déficits em conta corrente. Isto representa um sério constrangimento ao raio de manobra da política monetária, além de acuar a política fiscal pelo crescimento dos encargos financeiros nos orçamentos públicos.
O “capital vagabundo” conta, nos Estados Unidos, com um mercado amplo e profundo, onde imagina poder descansar das aventuras em praças exóticas. A existência de um volume respeitável de papéis do governo americano, reputados por seu baixo risco e excelente liquidez, tem permitido que a reversão dos episódios especulativos, com ações, imóveis ou ativos estrangeiros, seja amortecida por um movimento compensatório no preço dos títulos públicos americanos.
Os títulos da dívida pública americana são vistos, portanto, como um refúgio seguro nos momentos em que a confiança dos investidores globais é abalada. Isto significa que o fortalecimento da função de reserva universal de valor, exercida pelo dólar, decorre fundamentalmente das características já aludidas de seu mercado financeiro e do papel crucial desempenhado pelo Estado americano como prestamista e devedor de última instância.
É por isso que as oscilações das taxas de juros de longo prazo, que exprimem as variações de preços dos títulos de 10 anos do Tesouro americano, são hoje, no mundo das finanças desregulamentadas e securitizadas, o indicador mais importante do estado de espírito dos mercados globalizados. Seus movimentos refletem as antecipações dos administradores das grandes massas de capital financeiro a respeito da evolução do valor de suas carteiras, que tomam as variações de preços dos títulos do Tesouro como base para fazer antecipações sobre evolução provável dos preços e da liquidez dos diferentes ativos, denominados em moedas distintas.
Os novos mercados têm a obsessão da liquidez, como diz o professor Michel Aglietta. Essa obsessão, aliás, é a decorrência natural e inevitável de mercados cuja operação depende de conjeturas a respeito da evolução do preço dos ativos. Apesar de todas as técnicas de cobertura e distribuição de riscos entre os agentes, ou até por causa delas, estes mercados desenvolveram uma enorme aversão à iliquidez e aos compromissos de longo prazo.
Além disso, e muito importante: aumentou significativamente a sensibilidade dos novos mercados financeiros a elevações imaginadas das taxas de inflação. Ainda que a mudança prevista no patamar inflacionário possa ser julgada desprezível – se avaliada pelos critérios das décadas anteriores – a reação dos mercados tende a ser muito elástica às antecipações pessimistas.
Por isso, é de pouca sabedoria dizer, como o fez o relatório do BIS, que os níveis atuais de inflação (ou de deflação rastejante) são razoáveis e que os governos deveriam tratar do crescimento. Cabe perguntar: são razoáveis para quem? As opiniões dominantes são, nesta etapa do capitalismo, aquelas que se aferram à defesa do valor real da riqueza já existente, ou da “riqueza velha”, em detrimento do espírito empreendedor que busca a criação de nova riqueza.
Vivemos num mundo em que predomina o “ethos” do rentismo e prevalecem as taxas de juros reais elevadas.
A sensibilidade à inflação e a aversão à iliquidez, que se exprimem através das reações das taxas longas, funcionam como freios automáticos, cuja função é conter o crescimento da economia real, antes que ele se revele “inconveniente” para os detentores de riqueza financeira.
Estas peculiaridades da finança contemporânea, fundada na preeminência de mercados amplos e profundos para a negociação de papéis e seus derivativos, têm suscitado uma variedade muito grande de interpretações. O crescimento espetacular da riqueza financeira (em relação a outras formas de acumulação da grande empresa e das famílias de alta renda) e o desenvolvimento correspondente de mercados sofisticados e abrangentes, destinados à avaliação diária desta massa de riqueza mobiliária, estão afetando de forma importante o comportamento do investimento, do consumo e também do gasto público.
Independentemente das boas intenções ou de reformas virtuosas buscadas pelos governos, a lógica
da valorização patrimonial vai se apoderando de todas as esferas da economia, impondo os seus critérios como os únicos aceitáveis em qualquer decisão relativa à posse da riqueza. Não se trata apenas de que o cálculo do valor presente do investimento produtivo seja afetado pelo estado de preferência pela liquidez nos mercados financeiros (um velho, mas pouco compreendido problema keynesiano), mas sim que a acumulação produtiva vem sendo “financeirizada” como, aliás, o professor José Carlos Braga vem tentando explicar em seus trabalhos pioneiros.
A generalização e intensificação da concorrência, protagonizadas pela grande empresa, que opera em múltiplos setores e em muitos mercados só pode ser compreendida corretamente à luz destas transformações financeiras.
As questões relativas às estratégias de localização da corporação transnacional moderna ou de suas mutações morfológicas (constituição de empresas-rede, com concentração das funções de decisão e de inovação e dispersão das operações comerciais e industriais) devem ser avaliadas a partir desta perspectiva. O fenômeno se apresenta, prima facie, sob a forma de “contestação” das estruturas oligopolistas “estabilizadas” que regulavam a concorrência no período anterior.
Analisada com mais profundidade, essa generalização da concorrência explicita uma nova etapa de reconcentração e recentralização dos blocos de capital, sob a égide e a disciplina do capital financeiro.
A economia mundial está atravessando um momento de intensificação da rivalidade intercapitalista (o que não exclui acordos e coalizões, mas os supõe) e, neste clima, nenhum protagonista é capaz de garantir a posição conquistada. Por isso, todos se sentem compelidos a ganhar a dianteira.
Para escândalo dos liberais, a grande empresa que se lança a incertezas da concorrência global necessita cada vez mais do apoio dos Estados Nacionais dos países de origem. O Estado está cada vez mais envolvido na sustentação das condições requeridas para o bom desempenho das suas empresas na arena da concorrência generalizada e universal. Elas dependem do apoio e da influência política de seus Estados Nacionais para penetrar em terceiros mercados (acordos de garantia de investimentos, patentes etc.), não podem prescindir do financiamento público para suas exportações nos setores mais dinâmicos e seriam deslocadas pela concorrência sem o benefício dos sistemas nacionais de ciência e tecnologia.
Ao invés da vitória dos mercados, em que prevalece o automatismo da concorrência perfeita, estamos assistindo à reiteração da “politização” da economia. As transformações em curso não se propõem a reduzir o papel do Estado, nem enxugá-lo, mas almejam aumentar sua eficiência na criação de “externalidades” positivas para a grande empresa envolvida na competição generalizada. A disparidade de situações e de projetos nacionais e regionais, entre os países desenvolvidos e entre estes e os países em desenvolvimento, vem aumentando nos últimos anos.
O relatório da UNCTAD Trade and Development Report de 2003 traz o subtítulo “Acumulação de capital, crescimento e mudança estrutural”. Trata-se de um estudo histórico-comparativo sobre o desempenho dos países em desenvolvimento ao longo do movimento de transformação da economia global nas décadas dos 1980 e 1990.
(i) os de industrialização madura como a Coréia e Taiwan que já atingiram um grau elevado de industrialização, produtividade e renda per capita, mas apresentam uma taxa declinante de crescimento industrial; (ii) os de industrialização rápida, como a China e talvez a Índia que – mediante políticas que favorecem elevadas taxas de investimento doméstico e graduação tecnológica – apresentam uma crescente participação das manufaturas no produto, emprego e exportações; (iii) os de industrialização de enclave, como o México que, a despeito de aumentar sua participação na exportação de manufaturados têm desempenho pobre em termos de investimento, valor agregado manufatureiro e produtividade totais; e (iv) finalmente, os países em vias de desindustrialização, que inclui a maioria dos países da América Latina.
A tipologia desenhada pela UNCTAD é o ponto de chegada do jogo complexo. Em todas as etapas de expansão do capitalismo este jogo envolve as transformações financeiras, tecnológicas, patrimoniais e espaciais que decorrem da interação de dois movimentos: (a) o processo de concorrência movido pela grande empresa, sob a tutela das instituições nucleares de “governança” do sistema: a finança e o Estado hegemônico; e (b) as estratégias nacionais de “inserção” das regiões periféricas. As transformações que hoje observamos são impulsionadas pelo jogo estratégico entre o “polo dominante” – no caso a economia americana, sua capacidade tecnológica, a liquidez e profundidade de seu mercado financeiro, o poder de seignorage de sua moeda – e a capacidade de “resposta” dos países em desenvolvimento às alterações no ambiente internacional.
É desnecessário dizer que as economias periféricas dispõem de estruturas e trajetórias sociais, econômicas e políticas muito dessemelhantes, o que dificulta para umas e facilita para outras a chamada “integração competitiva” nas diversas etapas de evolução do capitalismo. Assim, por exemplo, o sucesso do Brasil, até o início dos anos 1980, desencadeou a crise que iria provocar o seu reiterado “fracasso” na tentativa de se ajustar às novas condições internacionais. No polo oposto, o fracasso chinês até os anos 1980 propiciou condições iniciais mais favoráveis para o sucesso das reformas empreendidas a partir de então.
A década de 1970 é o momento da aproximação China-EUA, promovida por Nixon e Kissinger. De uma perspectiva geopolítica e geoeconômica, a inclusão da China no âmbito dos interesses americanos é o ponto de partida para a ampliação das fronteiras do capitalismo, movimento que iria culminar no conflito entre o protecionismo do republicano (liberal?) Donald Trump e o “livre-comércio” do
comunista Xi-Jinping. Ironias da história: uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa.
Essa “desarticulação” (ou rearticulação?) econômica descortinou uma nova fase, marcada por conflitos e contradições entre o modo de funcionamento dos mercados globalizados e os espaços jurídico-políticos nacionais.
A partir dos anos 1980, a liberalização das contas de capital, a desregulamentação financeira e comercial, revigorou a vocação universalista das empresas americanas. No afã de reduzir os custos salariais e escapar do dólar valorizado, o deslocamento “competitivo” da produção manufatureira americana buscou as regiões em que prevaleciam baixos salários, câmbio desvalorizado e perspectivas de crescimento acelerado.
Isso promoveu a “arbitragem” com os custos salariais à escala mundial, estimulou a flexibilização das relações de trabalho nos países desenvolvidos e subordinou a renda das famílias ao aumento das horas trabalhadas. O desemprego aberto e disfarçado, a precarização e a concentração de renda cresceram no mundo abastado.
No outro lado do mesmo processo, as lideranças chinesas valeram-se da
“abertura” da economia ao investimento estrangeiro ávido em aproveitar a oferta abundante de mão de obra. Apostaram na combinação favorável entre câmbio real competitivo, juros baixos para empreender estratégias nacionais de investimento em infraestrutura, absorção de tecnologia com excepcionais ganhos de escala e de escopo, adensamento das cadeias industriais e crescimento das exportações.
À sombra da aproximação com os Estados Unidos e outros países ocidentais, Deng Xiaoping entrosou as reformas domésticas com a abertura ao investimento estrangeiro. Nesse momento, a força do dólar e as condições oferecidas pelo mercado financeiro dos EUA favoreceram a migração das empresas de Tio Sam para fruir as vantagens do novo espaço de expansão.
Em simultâneo à abertura controlada, “o mercado passou a ser instrumento de governo para revigorar sua base material”. A reinauguração do mercado na China inicia-se com a permissão aos camponeses ao comércio de seus excedentes de produção, fato que pode ser comparado com o destampamento de uma panela de pressão que foi a base do desenvolvimento da sociedade chinesa por cerca de três mil anos e que fora temporariamente proibido. O resultado foi o aumento da produtividade agrícola e a “fabricação de fabricantes” em massa. Atualmente, 80% dos empresários de Shenzhen eram camponeses médios em 1978.
A formulação estratégica do Partido Comunista da China está ancorada em um sistema de consultas da base para a cúpula e vice-versa, sistema que obedece a uma sequência de instâncias de avaliação e decisão. Uma vez tomada a decisão, as burocracias de Estado, os gestores das empresas estatais, os governos provinciais, o People’s Bank of China, todos cuidam de implementar as diretrizes.
Durante a primeira década do novo milênio, a taxa de crescimento média anual da economia chinesa foi de 10,5%, contra 1,7% dos EUA e 0,9% da Alemanha. No fim da década, a China respondia por 42% da produção mundial de televisores em cores, 67% dos produtos de vídeo, 53% dos telefones móveis, 97% dos PCs e 62% das câmeras digitais.
O livro China versus The West, de Ivan Tselichtchev, dá a dimensão da transformação ocorrida. Nos anos 1980, a economia chinesa detinha o mesmo 1% do Brasil de participação no comércio mundial, em 2010 sua participação saltou para 10,4%, contra 8,4% dos EUA e 8,3% da Alemanha.
A escalada chinesa avançou amparada na relação favorável câmbio/salários, nos crescentes ganhos de escala e no rápido desenvolvimento tecnológico. A China enfrentou os desafios da globalização com concepções e objetivos que desmentem a propalada perda de importância das políticas nacionais e intencionais de industrialização e desenvolvimento.
A estratégia chinesa promoveu, com sucesso, a atração do investimento direto estrangeiro em parceria com as empresas locais, privadas e públicas. A determinação da taxa de câmbio escapou aos humores dos mercados financeiros. Foi utilizada como instrumento de competitividade e de atração do investimento forâneo.
Em 2013, o presidente Xi Jinping lançou o projeto “Nova Rota da Seda”, um programa de longo prazo para promover investimentos e conexões com todas as regiões do mundo. Esse projeto revela que, em poucas décadas, a China virou o jogo. Antes da Rota da Seda, o Império do Meio havia transitado de receptor de capitais para grande promotor de investimentos no exterior.
Em discurso de abertura no 19º Congresso do Partido Comunista da China, Jinping discorreu a respeito da economia com características chinesas. O presidente anunciou políticas de “ampliação do papel do mercado e de reforço às empresas estatais”. Ao avaliar as palavras de Jinping em sua edição de 22 de julho de 2017, a revista The Economist publicou um artigo com o título “Seleção Antinatural”. A revista imagina que a “seleção natural” é promovida pela livre concorrência, processo que sobrevive apenas nos livros-textos de introdução à economia. O capitalismo aboliu-o há tempos. Inspirada nesse anacronismo, The Economist lamentou o programa chinês de fusões das empresas estatais (Soes): “A agência do governo organizou a fusão de portos, ferrovias, produtores de equipamentos e empresas de navegação… Essas ações parecem destinadas a promover campeões nacionais”.
O governo chinês encaminhou uma dura reforma de suas empresas estatais nos últimos anos da década de 1990. Preparar sua economia ao cumprimento das normas de admissão à Organização Mundial do Comércio, ocorrida em 2001, demandou conceber um tipo de empresa com forte tendência à conglomeração, métodos de administração ultramodernos, comercialmente agressivas e com função de núcleo duro do desenvolvimento de um Sistema Nacional de Inovação.
*Luiz Gonzaga Belluzzo, economista, é Professor Emérito da Unicamp. Autor entre outros livros, de O tempo de Keynes nos tempos do capitalismo (Contracorrente).