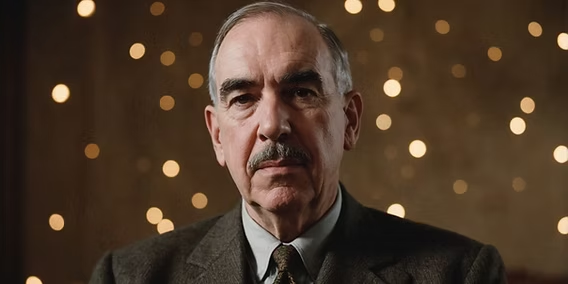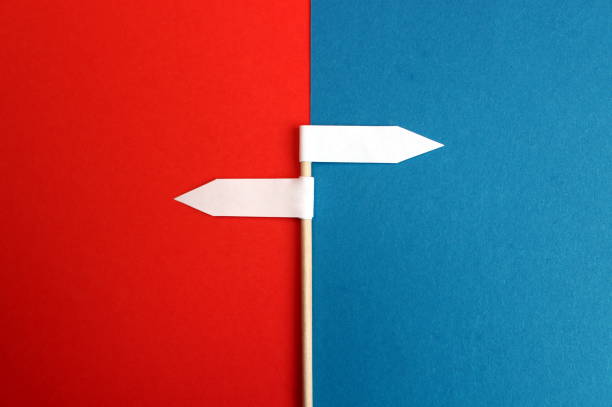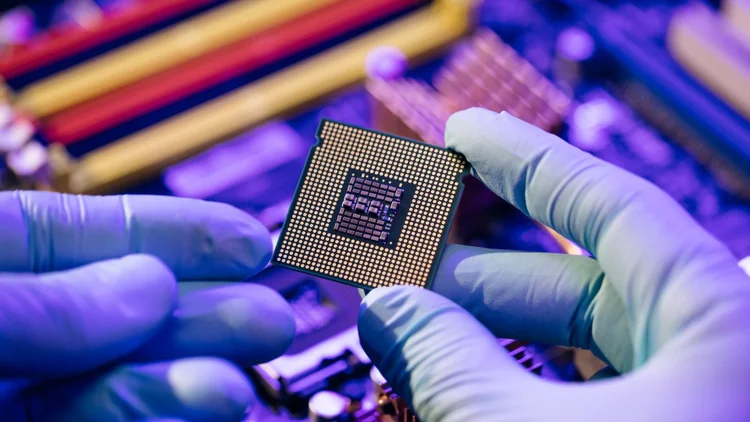Francesa Esther Duflo diz que alguns bilionários já concordam com a taxação de 2% de sua riqueza para proteger os mais pobres das mudanças climáticas
Folha de São Paulo, 21/04/2025
A francesa Esther Duflo, uma das únicas três mulheres a receber o Nobel de Economia, diz estar em um relacionamento de longo prazo com o Brasil.
“Estou em contato bastante próximo com o ministro da Economia, Fernando Haddad, assim como com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E é sempre um grande prazer interagir com eles”, disse ela à Folha durante visita a São Paulo, na última semana.
Duflo esteve no Brasil para anunciar a inclusão do Insper na Adept, uma aliança internacional para formação em análise de dados, avaliações e políticas públicas sediada no J-PAL (Laboratório de Ação contra Abdul Latif Jameel), o centro de pesquisas cofundado por ela e sediado no MIT (Massachusetts Institute of Technology), nos EUA.
A economista apoiou a proposta feita pelo Brasil na presidência rotativa do G 20 de criação de um imposto global de 2% sobre a riqueza dos bilionários do mundo para financiar adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas sobre as populações mais pobres do planeta. “Os países pobres contribuem nada ou muito pouco para as mudanças climáticas, mas experimentam a maior parte dos seus danos”, avalia.
“Alguns ultrarricos já concordam que podem abrir mão de 2% de sua riqueza todos os anos”, afirma Duflo. “Provavelmente, eles mal sentiriam falta desses recursos em suas vidas, mas isso faria uma enorme diferença para o mundo que eles também habitam.”
Segundo a economista, taxar ultrarricos para distribuir entre os mais pobres é uma medida popular. A Nobel de Economia afirma que a implementação deste tipo de imposto parece difícil “porque as pessoas ricas têm muito poder político”. Mas, diz, “elas também precisam de um planeta habitável”.
No Brasil, proposta enviada ao Congresso pelo ministro Haddad para a criação de um imposto mínimo de 10% para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês tem apoio de 76% dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta semana.
Em entrevista à Folha, Duflo explicou porque escolheu trabalhar com o combate à pobreza, como a desigualdade se relaciona às mudanças climáticas e por que há poucas mulheres laureadas com o Nobel de Economia.
Por que a pobreza não é um problema apenas dos pobres?
Em primeiro lugar, porque compartilhamos a condição humana, os valores do humanismo e a solidariedade, o que significa que precisamos nos preocupar com a situação daqueles que mais sofrem com a pobreza, com a guerra e outras coisas. Em segundo lugar, porque a pobreza é um problema para as sociedades. Aquelas que têm muitas pessoas pobres perdem muito de seu potencial e riqueza porque a pobreza impede as pessoas de se tornarem cientistas ou engenheiros ou políticos. Ela empobrece toda a sociedade. É por isso que meu trabalho de vida tem sido combater a pobreza.
Como as mudanças climáticas afetam a pobreza no mundo?
Elas já estão afetando os países pobres hoje e vão afetar ainda mais no futuro por duas razões. A primeira é que esses países tendem a estar em lugares onde já é quente. E, portanto, à medida que o planeta esquenta, eles serão mais afetados por temperaturas que não são adequadas à vida humana. O segundo problema é que as pessoas pobres nesses países estão menos protegidas porque não têm ar condicionado nem acesso imediato a atendimento em saúde e não podem parar de trabalhar, o que quer dizer que é mais provável que elas morram quando está muito quente, ou que experimentem uma renda ainda mais baixa.
Como a luta contra a desigualdade e contra as mudanças climáticas se relacionam?
Elas se relacionam por meio de uma tripla desigualdade. Uma é que as pessoas pobres não contribuem nada para as mudanças climáticas porque suas emissões são muito baixas. Outra é que elas são as mais diretamente afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas. E outra ainda é que elas têm menos meios para se proteger. Então, se não interferirmos diretamente na capacidade das pessoas mais pobres de se protegerem dos impactos climáticos, a desigualdade só vai aumentar. E a desigualdade na maneira como as mudanças climáticas impactam as pessoas só vai piorar e piorar.
A Sra tem uma proposta para mitigar os efeitos das mudanças climáticas sobre pessoas pobres. Qual é ela?
Primeiro é preciso observar que os países pobres contribuem nada ou muito pouco para as mudanças climáticas, mas experimentam a maior parte dos seus danos. Depois, é preciso colocar um número nisso para percebermos a extensão do dano. Se você colocar um preço na vida humana, nas perdas agrícolas e nas perdas econômicas, a extensão dos danos das mudanças climáticas a um país como Níger, na África, por exemplo, é algo como US$ 35.000 por pessoa por ano. Isso é o que o mundo, coletivamente, está impondo a Níger.
Considerando-se a trajetória climática mais quente prevista pelo IPCC [Painel Internacional de Mudanças Climáticas], até 2100 haverá 6 milhões de mortes extras no mundo devido à alta de temperatura, e elas serão quase todas em países que hoje são pobres. As emissões que vêm da Europa e dos EUA causam um dano de meio bilhão de dólares todos os anos. Então, precisamos encontrar uma maneira de compensar as pessoas por pelo menos parte desses danos. E, para isso, precisamos arrecadar dinheiro.
Como? Uma das coisas que estou propondo em colaboração com a presidência brasileira no G20 é uma tributação global de 2% dos ultrarricos para um fundo de proteção aos mais pobres. Se tivermos o dinheiro, precisamos descobrir como dá-lo às pessoas. Proponho encontrarmos uma maneira de enviá-lo diretamente para as pessoas que são mais afetadas.
Pesquisas mostraram que, embora aumentar impostos seja uma medida muito impopular, tributar os ultrarricos para financiar políticas para os mais pobres é visto de forma mais favorável.
Essa é uma pesquisa de um francês chamado Adrien Fabre, que analisou uma série de pesquisas de opinião de pessoas na Europa e nos EUA sobre várias soluções para as mudanças climáticas. Ele descobriu que o imposto sobre o carbono é muito impopular, mas a ideia de tributar ultrarricos para redistribuir o dinheiro em outro lugar é muito mais popular. Algo como 80% dos europeus gostam da ideia, e mesmo os americanos não são contra: cerca de 60 ou 70% a aprovam. Então há apoio popular.
Por que então esta é uma medida tão difícil de implementar?
Talvez porque as pessoas ricas têm muito poder político e não estão muito interessadas na ideia. Mas eu gostaria de persuadi-las, e algumas delas já estão persuadidas de que isso é do seu próprio interesse. Não é tanto dinheiro, e elas também precisam de um planeta habitável, e também sofreriam se o aumento da pobreza levasse a conflitos e muita agitação no mundo. Então, alguns ultrarricos já concordam que podem abrir mão de 2% de sua riqueza todos os anos. Provavelmente, eles mal mal sentiriam falta desses recursos em suas vidas, mas isso faria uma enorme diferença para o mundo que eles também habitam.
No Brasil, um país de grande desigualdade, a proposta do atual governo de isentar pessoas mais pobres de impostos é vista favoravelmente, mas a de aumentar impostos dos ultrarricos é tratada como algo que pode inibir investimentos e gerar fuga de capitais. Esses receios são reais?
Há muita evidência mostrando que tributar pessoas mais ricas não limita investimentos. Isso porque, no final das contas, os bilionários tem tanto dinheiro que o que importa para eles é ser mais rico do que seus amigos —e os impostos não mudam isso. Já a fuga de capitais é uma questão quando um país age sozinho porque, em muitos lugares –o Brasil entre eles–, é fácil enviar capitais para paraísos fiscais. Aí entra a importância da cooperação internacional na tributação para que haja registro sobre onde o dinheiro está de modo que um país possa ir atrás dos ativos de seus cidadãos enviados para outro lugar. Ainda melhor seria coordenar uma medida em que todos os países tributarem ultrarricos em 2% por ano. Aí, a fuga não faria sentido.
Ainda assim, há estudos em países nórdicos que apontaram que a fuga de capitais em resposta ao aumento da tributação é real, mas bem menor do que se pensava. Talvez o problema fosse pior no Brasil, onde as pessoas já estão mais conectadas ao mundo exterior. Portanto, é um problema a ser levado a sério, mas que pode ser resolvido com países trabalhando juntos, como no processo que o G20 lançou
Algumas medidas de combate à pobreza são tratadas como falsos remédios. Programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, já foram criticados sob a premissa de que não se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar…
Este ditado em particular é um dos grandes clichês no desenvolvimento, o que é particularmente irritante, na minha opinião. Há um estudo recente de Dean Karlan e Chris Udry que revisou 130 pesquisas sobre 72 programas de transferência de dinheiro que mostram efeitos enormemente positivos em todas as dimensões da vida dos beneficiários. Então, podemos levar as pessoas a sério em sua capacidade de usar bem o dinheiro e deixarmos o paternalismo de lado. Há coisas que não podem ser fornecidas com dinheiro e que também podemos fazer, como oferecer boas escolas.
Como você avalia o Bolsa Família?
Ele foi muito avaliado e copiado em muitos países, onde também foi submetido a avaliações randomizadas rigorosas, e se mostrou muito eficaz em melhorar a educação e a saúde das pessoas. A única coisa que aprendemos desde que o programa foi iniciado é que condicionalidades estritas não são necessárias. É possível atingir os mesmos objetivos com condicionalidades mais brandas, que sinalizem que o programa é para ajudar na educação e saúde das crianças e jovens sem que necessariamente a transferência seja retirada quando as pessoas não estão cumprindo as contrapartidas. No Brasil, é bastante óbvio que o programa pode ser creditado por uma enorme queda na pobreza.
Você foi uma das três únicas mulheres laureadas com o Prêmio Nobel de Economia. Como interpreta essa presença feminina?
Quando recebi o Prêmio Nobel, em 2019 também era a única que estava viva porque Elinor Ostrom [laureada em 2009] havia falecido [em 2012]. Três não são suficientes, mas isso é um reflexo do fato de que não há muitas mulheres na economia. Mulheres são menos propensas a fazerem doutorado em economia. Estudantes de doutorado mulheres são menos propensas a se tornarem jovens professoras. Jovens professoras são menos propensas a obter estabilidade. Como economistas, tendemos a pensar que devemos deixar as coisas seguirem seu curso porque chegarão ao lugar certo. Mas acho que percebemos, nos últimos anos, que há algumas estruturas sobre a profissão que não a tornam muito amigável para mulheres, em particular por causa de uma espécie de cultura agressiva, que não é útil. Muitos departamentos estão fazendo esforço para mudar isso. O resultado deve aparecer nos próximos anos, espero.
Raio-X
Esther Duflo, 52, é Professora de Alívio da Pobreza e Economia do Desenvolvimento no Departamento de Economia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA, e cofundadora e codiretora do Laboratório de Ação contra a Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL). Recebeu o Nobel em Economia “por sua abordagem experimental para aliviar a pobreza global” em 2019.