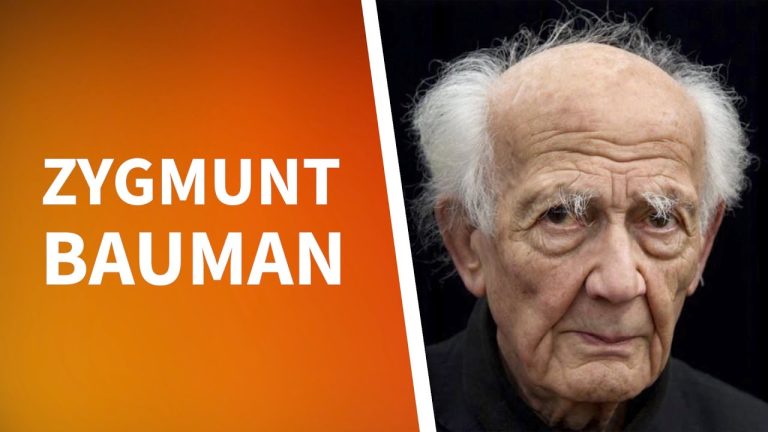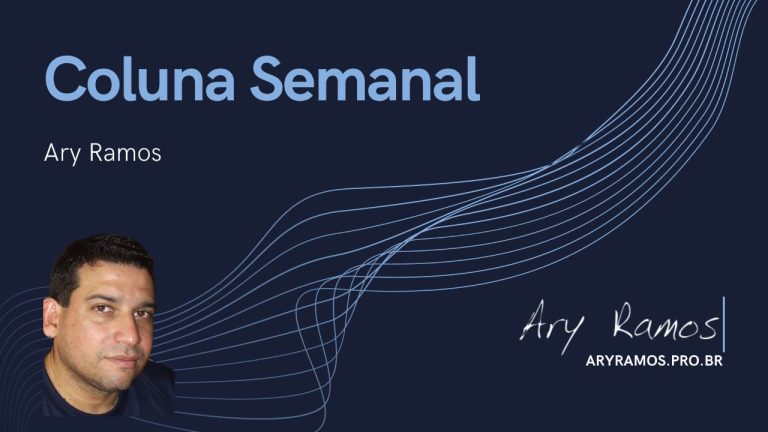Sai em breve livro póstumo do filósofo. Numa das últimas entrevistas, ele alerta: estamos involuindo de uma crença tola no futuro para a mistificação do passado
OUTRAS PALAVRAS – Zygmunt Baumann – 05/05/2017
Sai em breve, em português, livro póstumo do filósofo, morto em janeiro. Numa de suas últimas entrevistas, ele alerta: estamos involuindo de uma crença tola no futuro para a mistificação infantil do passado
As nove décadas de Zygmunt Bauman foram vividas próximo à medula da história. Nascido em 1925 de pais judeus poloneses não-praticantes em Poznan, sua família foi para União Soviética em 1939, quando os tanques nazistas invadiram a Polônia. Tendo servido no Exército Vermelho com distinção, retornou à Polônia depois da Segunda Guerra Mundial para estudar sociologia na Universidade de Varsóvia. Mas, com o comunismo tendo há muito perdido seu brilho e sua carreira impedida pelo antissemitismo, ele emigrou para a Grã Bretanha em 1968, onde assumiu uma cadeira de sociologia na Universidade de Leeds.
Mas foi depois de sua aposentadoria, em 1990, que sua inteligência inquisidora, pela qual ele é tão renomado,
começou a gerar livro após livro. “O Mal Estar da Pós-modernidade” (1992); “Ética pós-moderna” (1993),
“Globalização: as Consequências Humanas” (1998), “Modernidade Líquida” (2000), “Amor Líquido” (2003); “Ensaios sobre o conceito de Cultura” (2012)… A lista é enorme. De fato, no último quarto de século ele publicou cerca de 40 livros, não por escrever, mas porque o mundo como ele é não é como ele sente que deveria ser. Ou, como afirmou em 2003: “Por que escrevo livros? Por que eu penso? Por que eu deveria ser apaixonado? Porque as coisas poderiam ser diferentes, deveriam ser melhores.”
A conversa abaixo aconteceu no ano passado. Instigada por uma questão sobre o Brexit, acabou levando a um diálogo sobre o futuro, o passado e o destino do projeto iluminista.
“Retrotopia”, obra póstuma de Bauman que a Editora Zahar promete publicar em breve, em português
Você falou sobre a desilusão popular com a política nacional num mundo globalizado, e o sentimento popular de que políticos nacionais não têm poder para influenciar mudanças. Suas posições mudaram à luz do referendo sobre a União Europeia na Inglaterra, e a perspectiva do Brexit?
Acredito que o colapso da confiança na capacidade de todo o establishment político, em todo o mundo desenvolvido, para realizar as mudanças desejadas (ou qualquer mudanças prometida) é o que, paradoxalmente, sedimentou o fenômeno Brexit.
Com a completa frustração dos eleitores com a elite política, e sua recusa total de investir confiança em qualquer segmento da elite política, o referendo ofereceu uma oportunidade sem precedentes para as escolhas em votação coincidissem com os sentimentos que precisavam exprimir-se. Foi uma ocasião única, nesse sentido, e tão diferente das eleições parlamentares de rotina!
Numa eleição geral, você pode expressar sua frustração e raiva contra o mais recente de uma longa linhagem de detentores de poder e fazedores de promessas. Mas o preço que se paga por esse alívio emocional é meramente convidar a Oposição, parte inseparável do establishment político, a assumir os gabinetes ministeriais como o Governo. Nesse infinito jogo de cadeiras, você não chega nem perto de expressar a natureza geral da sua discordância.
A oportunidade oferecida pelo referendo sobre o Brexit foi completamente diferente. Com quase todos os setores do establishment político posicionados em favor da permanência na União Europeia, podia-se usar um único voto, Sair, para descarregar, de uma só vez, a raiva contra todos eles. Quanto mais abrangente a frustração, mais tentador torna-se fazer exatamente isso — agarrar essa oportunidade única para desabafar.
Você tem escrito sobre o fim do progresso e a perda da crença na ideia de que o futuro será melhor que o passado. Há algo no fenômeno do Brexit (e, por certo, em outros movimentos populistas do continente) que promete uma era nova, talvez melhor, para a Europa?
Nós ainda acreditamos em “progresso”, mas agora o vemos tanto como bênção quanto como uma maldição — com o aspecto de maldição crescendo progressivamente, enquanto o lado bênção fica menor. Compare isso com a atitude de nossos ancestrais mais recentes – eles ainda acreditavam que o futuro seria o espaço mais promissor para as esperanças.
Nós, contudo, tendemos a projetar nossos medos, ansiedades e apreensões no futuro: um futuro de crescente escassez do emprego; de queda da renda e portanto também de declínio das oportunidades de vida, nossas e dos nossos filhos; de crescente fragilidade das nossas posições sociais e da provisoriedade de nossas realizações na vida; de uma fenda que aumenta desenfreadamente entre as ferramentas, os recursos e as competências à nossa disposição e a enormidade dos desafios colocados pela vida; do controle de nossas vidas, que escapa das mãos. É como se nós, indivíduos, estivéssemos sendo rebaixados ao status de peões, à margem de um jogo de xadrez entre pessoas desconhecidas. Elas são indiferentes às nossas necessidades e sonhos, quando não francamente hostis e cruéis, e estão todas completamente prontas a nos sacrificar para alcançar seus próprios objetivos.
O que o pensamento do futuro tende a trazer à mente hoje, portanto, é a crescente ameaça de ser descoberto e rotulado como inapto para a tarefa, com seu valor e dignidade negados, marginalizados, excluídos e banidos.
Uma crescente maioria de pessoas já aprendeu, a essa altura, pela própria experiência e pela dos que lhe são próximos e caros, a desacreditar de um futuro desigual, instável, imprevisível e notoriamente decepcionante, como o lugar para investir esperanças. Meu último livro, Retrotopia, aborda precisamente essas questões. Permita-me citar um trecho de sua introdução:
Eis o é o que Walter Benjamin tinha a dizer em suas Teses da Filosofia da História, escritas no início dos anos 40, sobre a mensagem transmitida por Angelus Novus (renomeado Anjo da História), uma pintura de 1920 de Paul Klee:
“A face do Anjo da História está voltada para o passado. Onde nós percebíamos uma cadeia de eventos, ele vê uma catástrofe única que continua empilhando destroços e jogando-os diante dos seus pés. O anjo gostaria de ficar, acordar os mortos, e tornar inteiro o que foi esmagado. Mas uma tempestade está soprando do paraíso; o anjo ficou preso em suas asas com tal violência que não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impulsiona irresistivelmente em direção ao futuro, para o qual ele dá as costas, enquanto a pilha de escombros cresce, diante dele, rumo ao céu. A tempestade é o que chamamos progresso.”
Fosse alguém olhar de perto a pintura de Klee, um século, quase, depois que Benjamin produziu seu insight insondável e incomparavelmente profundo, poderia mais uma vez capturar o Anjo da História em pleno voo. O que mais pode impactar, a ele ou a ela, é o anjo mudando de direção – o Anjo da História apanhado no momento de uma volta de 180º. Sua face está girando do passado para o futuro, suas asas sendo puxadas para trás pela tempestade, golpeando esse tempo do futuro imaginado, precipitado e antecipadamente temido em direção ao paraíso do passado (ele próprio imaginado retrospectivamente, depois de ter sido perdido e reduzido a ruínas). E as asas estão agora sendo pressionadas, como eram pressionadas antes, com violência igualmente poderosa, de modo que agora, como então, “o anjo não pode mais fechá-las”.
Passado e futuro, pode-se concluir, estão no processo de trocar seus respectivos vícios e virtudes, relacionados – como sugeriu Benjamin – por Klee há cem anos. Agora, o futuro é que está marcado no lado do débito, denunciado inicialmente por sua não-confiabilidade e por ser incontrolável, com mais vícios que virtudes; enquanto a volta ao passado, com mais virtudes que vícios, é marcada na coluna do crédito – como um lugar ainda de livre escolha e do investimento ainda não-desacreditado de esperança.
Penso que o episódio Brexit, assim como “outros movimentos populistas no continente” são manifestações da “tendência à retrotopia” discutida acima. Na ausência de ferramentas efetivas de ação capazes de enfrentar os problemas de nossa presente situação, e dado o crescente desapontamento trazidos por sucessivos futuros creditados com o desenvolvimento dessas ferramentas de ação, não surpreende que a proposta de exploração do giro de 180º pareça ilusoriamente atrativa. A possibilidade de “uma nova, talvez ainda melhor era para a Europa” que emerge do resultado do Brexit, pode ainda aparecer, como sua consequência não-antecipada, embora plausível. Mas isso ocorrerá porque nos frustramos com o uso de tribalismos antiquados para lidar com os desafios do presente, gerados pela emergente condição humana de interdependência mundial.
Faz sentido a ideia de uma tendência retrotópica, dado o medo generalizado do futuro. Mas como você considera a tendência coexistente de ver o passado como uma moral absolutamente negativa, um tipo de moralidade, se você quiser, que orienta o presente dizendo “sabemos que somos contra aquilo” ou “nunca mais”? Estou aqui pensando na centralidade do Holocausto na política contemporânea e no discurso histórico, nos últimos 20 anos. E estou também pensando no recente, mas contínuo foco nos crimes sexuais históricos do Reino Unido, onde frequentemente parece que o passado relativamente recente está se transformando numa visão de corrupção e imoralidade difíceis de acreditar, e contra o qual nos afirmamos no presente. O futuro certamente parece desacreditado, hoje, mas o passado não o é igualmente?
Isaac Newton insistiu em que cada ação dispara uma reação… E Hegel apresentou a história como um conflito/fricção entre oposições, que provocam e reforçam mutuamente oposições (o processo interconectado de dissolução e absorção conhecido por “dialética”). Se vocês fossem partir de Newton ou Hegel, chegariam à mesma conclusão: ou seja, de que seria de fato bizarro se a tendência retrotópica não fosse alimentada por e alimentadora da entronização e destronamento do futuro (sua pergunta, aliás, é um bom exemplo dessa dialética).
A retrotopia, assim como a utopia-Futura ortodoxa, refere-se a uma terra estrangeira: um território desconhecido, não-visitado, não-testado e, em suma, não-experimentado. Essa é precisamente a razão pela qual se recorre a retrotopias e utopias, de forma intermitente, sempre que se procura uma alternativa ao presente. Ambas são, por essa razão, visões seletivas, e em ambos os casos são visões seletivas passivamente e obedientemente suscetíveis de manipulação. Em ambos os casos, os holofotes da atenção são focalizados em alguns aspectos de, para citar Leopold von Ranke, como era realmente (wie es ist eigentlich gewesen), mas numa densa sombra. Isso possibilita a ambos ser territórios ideais (imaginados) onde localizar o estado de coisas (imaginado) ideal, ou ao menos uma versão corrigida do presente estado de coisas.
Até aqui, utopia e retrotopia não diferem – pelo menos em seus processos e na parcialidade dos resultados. O que realmente separa os dois é a mudança de lugar entre confiança e desconfiança: a confiança sendo movida do futuro para o passado, a desconfiança na direção oposta. Seu próprio exemplo captura esse processo, implicando que a inevitabilidade da “tendência retrotópica” coincide com a popularidade do “nunca mais”. Afinal, a retrotopia deriva sua atração, entre outros fatores, do senso de que o futuro pode “nunca mais”, e é provável que “faça isso novamente”. Aquela “centralidade do Holocausto na política contemporânea e no discurso histórico, que realmente manifestou-se nos últimos 20 anos”, como você notou tão corretamente, de outra forma não teria acontecido. Ela testemunha o colapso da confiança na capacidade do futuro elevar os padrões morais.
Você fala corretamente, acredito, dessa intensa desconfiança do futuro, que por sua vez gera esses sonhos retrotópicos de um passado que nunca foi. Mas, por que o futuro deixou de ser o lugar de nossas esperanças, o espaço em que imaginamos e prevemos as coisas como deveriam ser? Você responde a isso parcialmente, quando nota que “uma grande e crescente maioria de pessoas… aprendeu… a desacreditar do futuro desigual, inconstante, imprevisível e notoriamente desapontador”. Mas a história europeia está marcada pela experiência de diversos eventos horrendos, que não necessariamente resultaram numa perda de fé generalizada no futuro. Por exemplo, a Guerra dos Trinta Anos foi seguida pelas primeiras inspirações do Iluminismo, um dos momentos culturais mais otimistas e orientados ao futuro. Até mesmo depois da catástrofe das Guerras Mundiais e do Holocausto, no período pós-guerra, até os anos 1970, foi seguramente marcado por um grau de otimismo, de que as coisas estavam melhorando, de fato, “de que você nunca esteve tão bem”. Então, é claro, houve os anos sessenta, um momento de grande experimentação social e política.
Então, o que acontece na vida em sociedade hoje que transformou o futuro em algo a se desconfiar, a temer?
Pensar no futuro “como alguma coisa suspeita, a ser até mesmo temida”, não é de forma alguma novo na história humana. De fato, remonta aos tempos pré-socráticos, mais precisamente ao século 8 AC – ao Trabalhos e os Dias de Hesíodo, particularmente à sua história “Idades dos Homens”. É uma história de contínua decadência, corrupção e degradação, do pico dos “anos de ouro” aos “anosde ferro”, o fundo dos fundos, no qual Hesíodo se coloca junto com seus contemporâneos. Sua descrição da condição e dinâmica dos habitantes dos anos de ferro era marcantemente reminiscente das características que nossos próprios contemporâneos imputam às condições do nosso próprio século 21, quando embarcamos na jornada retrotópica; ou seja, era atroz, horripilante e repulsiva.
Na visão de Hesíodo, a “raça do ferro” estava destinada a “nunca descansar do trabalho e da tristeza durante o dia, e da destruição à noite”. Na idade do ferro, “o pai não concordará com seus filhos, nem seus filhos com seus pais, nem hóspedes com seu anfitrião, nem companheiros com companheiros” e “não haverá privilégio para o homem que mantém seu juramento ou para o justo ou para o bom; mas, ao contrário, os homens vão louvar os malfeitores e seus negócios violentos. A força será certa, e não haverá mais reverência. E os ímpios ferirão o homem digno, falando falsas palavras contra ele, e jurarão infâmias sobre eles”. Na idade do ferro, aidos (a palavra grega para o sentimento de reverência, e também para a vergonha que coíbe as pessoas de cometerem malfeitos) será cada vez mais notória, apenas por sua ausência.
Em sua reação à herança da Grécia pagã, a Europa cristã introduziu um terceiro elemento ao ciclo Hesiodíaco de declínio e queda: a redenção, a perspectiva de reversão cronológica das eras de ouro e de ferro. Santo Agostinho, por exemplo, introduziu um conceito linear de tempo que fluía da Cidade do Homem inferior, devorada por traços indeléveis de pecado original e, como a era de ferro de Hesíodo, endemicamente corrupta, à perfeição da Cidade de Deus, guiada pela igreja cristã, a vanguarda e a praça das armas. Da Idade Média até a Idade Moderna, contudo, o modelo predominante do fluxo de tempo estava mais próximo de Hesíodo do que de Santo Agostinho.
Durante a Renascença, as coisas mudam. Francis Bacon ousou visualizar a casa da lei de Salomão, a faculdade ideal em seu trabalho utópico New Atlantis, como a culminação da longa, vacilante e espinhosa escalada ascendente da humanidade a uma nova era de ouro. E numa tentativa de ir além da disputa entre antigos e modernos (querelle des anciens et des modernes), Isaac Newton tentou colocar varas em dois formigueiros em guerra, proclamando, numa carta a Robert Hooke em 5 de fevereiro de 1675: “Se vi mais longe, foi por me colocar sobre ombros de gigantes”.
Interessados em simplificar esta complicada história de entrecruzamentos, geminação, linhas de pensamento mutuamente inspiradoras e reciprocamente depreciativas, sugiro o ano de 1755 como o marco que separa as duas visões em competição. De um lado, a de declínio apocalítico, desde o início, de uma história projetada e guiada pelos homens. De outro, a emergência, isto é, a visão de progresso contínuo, essencialmente incontrolável. Naquele ano, a combinação de um terremoto, seguido de fogo e sucedido por um tsunami apagou a cidade de Lisboa da face da terra.
Àquela altura, Lisboa era admirada e reverenciada como uma das cidadelas mais ricas e poderosas econômica e culturalmente daquilo que, por sua própria definição, constituía a vanguarda do mundo civilizado. Em poucas palavras, a natureza, agora acusada por sua indiscriminação endêmica, entorpecimento e estupidez moral, bem como indiferença à ética e valores humanos – aquela ordem estabelecida por Deus precisava ser tomado sob nova gestão humana.
A nova administração olhava à frente firme e resolutamente. “Novo” transformou-se na tautologia de “maior” e “melhor”, da mesma forma que “velho” tornou-se um pleonasmo para “fora de moda” e “ultrapassado”. No processo, isso transformou o vigente e vir-a-ser velho no reino da imperfeição condenável, destinado à deposição de lixo. E expandiu o espaço de novidades desejáveis e bem-vindas até que os mercados consumidores fizessem tudo instantaneamente. A vida tornou-se orientada para o futuro e ainda mais apressada.
Mas progressivamente, os sintomas sugerem que aquela era de gestão humana é mais uma aberração temporária do que um novo paradigma. Eu me sinto tentado a sugerir que quando percebida com o benefício da retrospecção, a “vida voltada ao futuro”, como posto por Ernst Block, entrará para os anais da história humana como um episódio na verdade pouco usual e por certo atípico – uma aventura romântica, fervorosamente apaixonada, mas breve.
Você está certo sobre quão significativo foi o terremoto de Lisboa. Talvez a resposta mais famosa – e que ecoa sua afirmação de que a resposta ao terremoto era para tomar a natureza abandonada por Deus sob gestão humana – é o Cândido, de Voltaire. A linha final, uma resposta aos apóstolos do progresso panglossiano, ressoa aqui: “Precisamos cultivar nosso jardim.” Ela exprime bem a ideia do Iluminismo, seugndo a qual a humanidade pode emergir de sua “tutela autorrealizada”, como colocado por Kant, a noção de que por meio de nossa própria razão (e não há/havia maior autoridade que nossa própria razão!) podemos agarrar as leis do mundo natural e social, e modelar o mundo de acordo com os nossos objetivos racionalmente escolhidos. Por que, então, no século 21, num tempo em que é nossa habilidade de administrar a natureza “para cultivar nosso jardim” para “viver voltados ao futuro” é mais forte que nunca, o projeto do Iluminismo (se é que posso chamá-lo assim) aparece como um “breve” interlúdio?
George Steiner disse certa vez que o privilégio de Voltaire, Diderot, Rousseau, Holbach, Condorcet e sua turma era sua ignorância: eles não sabiam o que sabemos e não podemos esquecer. A descendência da “Nova Jerusalém” de Isaias – relutantemente e não sem resistência – do futuro paradisíaco, fará isso a partir de Auschwitz, Kolyma e Hiroshima. Tudo isso foi fruto do cultivo entusiasmado e engenhoso do “nosso jardim”.
Você mesmo compara a relação progressiva com o tempo, e com a natureza, a um caso apaixonado. Você acha que, depois desse caso, estamos retornando à nossa prolongada relação com a temporalidade, o antigo, concepção de tempo quase teológica e alegórica, de queda e apocalipse, de decadência e redenção? Afinal, tanto ao ambientalismo quanto ao radicalismo islâmico, não falta a ideia de Fim dos Tempos.
Repito o que disse antes: o futuro (outrora a aposta segura para o investimento de esperanças) tem cada vez mais sabor de perigos indescritíveis (e recônditos!). Então, a esperança, enlutada, e desprovida de futuro, procura abrigo num passado outrora ridicularizado e condenado, morada de equívocos e superstições. Com as opções disponíveis entre ofertas de Tempo desacreditadas, cada qual carregando sua parte de horror, o fenômeno da “fadiga da imaginação”, a exaustão de opções, emerge. A aproximação do fim dos tempos pode ser ilógica, mas por certo não é inesperada.