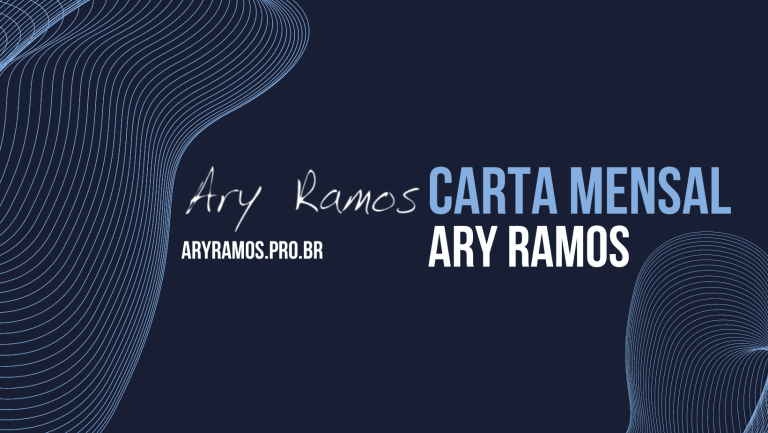A alta dos juros, imposta agora por quase todos os bancos centrais, não pretende reduzir a inflação. Visa criar mais desemprego, esvaziar o poder de luta dos trabalhadores e ampliar os lucros. Não dará certo, e o sofrimento será imenso
Michael Roberts – OUTRAS PALAVRAS – 13/10/2022
O termo “terapia de choque” foi usado para descrever a mudança drástica de uma economia planejada, baseada na propriedade estatal, existente na antiga União Soviética, para um modo de produção capitalista integral, em 1990. Eis que produziu uma grande queda nos padrões de vida, por uma década.
O termo “doutrina do choque” foi usado por Naomi Klein para descrever a destruição dos serviços públicos e do Estado de bem-estar pelos governos a partir da década de 1980. Agora, os principais bancos centrais estão aplicando uma “terapia de choque” na economia mundial: estão aumentando as taxas de juros com a intenção de controlar a inflação, mesmo havendo crescente evidência de que isso levará a uma recessão global no próximo ano.
Veja-se o que dizem alguns de seus porta-vozes. Chris Waller, membro do conselho do Federal Reserve [Fed, o banco central dos EUA] deixou bem clara essa intenção ao afirmar que “não estou pensando em desacelerar ou interromper os aumentos das taxas devido a preocupações com a estabilidade financeira”. Ou seja: mesmo que o aumento das taxas de juros comece a abrir fissuras nas instituições financeiras e em seus ativos especulativos, isso não importa.
Da mesma forma, Joachim Nagel, presidente do Deutsche Bundesbank, está resoluto em manter esse objetivo, apesar de a zona do euro e da Alemanha em particular já entrarem em recessão: “As taxas de juros devem continuar a subir – e de forma significativa”. Veja-se Nagel não quer apenas taxas de juros mais altas; ele quer que o BCE reduza seu balanço, ou seja, que não apenas pare de comprar títulos do governo, para manter os rendimentos dos títulos baixos; mas que, na verdade, passe a vender títulos, aumentando os seus rendimentos e contraindo a liquidez.
Eis o que Nagel afirma: “há um choque no preço da energia, cujos efeitos o banco central não pode mudar muito no curto prazo. No entanto, a política monetária pode impedir que ele salte e se amplie. Dessa forma, estamos quebrando a dinâmica da inflação e trazendo a evolução dos preços para nossa meta de médio prazo. Temos os instrumentos para isso, principalmente a alta das taxas de juros.”
Toda essa conversa machista dos banqueiros centrais esconde a realidade. O aumento das taxas de juros não reduzirá diretamente as taxas de inflação para os níveis pretendidos sem uma grande queda recessiva. Isso ocorre porque as atuais taxas de inflação, as maiores dos últimos de 40 anos, não foram causadas principalmente por “demanda excessiva” – ou seja, por gastos de famílias e governos –, mas devido à “oferta insuficiente”, particularmente na produção de alimentos e energia, mas também em produtos manufatureiros e tecnológicos mais amplamente.
Como se sabe, o crescimento da oferta foi restringido pelo baixo crescimento da produtividade nas principais economias, pelos bloqueios da cadeia de suprimentos na produção e no transporte, os quais surgiram durante e após a queda da covid e, mais recentemente, pela invasão russa da Ucrânia e pelas sanções econômicas impostas à Rússia pelos Estados ocidentais.
Estudos empíricos confirmaram que a espiral da inflação foi liderada pela oferta. Em um novo relatório, o Banco Central Europeu (BCE) constatou que mesmo o aumento do núcleo de inflação, que exclui os fatores de oferta de alimentos e energia, foi impulsionado principalmente por restrições de oferta. Eis o que está dito nesse relatório:
Os gargalos persistentes no fornecimento de bens industriais e a escassez de insumos, incluindo escassez de mão de obra devido em parte aos efeitos da pandemia de coronavírus (covid-19), levaram a um aumento acentuado da inflação… interrupções e gargalos de fornecimento e componentes fortemente afetados pelos efeitos da reabertura após a pandemia contribuíram juntos com cerca de metade (2,4 pontos percentuais) da inflação na área do euro em agosto de 2022.
Em seu último relatório sobre a situação do comércio e do desenvolvimento, a UNCTAD chegou a conclusão semelhante. Os seus técnicos calcularam que cada aumento de um ponto percentual na taxa básica de juros do Fed reduziria a produção econômica nos países ricos em 0,5% e em 0,8% nos países pobres, nos próximos três anos. Anotou, também, que aumentos mais drásticos, de 2 e 3 pontos percentuais, deprimiriam ainda mais a “recuperação econômica já estagnada” nas economias emergentes.
Ao apresentar o relatório, Richard Kozul-Wright, chefe da equipe da UNCTAD que preparou esse relatório, perguntou: “É certo tentar resolver um problema do lado da oferta com uma solução do lado da demanda?”. E respondeu: “Achamos que é uma abordagem muito perigosa.” Exatamente.
Parece claro que os bancos centrais não conhecem as causas do aumento da inflação. Como confessou o presidente do Fed, Jay Powell: “entendemos melhor agora o quão pouco entendemos sobre inflação”. Ora, trata-se na verdade de uma abordagem ideológica por parte dos banqueiros centrais. Toda a conversa deles tem por trás o medo de uma espiral de preços e salários. É isso o que, no fundo, sustentam: à medida que os trabalhadores tentam compensar os aumentos de preços negociando salários mais altos, isso provocará mais aumento de preços, elevando as expectativas de inflação.
Martin Wolf, o guru keynesiano do Financial Times, resumiu essa teoria: “o que [banqueiros centrais] devem fazer é evitar uma espiral de preços e salários, que desestabilizaria as expectativas de inflação. A política monetária deve ser rígida o suficiente para conseguir isso. Em outras palavras, deve criar/preservar alguma folga no mercado de trabalho.” Portanto, dada essa “teoria”, trata-se de evitar que os salários subam, mesmo que isso possa aumentar o desemprego.
O chefe do Fed, Jay Powell, considera, no entanto, que esse resultado pode ser evitado. Segundo ele, a tarefa do Fed consiste “em princípio, (…) em moderar a demanda (…) obtendo uma redução dos salários, assim como da inflação, sem ter que desacelerar a economia e sem uma recessão que aumente o desemprego. Eis que há, pois, um caminho para obter esse resultado”.
Como disse o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey: “não estou dizendo que ninguém vai receber aumento salarial – não me entendam mal. O que estou dizendo é que precisamos de moderação na negociação salarial, pois, em caso contrário, ela ficará fora de controle”.
Considere-se, agora, esta afirmação do principal macroeconomista do chamado mainstream, Jason Fulman: “Quando os salários sobem, isso leva os preços a subir. Se o combustível das companhias aéreas ou os ingredientes alimentares subirem de preço, as companhias aéreas ou os restaurantes aumentarão seus preços. Da mesma forma, se os salários dos comissários de bordo ou servidores subirem, eles também aumentarão os preços. Isso decorre do micro e do senso comum básico”.
Ora, tanto essa “microeconomia básica” quando esse “senso comum” postulados são bem falsos. A teoria e o suporte empírico para a inflação dos custos salariais e a teoria das expectativas de inflação são falaciosos.
Marx contestou a afirmação de que os aumentos salariais levam automaticamente a aumentos de preços há cerca de 160 anos, em um debate com o sindicalista Thomas Weston. Este afirmara que os aumentos salariais eram autodestrutivos, pois os empregadores apenas aumentariam os preços e os trabalhadores voltariam à estaca zero. Marx argumentou – como consta em Valor, Preço e Lucro – que “uma luta por aumento de salários segue apenas o rastro de mudanças anteriores nos preços”. Há muitas outras coisas que afetam as mudanças de preços: “a quantidade de produção, as forças produtivas do trabalho, o valor do dinheiro, as flutuações dos preços de mercado, as diferentes fases do ciclo industrial”.
Como se vê, agora, baixar os salários é a resposta dos bancos centrais ao aumento persistente dos preços. Mas os salários não estão aumentando como parcela da renda nacional ou do valor da produção; pelo contrário, é a participação nos lucros que vem aumentando desde e durante a pandemia.
De acordo com o relatório da UNCTAD, entre 2020 e 2022 “estima-se que 54% do aumento médio de preços no setor não financeiro dos Estados Unidos foi atribuído a margens de lucro mais altas, em comparação com apenas 11% nos 40 anos anteriores”. O que tem impulsionado o aumento da inflação tem sido o custo das matérias-primas (alimentos e energia em particular) e o aumento dos lucros, não dos salários. Não se encontra, porém, uma fala sobre uma possível espiral de lucro-preço, tal como se encontra nas manifestações dos bancos centrais.
Ora, esse foi outro ponto levantado por Marx no debate com Weston: “Um aumento geral na taxa de salários resultará em uma queda da taxa geral de lucro, mas não afetará os preços das mercadorias”. Logo, o que realmente preocupa os banqueiros centrais vem a ser uma queda na lucratividade.
Assim, os bancos centrais continuam aumentando as taxas de juros, passando da flexibilização quantitativa (QE) para o aperto quantitativo (QT). E eles estão fazendo isso simultaneamente em todos os continentes. Essa “terapia de choque”, empregada pela primeira vez no final da década de 1970 pelo então presidente do Fed dos EUA, Paul Volcker, acabou levando a uma grande queda da produção global, entre 1980-2.
A maneira como os bancos centrais estão combatendo a inflação por meio da elevação simultânea das taxas de juros está colocando também uma pressão enorme no sistema financeiro global: à medida que atuam nas economias avançadas, eles afetam também os países de baixa renda.
O que está espalhando o impacto do aumento das taxas de juros na economia mundial é o fortalecimento do dólar norte-americano. Houve uma alta de cerca de 11% desde o início do ano e ela produziu – pela primeira vez em duas décadas – a paridade do dólar com o euro. O dólar está forte porque se apresenta como um porto seguro para o dinheiro diante da inflação e das sanções e da guerra na Europa.
Ora, o dólar se fortalece porque a taxa de juros nos EUA está em alta. Em consequência, moedas importantes de outros países se desvalorizaram em relação ao dólar. Isso é desastroso para muitos países pobres ao redor do mundo. Muitos países – especialmente os mais pobres – não podem tomar empréstimos em sua própria moeda no valor ou nos vencimentos que desejam.
Diante desse quadro, os credores não estão dispostos a assumir o risco de serem pagos de volta nas moedas voláteis desses devedores. Em vez disso, esses países costumam tomar empréstimos em dólares, prometendo pagar suas dívidas em dólares – independentemente da taxa de câmbio. Assim, à medida que o dólar se torna mais forte em relação a outras moedas, esses pagamentos se tornam muito mais caros em termos de moeda nacional.
O Instituto de Finanças Internacionais informou recentemente que “os investidores estrangeiros retiraram fundos dos mercados emergentes por cinco meses consecutivos na maior sequência de saques já registrada”. Este é o capital de investimento crucial que está saindo dos países emergentes em direção à “segurança” das moedas fortes, principalmente o dólar.
Além disso, à medida que o dólar se fortalece, as importações se tornam caras (em termos de moeda doméstica), forçando as empresas a reduzir seus investimentos ou gastar mais em importações cruciais. A ameaça do a inadimplência está crescendo assustadoramente.
Tudo isso está acontecendo por causa da tentativa dos bancos centrais de aplicar uma “terapia de choque” para enfrentar o aumento da inflação global. A realidade é que os bancos centrais não podem controlar as taxas de inflação com a política monetária, especialmente quando ela é orientada para a oferta.
O aumento dos preços não foi impulsionado pela “demanda excessiva” dos consumidores por bens e serviços ou por empresas investindo pesadamente, ou mesmo por gastos governamentais descontrolados. Não é a demanda que é “excessiva”, mas o outro lado da equação de preços, ou seja, é a oferta que está muito fraca. E essa última, os bancos centrais não podem controlar!
Eles podem aumentar as taxas de juros o quanto quiserem, mas isso terá pouco efeito para reduzir o aperto do lado da oferta, exceto talvez para enfraquecê-la ainda mais. Esse aperto de oferta não se deve apenas a bloqueios de produção e transporte ou à guerra na Ucrânia; deve-se também, ainda mais, a um declínio subjacente de longo prazo no crescimento da produtividade das principais economias – ademais, por trás desse decaimento, há o declínio persistente do investimento devido à falta de lucratividade.
Ironicamente, o aumento das taxas de juros reduzirá os lucros. Os analistas já reduziram suas expectativas de ganhos no terceiro trimestre das grandes empresas dos EUA em US$ 34 bilhões, nos últimos três meses. Os analistas agora estão antecipando o menor aumento nos lucros desde o pico da crise do Covid. Eles esperam que as empresas listadas no índice de ações norte-americano S&P 500 registrem um crescimento de lucro por ação de apenas 2,6% no trimestre de julho a setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
É uma terapia de choque que afeta a economia global, mas não a inflação diretamente. Quando as principais economias entrarem em queda sincronizada, a inflação deverá cair, mas como resultado da recessão.