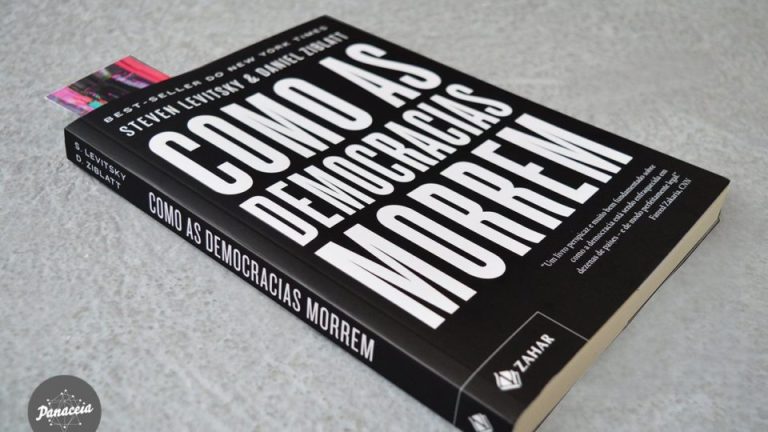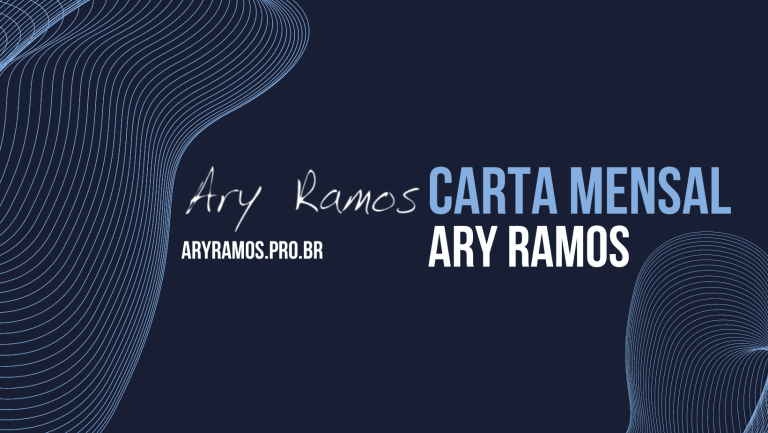LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
Clayton Mendonça Cunha Filho*
Lançado em 2018 nos Estados Unidos e traduzido para o português, no Brasil, ainda no mesmo ano, pela editora Zahar, o livro Como as democracias morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, é certamente um caso de best-seller imediato. Embora bastante recente, o livro já recebeu mais de cem citações da sua versão brasileira e quase oitocentas da sua versão original e segue suscitando debates e recebendo elogios ao redor do mundo, impulsionado por um Zeitgeist mundial em que a democracia enfrenta visíveis processos de erosão e ruptura.
O livro busca mostrar como a democracia pode e é frequentemente subvertida por dentro, pelas mãos de líderes e atores de tendência autoritária que, navegando através de suas mesmas instituições e poderes, terminam por transformá-la em um regime distinto e autocrático, sem necessariamente precisar utilizar das forças armadas ou de um golpe de Estado clássico. Segundo os autores, a morte da democracia atualmente viria principalmente através de medidas anunciadas com nobres intenções, tais como combate à corrupção ou segurança nacional, e coberta de vernizes democráticos, frequentemente avalizadas por instituições como parlamentos ou cortes de justiça.
A subversão democrática na maioria das vezes se daria através de medidas graduais e se iniciaria, na verdade, já através de medidas simbólicas e discursos polarizadores que buscam construir a ideia de ilegitimidade dos opositores. E prossegue através da captura ou neutralização de instituições de controle, tais como Procuradorias, Cortes de Justiça ou Tribunais de Contas, removendo seus membros mais independentes e/ou preenchendo-as com lealistas fanáticos, tanto para diminuir os riscos e limitações que tais instituições representariam aos objetivos do autocrata, quanto pelo potencial que representam na coerção dos adversários, que passam a enfrentar um campo de atuação cada vez mais desnivelado. E, apesar de as tendências autoritárias de líderes autocráticos serem frequentemente reconhecíveis e por vezes mesmo explicitamente anunciadas, desde muito antes de suas chegadas ao poder, tais líderes acabam sendo “normalizados” por parte de elites políticas que neles enxergam a possibilidade de se livrar de adversários incômodos. Minimizando os riscos ao próprio regime democrático, aproveitam-se de maneira interessada dos abusos contra seus adversários e terminam na maioria das vezes engolidos pelo avançar do processo.
O livro consta de nove capítulos e uma introdução bem encadeados entre si, nos quais os autores alternam entre a apresentação de suas teses ilustradas com casos ao redor do mundo, em distintos tempos, e capítulos onde as aplicam a episódios da história estadunidense. Assim é que, após resumir as teses do livro na Introdução, Levitsky e Ziblatt descrevem no Capítulo 1 os processos de chegada ao poder de outsiders autoritários em alianças com atores da elite política que pensavam instrumentalizá-los e se veem por eles engolidos. Já no Capítulo 2, focam em episódios semelhantes da história política dos EUA em que, no entanto, tais outsiders se viram barrados antes da presidência pelo papel de guardiões democráticos que atribuem aos partidos políticos e suas elites; e, no Capítulo 3, prosseguem com a análise das mudanças introduzidas no sistema de primárias dos partidos do país e que as teriam tornado potencialmente mais porosas à passagem de líderes dessa natureza, sendo Trump uma espécie de culminação do processo.
Nos Capítulos 4 e 5, por sua vez, retornam às ideias mais gerais acerca da morte democrática, descrevendo em detalhes, no quarto capítulo, os processos internos de tomada gradual de poder pelos autocratas eleitos através da cooptação das instituições de controle e da perseguição e afastamento dos principais adversários; e, no quinto, desenvolvem sua tese principal. Para os autores, além de boas constituições e instituições eficientes, a democracia para funcionar necessitaria do que eles chamam de regras não escritas que a protejam. Uma cultura política de tolerância mútua entre os adversários e o que eles chamam de reserva institucional (forbearance), ou seja, o “ato de evitar ações que, embora respeitem a letra da lei, violam claramente o seu espírito” (p. 107) constituiriam as grades de proteção necessárias à sobrevivência da democracia. Sua ausência implica polarizações excessivas, transformando adversários em inimigos essenciais e a competição democrática em um confronto sem meios-termos possíveis em que predominaria o oposto da reserva, chamada por eles de jogo duro constitucional (constitutional hardball), cujo resultado último não pode ser outro que a aniquilação da própria democracia.
Nos três capítulos seguintes, Levitsky e Ziblatt voltam novamente suas atenções ao caso estadunidense, descrevendo no Capítulo 6 as origens e o desenvolvimento das grades de proteção nos EUA, bem como momentos em que as mesmas foram ameaçadas ou mesmo ruíram, como durante a Guerra Civil, e seu processo de reconstrução após o fim da ocupação dos estados derrotados do Sul e que teriam então resistido firmemente pelo menos até os anos 1980. Os autores, no entanto, admitem, ao fim do capítulo, que devem “concluir com uma advertência perturbadora. As normas que sustentam nosso sistema político repousavam, num grau considerável, em exclusão racial. A estabilidade do período entre o final da Reconstrução e os anos 1980 estava enraizada num pecado original: o Compromisso de 1877 e suas consequências, que permitiram a desdemocratização do Sul e a consolidação das leis de Jim Crow. A exclusão racial contribuiu diretamente para a civilidade e a cooperação partidárias que passaram a caracterizar a política norte-americana no século XX” (p. 140). Após as políticas de inclusão dos anos 1960 que desmantelaram a segregação racial sulista, o país teria finalmente se democratizado plenamente, mas a polarização política e as ameaças às grades de proteção voltaram a crescer cada vez mais. No Capítulo 7, então, passam a descrever com exemplos concretos o abandono cada vez maior das regras não escritas sobretudo por parte do Partido Republicano, que passa a se enraizar cada vez mais nos conservadores estados do Sul, incrementando significativamente a polarização. Anteriormente, a heterogeneidade constitutiva dos partidos políticos estadunidenses, com democratas conservadores no Sul racista, mas progressistas no Norte liberal, e republicanos conservadores no Norte, mas progressistas no Sul, conferia certo equilíbrio e proteção ao sistema, segundo sua interpretação. Por fim, no Capítulo 8, os autores se concentram em descrever as sucessivas violações de Donald Trump às grades de proteção do país e as possíveis consequências nefastas que daí adviriam para o futuro democrático estadunidense.
L
evitsky e Ziblatt concluem o livro no Capítulo 9, “Salvando a Democracia”, o qual iniciam admitindo mais uma vez que a excepcionalidade democrática dos EUA estivera ancorada na exclusão racial e que as tentativas de superá-la no século XX teriam trazido de volta a polarização e os ataques às grades de proteção que estariam ameaçando a democracia no país atualmente. Tentando, talvez, passar um tom algo mais otimista, voltam-se em seguida a listar alguns países ao redor do mundo em que a democracia estaria sendo aumentada ou pelo menos ainda plenamente preservada, e que seriam, segundo eles, ainda a “vasta maioria”, embora a lista apresentada pareça duvidosa ao incluir o Brasil entre os países em que a democracia ainda “permanece intacta” (p. 195). Mesmo que o livro tenha sido publicado em 2018 e, portanto, os autores não tenham podido considerar os efeitos trazidos pela presidência do claramente autocrático (pelos critérios do livro) Jair Bolsonaro, é imperdoável para pesquisadores do quilate dos dois autores considerar que o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, o qual se utilizou eminentemente das táticas de jogo duro constitucional por eles apontada no Capítulo 5, não tenha sequer arranhado nossa democracia.
Levitsky e Ziblatt, então, passam a conjecturar três possíveis cenários para os EUA pós-Trump: um cenário otimista e considerado improvável, em que os esforços autoritários do presidente são plenamente derrotados e restaura-se a democracia com todas as suas grades de proteção e respeito às regras não escritas; um outro cenário pessimista, considerado por eles como possível, mas ainda não tão provável em que Trump triunfa plenamente e mata de vez o que resta de democracia no país; e uma terceira possibilidade, que consideram a mais provável no futuro imediato, em que a democracia dos EUA passa a viver sem as regras de contenção e com efeitos perigosos e imprevisíveis no longo prazo. Os autores terminam o capítulo e o livro tentando apontar caminhos para a restauração democrática e insistem na reconstrução da tolerância mútua e na reserva institucional como parte fundamental dos mesmos, apresentando como casos de sucesso a reconstrução da direita alemã no pós-Guerra e a ampla coalizão chilena da Concertação que teria permitido o regresso do país à democracia após a ditadura pinochetista.
Como visto, embora traga de fato exemplos concretos de atores e processos que minaram a democracia por dentro em várias épocas e lugares distintos – da Alemanha nazista ao Peru de Fujimori, passando pela Venezuela chavista, as Filipinas de Marcos, e a contemporânea Hungria de Orbán, entre alguns outros casos – e tenha um título “genérico” sobre a morte democrática, levando a crer tratar-se de uma obra de foco teórico geral, o livro é, na verdade, fundamentalmente uma análise do caso estadunidense sob a presidência de Donald Trump (2017-). Embora isso possa vir a frustrar em alguma medida alguns leitores que eventualmente cheguem ao livro buscando uma abordagem mais “universal”, não constitui exatamente um problema na medida em que um foco mais restrito, de fato, frequentemente permite uma análise mais aprofundada de qualquer fenômeno concreto. Além disso, se é correta a tese dos autores de que a democracia estadunidense se encontra atualmente em perigo devido a processos iniciados nas últimas décadas e exacerbados pela presidência Trump, tampouco se trataria de qualquer caso, visto que os EUA representam para muitos, com ou sem razão e dentro ou fora dos próprios EUA, uma representação simbólica da própria ideia de democracia e exercem influência desproporcional ao redor do mundo.
O problema é que os autores parecem não levar às últimas conclusões o alcance do argumento desenvolvido e uma análise aprofundada do mesmo pareceria indicar um veredicto ainda mais pessimista acerca da preservação da democracia no atual contexto mundial do que eles parecem considerar. Se toda a grande pax democrática estadunidense esteve baseada, como eles mesmos admitem, na exclusão racial e as grandes rupturas dessa estabilidade vieram da adoção de políticas de inclusão, não seria um grande wishful thinking a proposta de preservação democrática por meio de amplas coalizões interpartidárias em que os atores voluntariamente freiam suas iniciativas para não derrotar completamente a oposição? O livro é repleto de metáforas esportivas, o que certamente facilita sua leitura pelo público leigo e isso é extremamente positivo, mas será mesmo possível salvar a democracia apenas pela adesão voluntária dos vencedores à reserva institucional como numa partida de basquete de rua, como sugerem Levitsky e Ziblatt?
Extrapolando os achados dos autores para outros países, recorde-se que quando do início da redemocratização da América Latina, nos anos 1980, as perspectivas de sua consolidação aos olhos da Ciência Política eram invariavelmente pessimistas devido a sua extrema desigualdade socioeconômica. Quando a persistência democrática nos anos 1990-2000 colocou em questão tal diagnóstico pessimista, autores como Kurt Weyland (2004) consideraram que a ampla adesão ao neoliberalismo na região havia contribuído para essa estabilidade por retirar da agenda política questões redistributivas que historicamente tinham melindrado as elites da região e ensejado rupturas democráticas, embora reconhecendo que isso, ao mesmo tempo, diminuíra a qualidade de nossas democracias. As décadas seguintes do novo milênio trouxeram a vários países da região questionamentos a essa hegemonia neoliberal, com experimentos redistributivos e intervencionistas em geral bastante moderados, mas que, mesmo assim, propiciaram o retorno da polarização, e mesmo golpes de Estado manu militari, como na Venezuela (2002) e Honduras (2009), ou interdições parlamentares, como no Paraguai (2012) e Brasil (2016). Seria então realmente possível imaginar a preservação democrática apenas pela autorrestrição dos atores políticos em contextos em que há realmente grandes questões em jogo, em que, se talvez não sejam plenamente de soma zero, é preciso que alguém perca algo para que outros grupos possam superar sua situação de exclusão?
Voltando ao caso dos EUA, nas últimas páginas do livro, os autores analisam – e rejeitam – sugestões de superação da polarização política no país por meio do abandono, pelo Partido Democrata, dos interesses de minorias e das políticas de identidade em geral em prol de “recapturar a assim chamada classe trabalhadora branca” (p. 213), propondo em vez disso a adoção de políticas sociais universalistas de combate às desigualdades estruturais do país para fortalecer a democracia e gerar bases para coalizões interpartidárias que restaurassem as grades de proteção.
Mas o quão factível seria realmente a proposta se ele dependesse, para sua execução, da anuência do mesmo Partido Republicano cada vez mais sólido na defesa de interesses econômicos das megaelites econômicas? De fato, infelizmente, a proposta acaba soando mais como utopia do que como concretude, sobretudo se lida à luz de relatos como os de Wolfgang Streeck (2018) sobre o abandono progressivo pelo Grande Capital dos compromissos democráticos que sustentaram a Era de Ouro do Estado do Bem-Estar na Europa e que tanto contribuíram aos desgastes e desencantos cidadãos para com a democracia, a partir de meados dos anos 1980.
Em suma, o livro de Levitsky e Ziblatt oferece uma narrativa sucinta e em linguagem acessível acerca dos processos contemporâneos de erosão democrática e constitui-se em leitura importante, no momento, tanto para pesquisadores do tema quanto para o público em geral. Contudo as soluções sugeridas parecem fundamentadas muito mais em um normativismo voluntarista do que na análise plena dos desdobramentos das teorias e fatos relatados ao longo do livro. É um bom ponto de partida para a discussão de como as democracias morrem, mas, longe da palavra final, sobretudo se de salvá-las se trata.
REFERÊNCIAS
STREECK, W. Tempo Comprado: a crise adiada do capitalismo democrático. São Paulo: Boitempo, 2018.
WEYLAND, K. Neoliberalism and Democracy in Latin America: a mixed record. Latin American Politics and Society, v. 46, n. 1, p. 135-157, Spring 2004.
________________________________________
* Professor-Adjunto do Departamento de Ciências Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Mestrado em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (UFPI).