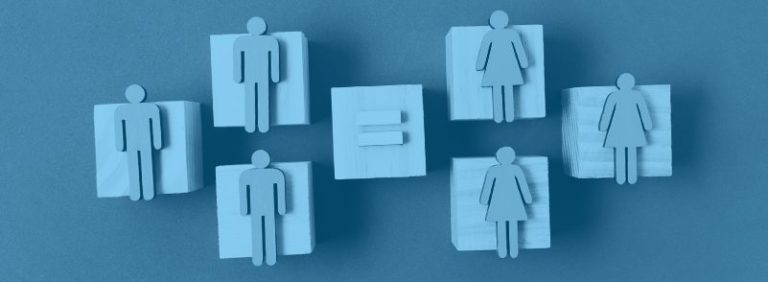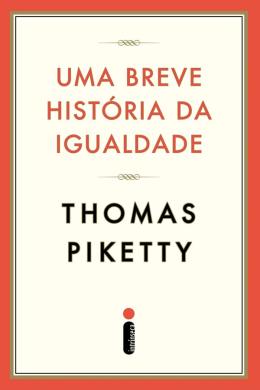Jorge Félix – A Terra é redonda – 25/09/2022
Comentário sobre o livro recém-editado de Thomas Piketty
O surgimento do economista francês Thomas Piketty no debate público mundial, em 2014, ainda precisa ser revisto pelos pesquisadores da comunicação como um dos maiores vexames do jornalismo econômico mainstream. O fato de o hoje best-seller planetário Capital no século XXI, traduzido em mais de 40 idiomas e com vendas acima de 2,5 milhões de exemplares, revelar uma tendência consistente de concentração de riqueza no funcionamento do capitalismo
contemporâneo e defender como remédio um imposto global sobre grandes fortunas e herança da ordem de 80%, fez os mais renomados veículos da imprensa internacional perderem a compostura, a ética e a exatidão e partirem para uma cobertura de desinformação muito antes de arvorarem-se contra opositores de fake news.
É conveniente lembrar esse triste episódio para o jornalismo sempre quando um novo livro do autor chega às livrarias, como agora com Uma breve história da igualdade, que acaba de ser traduzido no Brasil. Essa lembrança é como um antídoto para interpretações equivocadas dos jornalistas de economia e dos leitores. The Economist (que o chamou de “Novo Marx”), Financial Times, Bloomberg passaram maus momentos de credibilidade por estarem mais preocupados em desqualificar a pesquisa de Thomas Piketty do que de analisá-la com a civilidade que deve ser dispensada a todo trabalho acadêmico.
Em 2019, quando lançou Capital e ideologia na França, Thomas Piketty já estava devidamente vacinado contra o vírus do mau jornalismo. A recepção ao seu novo calhamaço [quase 1.200 páginas, parelho ao primeiro livro] foi mais fria, porém, ganhou muito em qualidade. É curioso verificar que os mesmos jornalistas que atacaram Capital no século XXI haviam perdido o fôlego para encarar as novas descobertas e reflexões de Thomas Piketty, justamente no momento em que o mundo se rendia à sua sugestão de adotar programas de transferência direta de renda – embora o autor, em entrevista que fiz com ele, em 2013, portanto, antes de seu sucesso mundial, tenha afirmado que sempre dará preferência à adoção de um sistema tributário progressivo (apesar de uma medida não anular ou dispensar a outra no árduo combate à desigualdade). Ou os jornalistas e veículos de Economia perderam o medo do “Novo Marx” e do “comunismo” ou ficaram, de fato, envergonhados (sem nunca reconhecerem o erro) quando viram governos liberais se “pikettyzarem”, sobretudo depois da pandemia de Covid-19.
O trabalho de Thomas Piketty, porém, é muito mais complexo do que a busca por cliques ou a necessidade de fazer eco à voz do “mercado”. No entanto, embora best-seller, o autor permanece confinado aos muros da universidade. Com exceção do slogan do Occupy Wall Street – I’m 99% – que apareceu em várias placas dos manifestantes, pouco da teoria de Thomas Piketty chegou às ruas. Salvo impulsionar o debate sobre a desigualdade. Mas mesmo o slogan citado ninguém sabia que teve origem em seus trabalhos, apesar de Joseph Stiglitz, a quem o slogan foi atribuído, tenha revelado a legítima autoria (ok, em uma nota de roda-pé!).
É preciso um profundo – profundíssimo – conhecimento econômico, histórico, sociológico, antropológico para dar conta da totalidade de seus argumentos e, talvez, oferecer alguma crítica ou reflexão. Isso, até hoje, como visto com os próprios colegas jornalistas, é um limitador para se entrar no debate. Quebrar essa barreira é a intenção de Thomas Piketty, agora, com seu Uma breve história da igualdade. O autor se propõe a escrever justamente para aqueles que jamais tiveram a coragem de enfrentar suas verdadeiras “bíblias” anteriores. Ou talvez que, antes de fazê-lo, precisam frequentar aulas de alinhamento. Pode ser válido. Inclusive para jornalistas econômicos. Nem sempre Thomas Piketty, nesse livro, é tão simples quanto imaginou ser, no entanto, incomparavelmente, o livro é bem mais acessível e conta a mesma história dos livros anteriores.
O leitor mais familiarizado com a obra de Thomas Piketty perceberá um amadurecimento de determinados pontos teóricos que vão se tornando identificadores de seu pensamento sobre a desigualdade social e a condição sine qua non para o mundo avançar no que ele chama de “marcha rumo à igualdade” – a qual, aliás, para ele, o mundo está condenado. Ainda bem. Embora as desigualdades continuem a se estabelecer em níveis consideráveis e injustificáveis, como sabemos, o leitor encontra um autor muito mais otimista. E quem não está precisando?
Thomas Piketty, como sublinha desde os seus primeiros trabalhos acadêmicos e foi quase uma pedra fundadora de sua linha de pesquisa, destaca a importância da “forte pressão demográfica” em toda a história da igualdade (ou da desigualdade) e como o envelhecimento populacional jogará um papel de destaque no decorrer dessa marcha da humanidade. E seus dispositivos de apoio para torná-la efetiva são: a democracia (sufrágio universal, liberdade de imprensa, direito internacional), o imposto progressivo sobre herança, renda e propriedade, a educação gratuita e obrigatória (e ele defende agora que deve ser “complexa e interdisciplinar”), a saúde universal (alçada nesse livro a um posto bem maior) e a cogestão empresarial junto ao direito sindical.
Esse último ponto merece uma atenção especial. Desde Capital e ideologia, Thomas Piketty explora esse ponto como indispensável dentro de qualquer perspectiva de distribuição de riqueza. De acordo com ele, no atual “hipercapitalismo”, o modelo de administração por gestores ou CEOs remunerados por bonificação e, portanto, centrados apenas no retorno sobre o investimento aos acionistas é um dos maiores estorvos à igualdade.
Sua proposta é a transição para um “socialismo participativo” (como ele usou em Capital e ideologia) ou “socialismo democrático, ecológico e diversificado” (que ele acrescenta agora), baseado em uma “propriedade mista” onde haverá propriedade pública, social e temporária. Dessa forma será possível superar a dicotomia entre o modelo estatal (soviético) versus modelo capitalista (norte-americano). A forma de se instaurar a propriedade temporária é o sistema tributário progressivo, pois, com mais recursos o Estado distribuiria a riqueza por meio de programas de transferência de renda, a começar pelos jovens.
O público leigo desconfiado, com razão, de projeções ou promessas econômicas pode até receber as “utopias” de Thomas Piketty com ceticismo. Mas a leitura de Uma breve história da igualdade é menos teoria e mais uma aula da evolução do pacto social, com suas crueldades, como a herança da escravidão, seus privilégios legitimados pela ideologia e suas revoluções e reações. Antes da “marcha da igualdade”, atestada por Thomas Piketty, precisamos entender o que permitiu a humanidade dar os primeiros passos. Nada foi conquistado sem luta social e o leitor tem no livro um bom resumo dessa lenta desconcentração do poder e da propriedade.
O prognóstico do autor é de que, sendo a desigualdade uma construção política a partir de escolhas históricas, como os sistemas tributário, educacional e eleitoral, outras mobilizações transformadoras serão suscitadas pela injustiça social. Mesmo que isso ainda dependa muito do papel da imprensa, Thomas Piketty insiste que outro mundo é possível, embora ainda incerto.
*Jorge Félix é jornalista e professor de economia no bacharelado em Gerontologia na EACH- USP. Autor, entre outros livros, de Economia da longevidade: o envelhecimento populacional muito além da previdência (Ed. 106 Ideias).