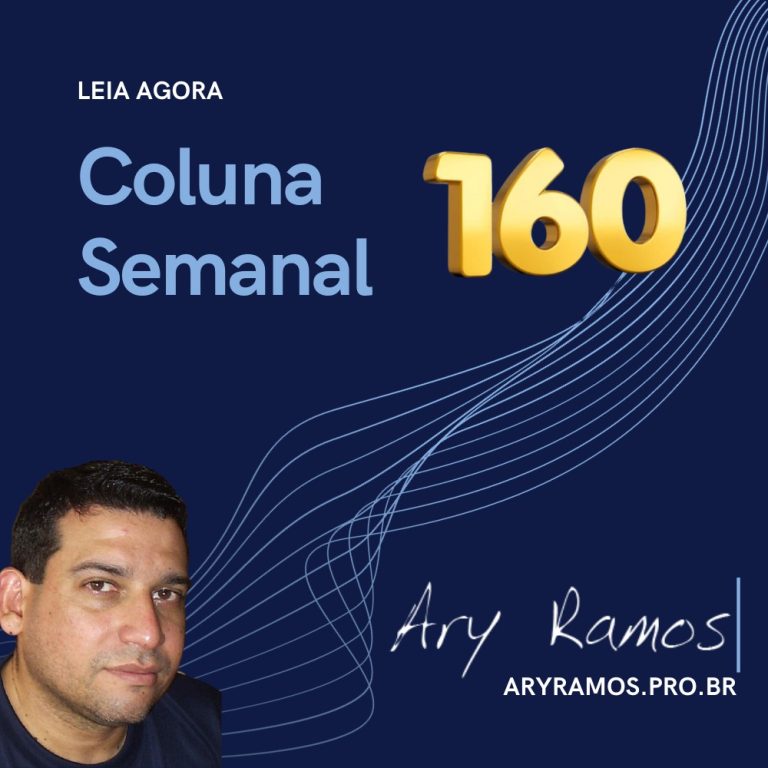Clara E. Mattei – A Terra É Redonda – 19/03/2024
Nota à edição brasileira, recém-lançada
É uma verdadeira conquista ver A ordem do capital publicado em português. Afinal, ainda que narre algo que teve lugar na Europa de um século atrás, seguindo uma linha que revisita e revê os fundamentos da economia a fim de relacionar os efeitos das políticas econômicas de austeridade do início do século XX à ascensão do fascismo, neste livro há elementos analíticos que podem contribuir para compreender a natureza e a lógica da austeridade no Brasil atual.
Não obstante se concentre nas relações de classe em contextos europeus nos quais a austeridade foi usada como instrumento político para esmagar as reivindicações de democracia econômica,
transporta essa dinâmica à compreensão de como as relações de classe foram forjadas em países cujo histórico é de escravidão e colonialismo. Entender as relações de classe da Europa do século XIX serve para calibrar como o discurso da austeridade vem acompanhado de uma pauta argumentativa que cancela o aspecto de classe das políticas adotadas, como se estas atingissem a todos de maneira equânime.
Os eventos ocorridos entre Europa ocidental e Norte global no início do século passado reverberaram no eixo centro-periferia e orientaram como os subalternos pautariam a própria política. Economistas do Sul global buscaram validação nas vertentes econômicas que disseminaram a austeridade e assumiriam os contornos neoliberais que testemunhamos hoje.
Outra chave que a história nos ensina consiste na inseparabilidade da austeridade fiscal e monetária, por meio do comprometimento orçamentário com o constante aumento das taxas de juros, afetando diretamente o mundo do trabalho. A escassez de crédito em razão da política rentista de juros altos faz que o trabalhador seja impactado em duas frentes: de um lado, pela redução do emprego e, por conseguinte, pela sujeição ao trabalho precarizado; de outro, por uma política salarial baixa que comprime o poder de compra entre as inúmeras necessidades a ser satisfeitas no vácuo deixado pela ausência do serviço público.
Não por outra razão, uma das primeiras medidas recentes na implementação da austeridade no Brasil consistiu em eliminar leis trabalhistas.
Também as privatizações para atrair investidor nas famigeradas parcerias público-privadas, acompanhadas da desregulamentação do mercado, desempenham um papel fundamental na dinâmica da austeridade. Boa parte do discurso gira em torno de justificar a redução dos gastos públicos ao comprometer o orçamento com o pagamento dos juros e amortização da dívida. Tal ideia, ainda que equivocada, permitiu, como veremos, que a autoridade máxima no Banco Central se tornasse imune à política de juros sugerida pelo chefe do Executivo.
Após a promulgação da Lei complementar n. 179, de 2019, as necessidades orçamentárias do presidente da República são completamente irrelevantes para o presidente do Banco Central, uma vez que seu mandato é dotado de garantias a exigir um dificultoso processo de exoneração, dependente da maioria absoluta do Senado. O aprofundamento da austeridade alcançada por diversos estratagemas durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, sob o disfarce de conferir plena autonomia ao Banco Central, retirou do poder político as alianças, tão caras à construção de um programa orçamentário harmônico e consentâneo, com as indispensáveis políticas sociais de um país de modernidade tardia.
Dado o presente cenário, vale ressaltar que o Brasil já conta com a maior taxa de juro real do mundo, superando países que agonizam com a inflação, como a Argentina. Ao mesmo tempo, o comprometimento do PIB brasileiro com a dívida pública é inferior ao de países desenvolvidos, de maneira a inviabilizar o argumento de que o país deve reduzir gastos, de que o país gasta descontroladamente.
Enquanto a Itália, objeto central de estudo desta obra, apresenta uma relação entre o PIB e a dívida pública que supera os 150%, a proporção do Brasil é inferior a 80%. Países como o Japão e a Grécia superam os 200%, e os Estados Unidos atingem 120%. Portanto, o argumento de que o Brasil não possui alternativas senão implementar políticas de austeridade não se sustenta. O ponto nodal do orçamento nacional reside no importe destinado ao pagamento dos juros da dívida pública, injustificável e propagador das mazelas sociais das quais o país padece.
O ano 2022 encerrou-se com a aprovação de uma emenda de transição do então futuro governo Lula, a Emenda constitucional no. 126, que ampliou o orçamento público para permitir que despesas correntes na ordem de 145 bilhões não fossem limitadas ao teto de gastos. A emenda também balizou outro teto de gastos, que viria a se chamar “novo arcabouço fiscal”. As balizas estabelecidas pelas novas regras mostraram-se tímidas, senão covardes, sobretudo em abolir o nefasto teto de gastos estabelecido pela Emenda constitucional no. 95/2016, impedindo o país de austeridade que ignora a facção política que ocupa o poder. O regime de austeridade, apesar de não alcançar os resultados de estabilização econômica almejados, não falha em atingir seu verdadeiro intuito: assegurar que a tríade de políticas fiscais, políticas monetárias e erosão da capacidade da classe trabalhadora de reagir a elas silenciem a dissidência.
Ademais, por compor o Sul global, o Brasil é mais suscetível às pressões das elites internas e globais. Portanto, a imposição de medidas de austeridade pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para a concessão de empréstimos internacionais não foi acaso. A ingerência do FMI a afetar diretamente assuntos ínsitos à soberania do país culminou na aprovação da lei de responsabilidade fiscal, em 2000, como parte de uma pauta de “recomendações” que asseguraria o pagamento da dívida. Contudo, para além de estabelecer garantias desse pagamento, o verdadeiro intuito era ditar como a política deveria orientar-se, a prescindir do governante no poder.
Antes de assumir seu primeiro mandato, em 2003, Lula entregou uma carta de compromissos para “tranquilizar o mercado”, prometendo manter a “estabilidade” de seu predecessor Fernando Henrique Cardoso. Em 2023, retornando à Presidência após o período de convulsão que o país atravessou, Lula comprometeu-se a “colocar o pobre no orçamento”; no entanto, até o momento, impera o continuísmo em relação a Michel Temer e Jair Bolsonaro. Uma maior incursão na história política do país revela que o período da ditadura militar e as mudanças de poder pouco alteraram a forma como o capital é extraído da classe trabalhadora. Em alusão ao ex-ministro da Fazenda do “milagre econômico”, Delfim Neto, seria necessário “fazer o bolo crescer para depois dividi-lo” – só que o momento da divisão jamais alcança os desfavorecidos do sistema.
A austeridade não consiste em remédio amargo administrado para brecar a “gastança desenfreada” e “retomar o crescimento”, jargões já tão conhecidos quanto desgastados. A austeridade tampouco é um erro de percurso na política para desfazer o “agigantamento do Estado” e proporcionar “menos Estado, mais mercado”. A lente através da qual o economista enxerga as variáveis de mercado distorce o modo como a realidade opera, vislumbrando o agregado (a unidade nacional) a despeito do bem-estar social e apresentando uma acentuada miopia as distinções de classe.
Como bem evidenciado, a definição comum de austeridade enquanto corte nos gastos e aumento de impostos mascara a escolha da alocação de recursos, que são abundantes para financiar guerras, arcar com juros da dívida pública, mas ínfimos na expansão do gasto social. No Brasil, os cortes foram significativos em setores que não comportavam ulterior achatamento. O salário mínimo carece de aumento real comparado à inflação, as reformas da previdência passaram a estabelecer critérios mais rígidos para concessão de benefícios, e as privatizações encareceram o preço dos serviços públicos ao longo dos anos.
A austeridade que se delineia nos países desenvolvidos continua admitindo um elevado comprometimento do PIB com a dívida pública, porém segue o preceito de eliminar prestações sociais, condicionando-as ao recrutamento de trabalho mal remunerado, ao corte de gastos em saúde, educação e moradia e à eliminação da tributação dos mais ricos, transferindo o ônus aos mais pobres por meio da taxação regressiva do consumo e dos serviços. O capital sai ainda mais privilegiado das equações de austeridade, mercantilizando as prestações sociais como barganha em detrimento da sociedade.
No caso brasileiro, os juros elevados agradam o especulador internacional, ávido por retornos substanciais em um país que não investe e, portanto, jamais se liberta da situação de dependência. Ao mesmo tempo, optando pela constituição em pessoa jurídica, o capital conta com a benesse sem precedentes – afora na Estônia e na Letônia – de não incidência de imposto de renda em lucros e dividendos.
A austeridade fiscal, inseparável da monetária, atua junto à imposição de um incremento artificial dos juros sob o argumento de conter a inflação, comprometendo, assim, o orçamento público com o pagamento de juros injustificáveis. O valor do salário – outro fator relevante –, a despeito do que se possa pensar, possui correlação direta com a política de austeridade.
Existe uma relação inversamente proporcional entre a privatização dos serviços públicos e a estabilidade da remuneração proveniente desse setor. Esse fenômeno ocorre em paralelo à revogação das proteções trabalhistas, previdenciárias e assistenciais e à supressão das prestações públicas, enfraquecendo o poder de negociação de sindicatos e trabalhadores. Quanto mais escassos são os recursos disponíveis para satisfazer as próprias necessidades de subsistência, mais suscetível estará o trabalhador a sujeitar-se a relações de trabalho opressivas. Não por coincidência, as políticas de austeridade no Brasil vêm acompanhadas de precarização das relações de trabalho e de uma disseminada incapacidade de mobilização sindical e reinvindicação política dos direitos trabalhistas e, mais amplamente, dos direitos sociais.
O presente contexto político é bastante desfavorável à realização de direitos sociais e econômicos dos contingentes mais vulneráveis da sociedade brasileira. Desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff – sob a falsa acusação de violação das leis orçamentárias, as chamadas “pedaladas fiscais”, indispensáveis para conciliar o gasto com o não atingimento das receitas diante da crise econômica que assolou o país, providências que nada mais eram que instrumentos para a execução de despesas públicas inadiáveis –, o cenário de desfazimento do Estado social ganhou fôlego com o rompimento do pacto social por meio da forjada Emenda constitucional n. 95/2016, resultado da aprovação da “PEC da morte”. Tal reforma elevou ao status constitucional um estado de coisas que subverte os primados estabelecidos na própria Constituição.
Não bastasse, a “austeridade expansionista” do então ministro Paulo Guedes aprofundou o processo de empobrecimento social, acompanhada das reformas trabalhistas previdenciárias e de uma desenfreada busca pela privatização de setores pertencentes ao poder público. Tal programa mostrou-se, desde o princípio, um fracasso, pois, assim que a pandemia de covid-19 interrompeu o funcionamento da economia, tornou-se impossível manter a força de trabalho, refém do ambiente doméstico, sem qualquer alternativa para mitigar a crise. A pandemia expôs a fragilidade do sistema em lidar com o excepcional, e algumas das medidas de contenção de gastos essenciais precisaram ser abrandadas para fazer frente à aprovação de auxílios emergenciais, que teria vigência provisória e, portanto, transformaram um então direito em faculdade de quem exerce o poder.
*Clara E. Mattei é professora no Departamento de Economia da The New School for Social Research.