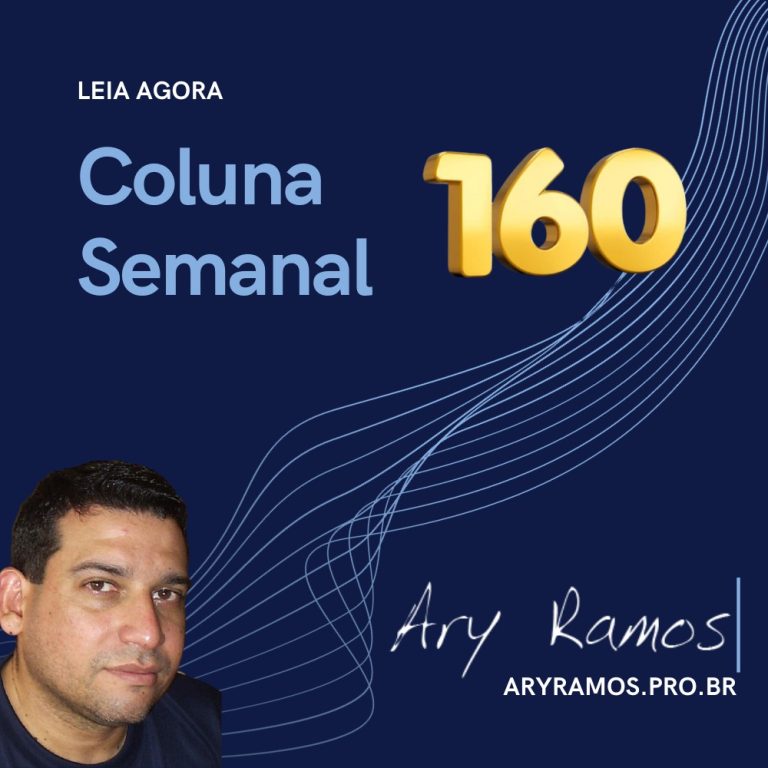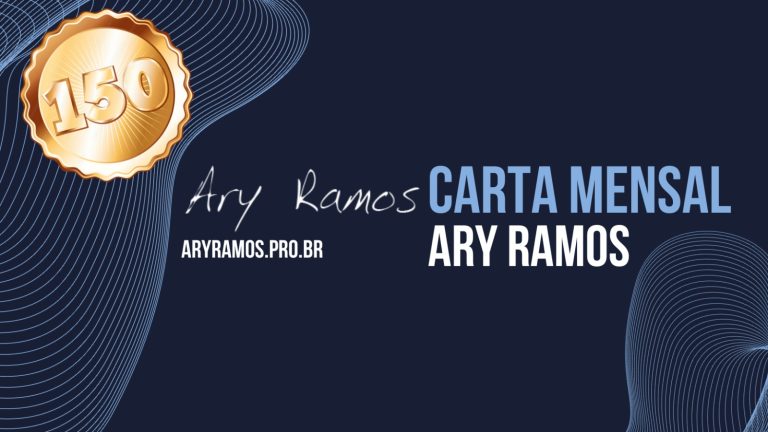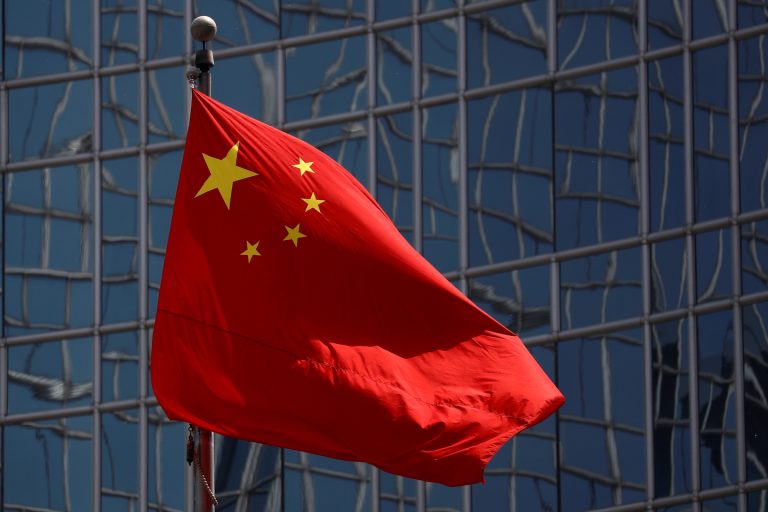David Castells-Quintana
Professor de economia aplicada na Universidade Autônoma de Barcelona
Folha de São Paulo, 27/02/2024
Vivemos em um mundo cada vez mais desigual. Um mundo cada vez mais dominado por grandes multinacionais que geram lucros exorbitantes enquanto pagam salários cada vez mais precários. Em 2023, Saudi Aramco, a grande petroleira saudita, registrou lucros de mais de US$ 247 bilhões. Apple e Microsoft reportaram, respectivamente, US$ 114 bilhões e US$ 95 bilhões.
Enquanto isso, as rendas reais de muitos trabalhadores dessas e de outras empresas se mantêm congeladas há anos. Esse grande poder empresarial está aprofundando as desigualdades. Mas não é só isso, o faz enquanto causa uma degradação constante de nosso planeta, com as emissões de gases de efeito estufa que não param de aumentar, elevando as temperaturas médias globais em quase 2º Celsius em relação aos níveis pré-industriais.
A ganância e as desigualdades
A ganância do capital aumenta a pobreza e a desigualdade; os lucros são a prioridade total. Jan Eeckhout, da Universidade Pompeu Fabra, explica em seu último livro, “The Profit paradox”, como o êxito crescente das grandes empresas aumentou as desigualdades salariais. Além do poder empresarial, as grandes empresas obtiveram a maioria dos lucros derivados dos avanços tecnológicos. Assim, a desigualdade aumentou dada à combinação entre poder de mercado e progresso tecnológico, que favorece a produtividade de alguns em detrimento dos demais.
Por um lado, trabalhadores que veem seus empregos cada vez mais mal remunerados, mecanizados ou deslocados para locais com salários mais baixos. Por outro lado, consumidores pagam preços desnecessariamente altos. Nas palavras de Eeckhout, “em vez de levar os benefícios das melhores tecnologias aos consumidores, essas empresas ‘superestrelas’ aproveitam as novas tecnologias para ganhar margens ainda maiores”.
O resultado é um mundo cada vez mais desigual. Uma desigualdade que se reflete cada vez mais não tanto entre os países, mas dentro deles e, em particular, dentro das cidades. As maiores cidades do planeta, tanto em países ricos quanto nos pobres, concentram hoje tanto os mais ricos quanto os mais pobres. Em cidades como Londres, Paris, Xangai, Lagos, Cidade do México ou Rio de Janeiro, aqueles que acumulam grandes fortunas vivem ao lado de milhares que passam fome todos os dias. Trata-se de dinâmicas que geram importantes fraturas urbanas que atualmente minam a coesão social e estão por trás do recente auge do populismo.
Como ressalta o último relatório sobre desigualdade da Oxfam International, Desigualdade S.A, na história da humanidade, nunca existiu uma desigualdade de renda e riqueza tão alta. Embora a riqueza dos cinco homens mais ricos do mundo tenha duplicado desde 2020, a riqueza dos 5 bilhões mais pobres diminuiu. Este relatório também foca no grande poder empresarial das multinacionais com crescente poder de mercado, que minimizam os custos laborais e evitam o pagamento de impostos.
A ganância empresarial não só aumenta as desigualdades; também intensifica a grande crise ecológica que vivemos. As grandes multinacionais são as maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa e pela destruição de ecossistemas. As multinacionais são as maiores beneficiárias da deterioração do nosso planeta e do sofrimento dos mais pobres.
Mudança climática e desigualdade
Mas além da desigualdade nas emissões, a mudança climática gerada por elas já se tornou outro fator de crescente importância por trás dos recentes aumentos na desigualdade. Com o aumento de temperaturas, as secas, enchentes e outras perturbações climáticas se tornam mais frequentes e intensas. E tudo isso, infelizmente, afeta de forma desproporcional os mais pobres.
Isso não é só anedótico; a análise detalhada dos dados mostra como, nas últimas décadas, os aumentos das temperaturas ajudam a explicar a crescente desigualdade. Nas regiões onde as temperaturas aumentaram mais, a concentração de renda e riqueza também aumentou (ver “The far-reaching distributional effects of global warming”). Os pobres são os mais afetados por secas e desastres climáticos. Por dependerem, em muitos casos, de recursos naturais e da agricultura, são os mais vulneráveis por sua alta exposição e baixa capacidade de adaptação.
Além disso, os pobres geralmente vivem em áreas com maior estresse climático e propensas a desastres como enchentes, deslizamentos de terra ou incêndios. Pior ainda, a mudança climática está associada à maior incidência e intensidade de conflitos por recursos escassos, como a água.
E também à menor produtividade agrícola em áreas tropicais (onde vive a maioria dos pobres globais), maior desnutrição e mortalidade infantil. E, por sua vez, a maior incidência de doenças como a malária e a tuberculose. Tudo isso não só aumenta as desigualdades econômicas, mas também aumenta as diferenças na expectativa de vida em regiões onde ela ainda é baixa.
Um exemplo disso é a realidade de muitas regiões da África Subsaariana, onde as chuvas quase desapareceram nas últimas décadas. A falta de chuvas devastou os meios de subsistência de milhões de pessoas, mergulhando-as na pobreza e em conflito e tornando vários países da região, como Sudão, Sudão do Sul, Somália e Eritreia, em verdadeiros estados falidos.
Colapso ecológico e social
Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês), já é quase inevitável que as temperaturas globais ultrapassem o limite de 2°C, podendo chegar aos 4°C se não reduzirmos drasticamente nossas emissões de gases de efeito estufa. Esses aumentos já estão desencadeando catástrofes ecológicas de longo alcance. Os ecologistas estimam uma taxa atual de extinção de espécies ao menos 1.000 vezes superior à normal, com até 150 espécies desaparecidas a cada ano. Um colapso ecológico sem precedentes.
E o ser humano não está à margem disso. A mudança climática e a degradação de ecossistemas ao redor do mundo estão a caminho de se tornarem o principal motor por trás das crescentes desigualdades globais, a maior barreira na luta contra a pobreza e, provavelmente, o principal motivo de conflitos em todo o mundo.
Como evitar o quase inevitável?
O crescente poder empresarial, as desigualdades no aumento e as mudanças climáticas são problemáticas bastante conectadas e características de um sistema global que só funciona bem para alguns, à custa do sofrimento de muitos outros e de um planeta em preocupante deterioração.
Para evitar o colapso ecológico e social que enfrentamos, faltam reformas profundas nesse sistema econômico global, começando pela descarbonização da nossa sociedade. Isso requer vontade e valentia política, bem como renúncias a níveis de consumo totalmente insustentáveis. Ou agimos
já ou o colapso é inevitável.
David Castells-Quintana é professor associado Serra Húnter na Universitat Autònoma de Barcelona. Doutor em Economia pela Universidade de Barcelona. Mestre em Desenvolvimento pelo Centro de Assuntos Internacionais de Barcelona (CIDOB). Especializado em economia internacional e economia urbana.