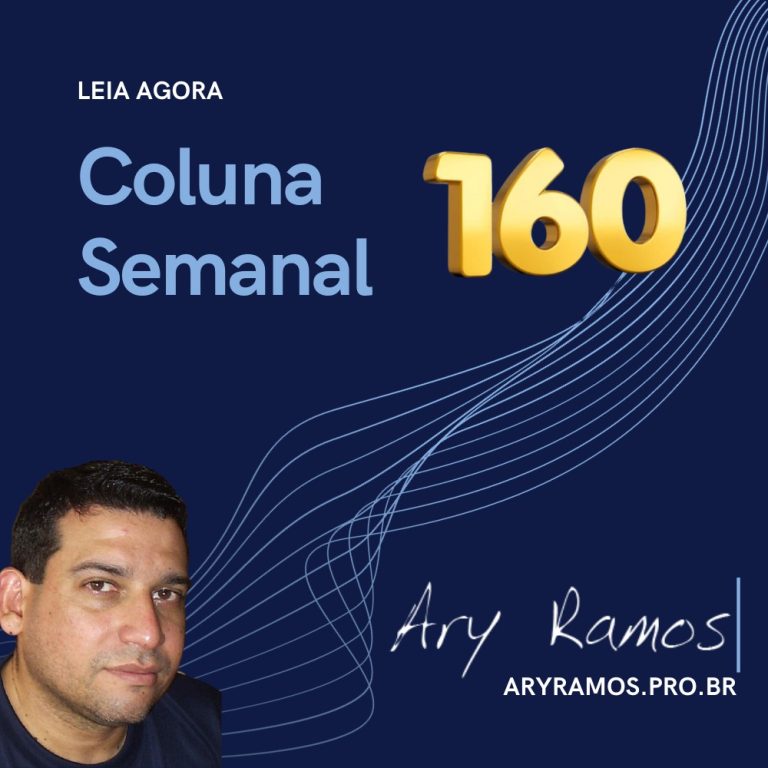José de Souza Martins – A Terra é Redonda, 13/01/2024
A conquista do Outro
O tema da chamada “escravidão contemporânea”, no Brasil, não significa a mesma coisa em diferentes bocas e em diferentes escritos. Nem mesmo significa sempre propriamente escravidão. E nem sempre é apresentado em perspectiva propriamente científica. Mesmo em estudos acadêmicos, são muitas as incertezas conceituais e são frequentes as tentações do mero denuncismo em si, sem penetrar nas causas, fatores, consequências sociais e funções econômicas de sua ocorrência e persistência no capitalismo subdesenvolvido.
Diferentemente do que pode pressupor o senso comum, mesmo de pessoas e instituições empenhadas, por ímpeto de justiça, em combatê-la, a escravidão contemporânea não é expressão casual de uma maldade, de uma esperteza de quem a pratica, de um desconhecimento do que ela propriamente é – um crime.
Apesar de eventuais incertezas e vacilações na sua definição, desde os anos 1970, pelo menos, em diferentes lugares do mundo organizações humanitárias e os Estados têm se empenhado em combater a escravidão e punir sua prática. Também aqui no Brasil. Aqui tem sido forte a tendência com o objetivo de, com justiça, submeter cada vez mais as empresas e os autores do crime de escravização aos rigores da lei.
Isso apesar de termos ainda uma disseminada e indevida certeza de impunidade e de reiterados casos de ações baseadas no equívoco de suporem os autores que a violência privada de jagunços e pistoleiros, recrutados como aparato repressivo na situação de trabalho, vale também na resistência aos agentes da lei. Casos de assassinatos de militantes da causa antiescravista e até mesmo de funcionários das agências oficiais de repressão ao trabalho forçado não têm sido raros. Apesar de o Brasil ser signatário, desde os anos 1920, de convenções internacionais que obrigam os Estados nacionais à proibição da escravidão e a combatê-la, porque se trata de crime, muitos ainda acham que o proprietário de terra pode legitimamente ser, também, proprietário de gente.
Ainda agora, em 2023, dois fazendeiros do sul do Pará foram condenados a cinco anos de prisão pela submissão de 85 trabalhadores a trabalho análogo ao de escravidão. A ocorrência é de 2002, mas o crime de escravização é imprescritível. O processo vinha se arrastando desde que dois menores de idade conseguiram fugir da fazenda em que eram escravizados e denunciaram a irregularidade às autoridades. O processo chegou a desaparecer, mas foi reconstituído. Foi a julgamento agora em consequência de uma sentença de condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O juiz federal substituto da Comarca de Redenção, no sul do Pará, sentenciou os fazendeiros no dia 27 de junho de 2023.[1]
A importância dessa condenação é enorme. A escravidão praticada no Brasil tem peculiaridades que a diferenciam de outras variantes da escravização de seres humanos na atualidade: a de que ela é, em primeiro lugar, expressão de contradições do subcapitalismo que temos. Ela está praticamente inscrita na estrutura lógica desse capitalismo. O restante é dela decorrente e dela componente, como a maldade necessária à sujeição de um ser humano, como se fosse um animal, indício de atraso social e de falta de identificação de quem dela se vale com a condição humana. Mas, sobretudo, indício de um complexo de degradações sociais necessárias à naturalização do cativeiro para que ele cumpra a função iníqua que o motiva.
Na trama de suas relações e de suas causas não há propriamente escolha. Os fatores econômicos se comunicam, seus custos e seus ganhos impõem-se à trama inteira. A própria vítima dela participa não por conivência e impotência, mas por estratégia de sobrevivência em nome da sua diferença social, enquanto alternativa social e histórica. Em nome de um possível que da contradição resulta, que tem visibilidade para ela, mas não tem para quem a explora e oprime. E não tem necessariamente para quem presume defendê-la e em seu nome reivindicar justiça e direitos.
Nesse sentido, este livro não é apenas nem principalmente um livro sobre a atualidade da escravidão. Trata-se de um estudo sobre o modo como o capital organiza empreendimentos econômicos em áreas de condições sociais, econômicas e ambientais de quase ausência do Estado, em face das quais não tem sido incomum o recrutamento de trabalhadores, já de antemão previsto, mas não revelado, que trabalharão como escravos.
Na verdade, essa escravidão é opção inevitável da vítima pela alternativa degradante e não capitalista de trabalho. É para resistir à ameaça e aos efeitos socialmente corrosivos da expansão do capitalismo sobre territórios e comunidades camponesas, de populações originárias, indígenas, caipiras e sertanejas.
Trabalho que, mesmo quando não acarreta ganho, no endividamento do trabalhador, que acaba trabalhando de graça, diminui na família, na entressafra, o número de bocas para a comida insuficiente.[2] E, se houver algum ganho, mesmo aquém do valor criado pelo trabalho cativo em relação ao saldo recebido, será um benefício com base na ideologia camponesa do trabalho de sobrevivência contra a ideologia capitalista do trabalho lucrativo. Essa é a contradição cuja causa a sociologia pode decifrar.
O trabalho escravo é a dolorosa expressão do verdadeiro conflito histórico entre os desvalidos e o capital, um dos conflitos estruturais do capitalismo brasileiro na disputa da terra de trabalho, a terra de sobrevivência, contra a terra de negócio e rentismo, de usurpação, a de um capitalismo subdesenvolvido. É a questão agrária como questão do trabalho que dá sentido a esse conflito e a esse drama. Os autores de digressões sobre a “escravidão contemporânea” omitem-se em relação a essa contradição, sociologicamente explicativa. A do assalto indireto do capital ao mundo camponês, assalto através das mediações de ocultamentos sociais para viabilizar os resultados econômicos de sua reprodução ampliada.
As regiões e as comunidades dessas populações têm sido com frequência os lugares de aliciamento de camponeses para o trabalho sob escravidão por dívida. Não se trata, pois, de uma referência geográfica, mas de uma mediação social datada, pré-capitalista, cujo atraso histórico interessa ao capital, mas cuja resistência e sobrevivência interessa sobretudo à vítima – o camponês e as populações originárias.
Esse atraso lhes é, na verdade, um capital cultural e político, que só se desperdiça porque lhe faltam as mediações políticas e partidárias. O atraso, na verdade, é dos partidos na falta de reconhecimento e compreensão do significado e da função política dos grupos humanos deixados à margem da história por uma opção equivocada em favor de uma concepção de progresso socialmente excludente.
Variam as motivações, muitas vezes extracientíficas, dos estudiosos, que, ao revelar e denunciar ocorrências, desprezam, porque as desconhecem ou minimizam, as contradições explicativas e reveladoras da realidade social problemática. As que sociologicamente compreendem o visível e o não visível, o falso e o verdadeiro. Os fatores revelados e os fatores ocultos do processo histórico. Os fatores de reiteração e os de transformação da realidade, os que criam socialmente o novo e, ao mesmo tempo, recriam o que parece ser o já existente, como interpreta e explica Henri Lefebvre.[3] Os que estão presentes na estruturação das condições sociais do cativeiro, isto é, na disputa e dominação do capital pelos lugares e situações comunitários e tradicionais da sociabilidade e da autonomia camponesas e da economia da produção direta de meios de vida, paralelamente à de excedentes comercializáveis. Os das populações excluídas e originárias.
Ou, então, os que desvendam e expõem as invisibilidades próprias do capitalismo num país subdesenvolvido, como o nosso, e expõem as vulnerabilidades do voluntarismo dos que se dedicam a questioná-lo e a combatê-lo, prisioneiros do superficial e aparente. O que é tão característico da moda política de hoje, mas divorciado das revelações da ciência e das duras verdades e incertezas das contradições sociais. A incômoda constatação científica de Marx, de que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem…”.[4] E menos ainda como os outros querem fazê-la em nome de todos sem legitimamente representá-los.
Esse desencontro é o cerne explicativo de toda a sociologia marxiana. É um questionamento que define o perfil deste livro na linha da tradição do pensamento sociológico crítico, ou seja, dialético, o de ampliação e aprofundamento do conhecimento sobre a realidade social além do mero agora. O desvendamento e o questionamento da alienação social, que acoberta a realidade, enquanto falsa premissa de ciência que há na militância desinformada e superficial.
A questão da “escravidão contemporânea” é, na sociologia, questão de urgência e é também questão de enfrentamento do poder de minimização dos problemas sociais, cada vez mais intenso da pós-modernidade. Esta é a sociedade da ocultação das verdades profundas e causais da história e da sua própria historicidade.
Muitos querem, altruisticamente, combater a iniquidade de relações de trabalho antissociais e anti-humanas. Outros querem, de modo não tão altruístico, combater as interpretações que podem estar em desacordo com suas opiniões de senso comum, seus interesses e conveniências partidários e ideológicos, seu exibicionismo político.
Um livro como este é uma proposta de desembaralhar, na perspectiva da ciência, essa diversidade opinativa, e desse modo criar as condições para uma interpretação objetiva e crítica da grave questão, no sentido marxiano de conhecimento explicativo, sociológico, de diferentes modalidades de conhecimento: “das representações, das ilusões de classe, dos instrumentos ideológicos”.[5] Único modo de situá-la no marco da possibilidade de sua superação, e iluminar o caminho desse ser solitário, invisível e difuso que intui no dramático da vida o desafio da transformação social libertadora como obra de correção e de superação das injustiças que negam a todos o direito à sua humanização. Se há um único escravo numa sociedade como esta, todos nós estamos atados à sua situação, porque a sociedade é relacional. Somos sujeitos do mesmo sistema de relacionamentos e de minimização da condição humana.
Ao se falar em escravidão atual está se falando, necessariamente, numa anomalia resultante das contradições sociais de um modelo de sociedade que tem nome: a sociedade capitalista mutilada e insuficientemente realizada, como a brasileira, atravessada pelo primado de interesses econômicos e consequentes irracionalidades que negam o capitalismo e crucificam a sociedade.
De uma análise assim, não resulta receita legítima de militância e ativismo indeterminados e desconectados da estrutura social profunda que dá sentido aos movimentos sociais. Resulta a referência para o que Hans Freyer definiu e Florestan Fernandes explicou: a sociologia como consciência científica da realidade social,[6] caso em que o ativismo não é nem pode ser teatro, para que possa ser práxis socialmente transformadora.
Os capítulos deste livro foram escritos com independência uns dos outros, por motivações tópicas, em épocas diferentes, a partir de uma mesma e demorada observação sociológica.
O volume tem, porém, uma unidade interpretativa e de revisão crítica de análises que dela carecem porque, no meu modo de ver, estão distantes de uma problematização científica de investigação do grave problema social do trabalho escravo, apesar dos esforços já feitos por vários pesquisadores, devidamente citados nos lugares adequados.
A unidade do livro está exposta no Capítulo I, e é a da opção por um método de explicação que corresponda à natureza social do problema de investigação. Que é a de uma realidade que por ser social é cambiante, que se transforma mais depressa do que a competência do senso comum para compreendê-la.
Em relação ao método e ao conjunto do texto, há compreensivelmente alguma reiteração de referências a esse núcleo explicativo do livro, nos diferentes capítulos. O que se deve ao requisito de clareza do próprio fluxo expositivo do texto, mas sobretudo à necessidade de explorar os detalhes da interpretação correspondente ao respectivo tópico e suas conexões com a linha teórica da obra.
*José de Souza Martins é professor titular aposentado do Departamento de Sociologia da USP. Autor, entre outros livros, de O cativeiro da terra (Ed. Contexto).
Referência
José de Souza Martins. Capitalismo e escravidão na sociedade pós-escravista. São Paulo, Editora Unesp, 2023, 270 págs.