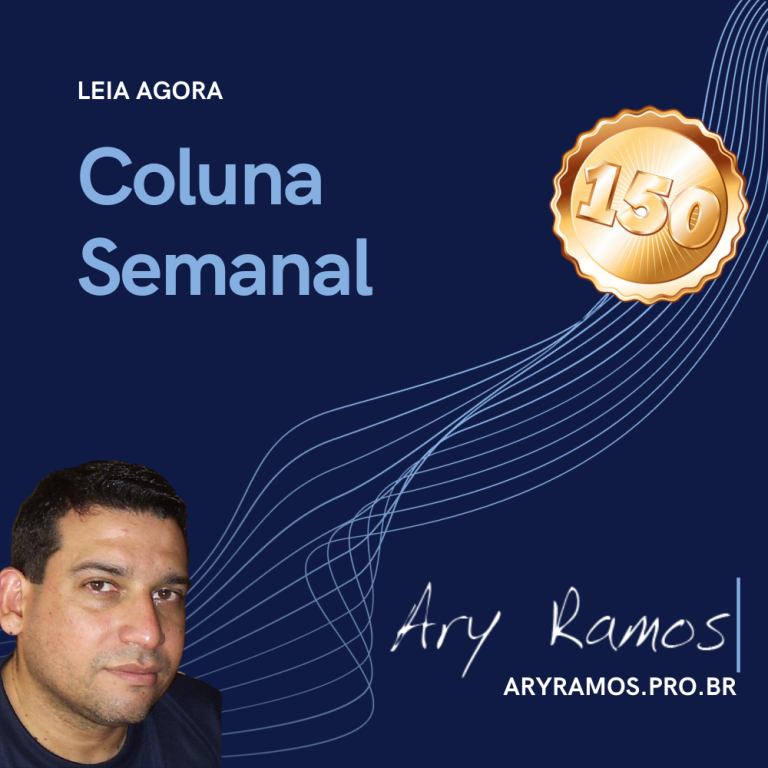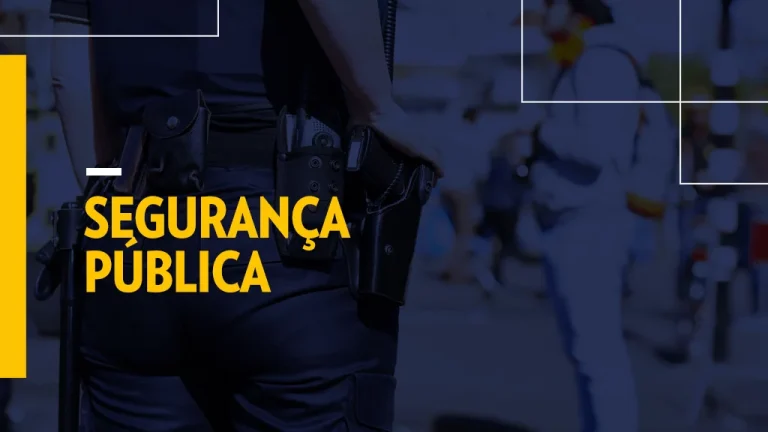Samuel Kilsztajn – A Terra é Redonda – 11/12/2023
Estamos todos mergulhados no sistema orquestrado pelo despotismo da mercadoria
A população mundial, praticamente estável em 300 milhões de pessoas durante todo o primeiro milênio da Era Cristã, cresceu paulatinamente para atingir um bilhão em 1750, início da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, o que se passou a chamar de renda per capita era relativamente constante desde a Antiguidade e também diferia muito pouco entre as diversas sociedades ao redor do mundo, tanto as consideradas pobres como as abastadas.
Adam Smith, que viveu na Inglaterra no bojo da Revolução Industrial, publicou em tempo real, já em 1776, na crista da onda, a obra que marcou o nascimento da economia política, Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações (abreviada para A riqueza das nações).
A Revolução Industrial alavancou a produção de alimentos, bens de consumo e instrumentos de trabalho a patamares nunca antes imaginados. Podia-se antever então uma nova era de fartura, o paraíso terrestre, a utopia realizada, em que a carestia seria completamente eliminada da face da terra.
O ano da publicação de A riqueza das nações, 1776, também marca a independência dos Estados Unidos da América do domínio inglês, a Revolução Americana. Em 1789 caiu a Bastilha e, no início do século XIX, a Revolução Francesa ganhou a Europa Continental (a Inglaterra, já em 1688, havia se livrado da monarquia absolutista, que foi submetida ao parlamento; o Império Russo, por outro lado, tendo derrotado Napoleão, manteve-se refratário às conquistas liberais e aos plenos direitos civis).
No início do século XX a Europa vivia a Belle Époque, oh là là! que não durou muito, porque estourou a Grande Guerra que poria fim à Era dos Impérios. Em meio à guerra, o absolutista Império Russo, com atraso de um século, enfim ruiu; e os impérios centrais Alemão, Austro-Húngaro e Otomano foram dissolvidos. A Inglaterra não cumpriu o ideário marxista e coube à retrógrada Rússia a instauração do socialismo, como uma forma de desenvolver a sua economia arcaica. A Revolução Industrial cunhou A riqueza das nações e a ideologia do progresso e do desenvolvimento das forças produtivas.
Durante a guerra, o exército alemão foi destroçado pela gripe espanhola, o que levou a Alemanha a aceitar o humilhante armistício, mesmo com o seu exército estacionado em território inimigo, sem que o exército dos aliados tivesse adentrado o território alemão (o que deu margem ao mito da “punhalada pelas costas”).
No pós-guerra, enquanto os Estados Unidos viviam os anos dourados da Era do Jazz, a Alemanha, submetida a pagar pesadas reparações de guerra, mergulhou em severa crise, com alto nível de desemprego, pobreza, hiperinflação e desarticulação social. Em 1924, a Alemanha conseguiu se restabelecer e seguiram-se cinco anos de relativa prosperidade, que terminou por força da grande depressão mundial de 1929.
Em 1928 o partido nazista de Hitler contava com 2,6% dos votos na Alemanha; cinco anos depois, em meio à grande depressão, ao alcançar 43,9% dos votos, os nazistas tomaram o poder, inaugurando o Terceiro Reich e se preparando para o novo embate que elevaria Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der welt, a Alemanha, Alemanha acima de tudo, acima de tudo no mundo.
Os alemães, que primam pela eficiência, instituíram na prática as teorias racistas que dominaram a ciência e a civilização ocidental na primeira metade do século XX. O Terceiro Reich, que aterrorizou a Alemanha, a Europa e a humanidade, programado para viver por um milênio, sobreviveu por intermináveis doze longos anos, suficientes para mergulhar o planeta na barbárie.
No pós-Segunda Guerra Mundial, o Império Russo, sob a insígnia de União Soviética, reabilitado sobre uma economia planificada e um sistema político extremamente autoritário, ao lado de seus estados satélites do Leste Europeu, dividiu a hegemonia internacional com o liberal império americano e seus aliados do Atlântico Norte (OTAN), período denominado Guerra Fria.
Após o colapso da União Soviética em 1991, o império chinês, sob a insígnia de República Popular da China, igualmente reabilitado sobre uma economia planificada e um sistema político extremamente autoritário, entrou em cena para se vingar da humilhação sofrida nas Guerras do Ópio na metade do século XIX, quando a Inglaterra submeteu o longínquo e milenar império, que foi levado à desarticulação. A OTAN e o império chinês dividem hoje a hegemonia internacional.
Além da OTAN, do império chinês e do império russo, participa do cenário internacional a Organização de Cooperação Islâmica, que representa os dois bilhões de muçulmanos que vivem em países do norte da África, África Ocidental, Oriente Médio, Ásia Central e Sudeste Asiático, países que não necessariamente atuam em bloco.
Apesar da Revolução Industrial, a fantástica riqueza das nações não erradicou a miséria da maior parte da população mundial, nem os bolsões de pobreza no interior das nações mais desenvolvidas do planeta. As faculdades de “ciências econômicas” ensinam que o aumento na produtividade é acompanhado pelo crescimento e diversificação das necessidades humanas. Novos produtos e novas necessidades vão sendo criados, muito além dos básicos produtos alimentícios, vestuário e habitação necessários para a vida.
Em 2023, na Cidade de São Paulo, quando saio às ruas, fico amargurado ao ver os transeuntes passando impassíveis por inúmeras pessoas dormindo ao longo das calçadas, algumas na diagonal, enroladas nos cobertores cinzas de resíduos de fibras sintéticas que a prefeitura anda distribuindo. Plagiando Hobsbawm, penso, essa é a era da distopia.
A Revolução Industrial, que nos levaria à era da utopia, o fim da carestia para a humanidade, engendrou, ao contrário, a atual era da distopia, em que uma parafernália de novos produtos supérfluos é produzida, consumida e descartada, por uma sociedade do espetáculo, do consumo, do desperdício e da produção de lixo que convive com uma população que revira o lixo das grandes cidades em busca de alimentos e de materiais recicláveis para revenda.
Como é que os laboratórios farmacêuticos poderiam sobreviver sem fornecer pastilhas de fibras para as pessoas que enriquecem o lixo doméstico com os bagaços descartados de seu saudável suco matinal de laranja? Como é que alguém pode sobreviver sem acesso a alimentos dietéticos altamente processados e prontos para o consumo, um tênis de marca e um celular de última geração? Como é que a desigualdade no interior das sociedades e entre as nações, que foi acirrada pela Revolução Industrial, pode dispensar a produção de engenhos de segurança e armamentos para proteger os esnobes ricaços dos marginalizados amigos do alheio?
Estamos todos mergulhados no sistema orquestrado pelo despotismo da mercadoria. Quem hoje ousaria se contrapor à mercadoria, ao progresso e ao desenvolvimento econômico? Só não são afetados pela mercadoria os povos que vivem fora do sistema, a exemplo das populações indígenas do Brasil. Mesmo assim, vários indígenas abandonam suas comunidades, fisgados pelas “maravilhas” da sociedade do consumo.
O consumo supérfluo enfeitiça as pessoas com a promessa da felicidade neste lado do paraíso. Não é nem propriamente o consumo que importa, mas a perda da sociabilidade e o consequente impessoal espírito de competição. O que vale mesmo é deixar o seu vizinho de queixo caído ao ver você sair da garagem com o carrão do ano.
Não acho que a questão atinja apenas os pobres. Os ricos também são presas do sistema que faz com que sejam apêndices da mercadoria e de seu consumo; e se percam em valores mundanos em que a solidariedade humana não encontra mais lugar. Apesar da filantropia e das aparências, a artificialidade da vida dos ricos não permite que eles vivam plenamente em lugar algum, nem na estratosfera.
Além disso, não é o consumo das camadas privilegiadas da sociedade que justifica o sistema capitalista, mas sim os investimentos, o progresso e o desenvolvimento econômico. Por que será que a fantástica produção mundial nunca é suficiente para abastecer a humanidade? O destino dos pobres é passar necessidades básicas de forma a justificar os investimentos (que, contudo, ratificam a estratificação social), o progresso e o desenvolvimento econômico orquestrado pelo mundo da mercadoria.
A China, ao que tudo indica, é a herdeira do projeto civilizatório orquestrado pelo mundo da mercadoria. O império chinês, que provê e alimenta seus trabalhadores autômatos despersonalizados a serviço da mercadoria, tem tudo para ser a última fase do capitalismo, que vai arrastar consigo o império americano. O Partido Comunista Chinês, por linhas tortas, vai conseguir cumprir o seu ideal, desestruturar o sistema capitalista e enfim implodir o reino da mercadoria.
Imponentes impérios se sucederam às margens do Mediterrâneo durante a Antiguidade. Após a queda de Roma, seguiu-se a chamada Idade das Trevas, que se estendeu por todo um milênio. O capitalismo industrial, que criou “maravilhas maiores que as pirâmides do Egito”, que vem devastando o planeta e enfim açambarcou o longínquo império chinês, ainda não completou três séculos de vida.
* Samuel Kilsztajn é professor titular em economia política da PUC-SP. Autor, entre outros livros, de Do socialismo científico ao socialismo utópico.