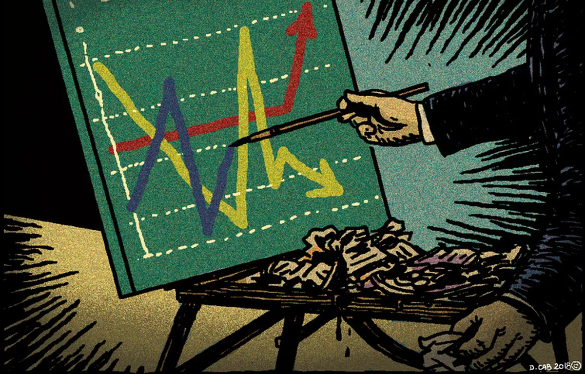Vladimir Safatle
A terra é redonda – 31/12/2022
A desigualdade econômica traz em seu bojo uma urgência propriamente biopolítica; ela define os ritmos de vida e morte que separam grupos sociais
A igualdade é o horizonte normativo fundamental da vida democrática. Seu sentido não está vinculado a alguma forma de imposição de homogeneidades, como se não fosse possível, em uma sociedade igualitária, o reconhecimento efetivo da diferença. Na verdade, podemos dizer exatamente o contrário, a saber, que só em uma sociedade radicalmente igualitária, diferenças e singularidades são possíveis. Pois, nesse contexto, “igualdade” significa ausência de hierarquia, ausência de sujeição. Quando a hierarquia impera, diferenças só podem ser vividas como desigualdades, pois a hierarquia impõe níveis de valores. O que é diferente do que está acima é necessariamente menos valorizado. Nesse sentido, ser diferente em uma sociedade hierarquizada significa ser desigual, ser mais vulnerável, não ser conforme ao que se espera para ter poder.
Note-se ainda que a crítica da hierarquia não significa necessariamente o desconhecimento da existência de relações sociais baseadas em autoridade e poder, mas significa simplesmente que tais relações de autoridade e poder podem circular em várias direções, que elas não se cristalizam, que elas são continuamente reversíveis e dinâmicas. Ou seja, em uma sociedade desprovida de hierarquia, as relações de poder não se transformam em relações de dominação.
Poder e dominação não são necessariamente a mesma coisa, embora normalmente eles se sobreponham.
Poder é a capacidade de exercer sua própria potência de ação e engajar outros nesse processo.
Poder é compreender que essa potência de ação não é individual, mas é expressão do desdobramento
de relações sociais, passadas e atuais, das quais faço parte. Por isso, a ação que daí deriva não é uma imposição. Ela é um encontro. Todo encontro é uma relação de poder, pois permite a circulação de dinâmicas de ação e transformação através de um engajamento coletivo que ressoa dimensões inconscientes de minhas motivações para agir.
Dominação, por sua vez, é a sujeição da vontade de um sujeito à vontade de outro. Por isso, ela só pode se exercer como mando e vigilância. Pois uma vontade individual só se exerce pela força ou pela promessa de participação de mandos posteriores.
Ou seja, em uma sociedade radicalmente igualitária, as diferenças não são destruídas por hierarquias, o poder circula e não se cristaliza em pontos específicos. E se as diferenças não são destruídas, isso significa que uma sociedade igualitária reconhece tais diferenças, essa é sua real dinâmica. Devemos falar em “dinâmica” nesse contexto porque reconhecimento não é simples recognição. Reconhecer algo ou alguém não significa simplesmente tomar nota de sua existência. Antes, significa mudar estruturalmente quem reconhece, pois ao reconhecer outro que até então eu não reconhecia, algo de meu mundo se modifica, sou afetado por aquilo que até então me era inexistente, uma mutação estrutural do campo da experiência ocorre. Por isso, sociedades igualitárias são plásticas e em contínua mutação.
Essas colocações iniciais servem para lembrar como a desigualdade é não apenas um problema de ordem socioeconômica, mas um bloqueio estrutural na realização de uma sociedade democrática. Ela não é um problema dentre outros, mas o problema central quando se é questão de compreender os déficits normativos de uma sociedade e as limitações em sua potencialidade de criação e coesão.
E, nesse ponto, é claro que a sociedade brasileira aparece como um caso dramático, devido a seus níveis exponenciais de desigualdade.
O problema da desigualdade em uma sociedade como a brasileira é algo que exige uma abordagem transversal, pois atinge múltiplas dimensões de nossas formas de vida e de nossos processos de reprodução material. Tais dimensões não podem ser tratadas separadamente, mas exigem abordagens focadas que possam ser capazes de consolidar um conjunto articulado de ações.
De forma esquemática, podemos dizer que não há discussão sobre a desigualdade entre nós sem que
possamos analisar as articulações entre desigualdades econômicas, regionais, raciais, de gênero e epistêmicas. Um país como o Brasil, que se constituiu a partir da naturalização de hierarquias e apagamentos coloniais, não pode confundir a luta contra a desigualdade com a realização de políticas de redistribuição. De fato, a redistribuição é fator central desse debate, mas ela não elimina a necessidade de lidar com as múltiplas dimensões de reconhecimento bloqueado advindo das hierarquias presentes em estruturas sociais de gênero, raça e circulação de saberes.
Redistribuição e reconhecimento são assim dimensões constituintes das políticas de combate à desigualdade e precisam estar no horizonte de toda constituição de ações articuladas de governo.
Desigualdade econômica e regional
É evidente, no entanto, que historicamente a desigualdade econômica tem chamado mais a atenção dos que se debruçam sobre a realidade brasileira. O que não poderia ser diferente para um país que se encontra entre os dez países com maior desigualdade econômica no mundo, segundo o índice Gini. Essa desigualdade econômica se mostrou extremamente resiliente, a despeito das inúmeras políticas tentadas nas últimas décadas. Na verdade, ela se agravou nos últimos anos. Basta levar em conta o fato de que, em 2000, o 1% mais rico da população brasileira detinha 44,2% da riqueza nacional. Em 2010, esse número cai para 40,5% e em 2020 sobe novamente para 49,5%. Para se ter uma ideia da magnitude de tais números, nos EUA, 1% da população mais rica detém, em 2020, 35% da riqueza nacional.
Vale lembrar que, segundo o mesmo índice Gini, em 2020 o Brasil conheceu paradoxalmente uma queda significativa da desigualdade, fruto da massiva transferência de renda realizada no momento da pandemia. No entanto, essa era uma política emergencial, que não tocava efetivamente nas estruturas de concentração de renda e preservação de ganhos e propriedades que caracterizam a sociedade brasileira. Por isso, ela foi um ponto fora da curva. Esse fato demonstra como as políticas necessárias precisam ser duradouras, e isso exige mobilizar uma dimensão propriamente estrutural da economia brasileira.
Notemos, entre outros, como a questão da desigualdade econômica traz em seu bojo uma urgência
propriamente biopolítica, ou seja, ela define os ritmos de vida e morte que separam grupos sociais. Tomemos, por exemplo, os níveis de expectativa de vida nos bairros da cidade de São Paulo. Segundo o Mapa da desigualdade, em Alto de Pinheiros, a expectativa de vida média é atualmente de 80,9 anos. Em Guaianazes, ela é de 58,3 anos.
Isso demonstra de forma clara como a sociedade brasileira, por preservar de forma atávica seus níveis de desigualdade, decidiu de forma soberana quem pode ter uma vida longa e quem deve morrer rápido.
Contra a estabilização de tais situações, faz-se necessário não apenas políticas públicas de reparação, mas de transformação estrutural. Elas deveriam passar por dois eixos. O primeiro deles lembra que a desigualdade econômica é fruto direto da desigualdade no controle e posse dos aparelhos produtivos. Essa é a questão mais intocada de nossas sociedades capitalistas, no entanto, ela é uma das chaves fundamentais para a luta contra a desigualdade econômica.
Sociedades que criam dispositivos de autogestão da classe trabalhadora ou de participação conjugada da classe trabalhadora no processo de gestão de empresas e corporações têm melhores condições para realizar administrações voltadas ao interesse coletivo e ao enriquecimento comum.
Podemos lembrar, nesse contexto, de um exemplo de nosso Estado de São Paulo. A partir de 2003, a fábrica de reservatórios e tonéis plásticos Flaskô, sediada no município de Sumaré, passou à autogestão da classe trabalhadora. Nesse período, ela viu sua produção aumentar, o tempo de trabalho diminuir e os salários subirem. Pois a visão do processo produtivo própria a quem está efetivamente vinculado à produção é mais racional e menos onerosa. Exemplos dessa natureza demonstram que incentivos à autogestão (como isenção de impostos a empresas que passem para esse modo de gestão) e à gestão participativa (como leis que obriguem empresas e corporações a terem ao menos 30% de seus conselhos diretivos compostos de representantes das trabalhadoras e trabalhadores) teriam impacto relevante na estrutura da desigualdade econômica.
Da mesma forma, a limitação da diferença de ganhos é elemento fundamental em tal política. Isso
passa por uma reforma tributária que efetivamente taxe renda e lucros, ao invés de taxar consumo. Devemos lembrar que o Brasil é, juntamente com a Estônia, o único país no mundo a não taxar lucros e dividendos. Da mesma forma, ele desconhece imposto sobre grandes fortunas, mesmo que tal imposto esteja previsto na Constituição de 1988. Há uma exigência de justiça tributária que deve ser o horizonte real de políticas públicas.
Mas a limitação de ganhos passa também pela possibilidade de impor limites claros para diferenças salariais. O Brasil é um país onde o menor e o maior salário no interior de uma empresa (sem contar bonificações e outros rendimentos) pode chegar a até 120 vezes. Uma limitação legal dessa diferença, assim como a implantação de um salário máximo poderia servir como fator robusto de limitação de tais desigualdades.
Soma-se a isso o fato de países como o Brasil conhecerem ainda profundas desigualdades regionais, fruto da concentração de seu desenvolvimento industrial e de sua política tributária na qual a arrecadação vai à União sem os correspondentes repasses aos Estados e municípios.
Desde os anos sessenta, graças ao trabalho pioneiro de economistas como Celso Furtado, é clara a
necessidade de conjuntos específicos de políticas de desenvolvimento regional com respectivas instituições gestoras. Se quisermos utilizar o mesmo critério de expectativa de vida para medir o impacto das desigualdades regionais, há de se lembrar que em Estados como Santa Catarina a expectativa de vida é de 79,4 anos enquanto no Maranhão encontramos 70,9.
Desigualdades de gênero, raça e epistêmica
Mas como foi dito anteriormente, a reflexão sobre a desigualdade brasileira exige uma abordagem transversal na qual problemas de redistribuição e reconhecimento possam ser pensados conjuntamente. O processo de acumulação primitiva do capitalismo exige não apenas a espoliação do trabalho pago, mas o uso do trabalho gratuito. Nesse caso, seja como trabalho realizado por populações escravizadas, seja como trabalho não pago resultante da sujeição patriarcal das mulheres. E mesmo nas estruturas tradicionais da espoliação do trabalho pago, encontramos o impacto das desigualdades de gênero e de raça. A sociedade brasileira preserva suas hierarquias de desigualdade através da consolidação de certos setores como potencialmente vulneráveis.
A esse respeito, lembremos como o Brasil foi um país criado a partir da implementação da célula econômica do latifúndio escravagista primário-exportador em solo americano. Antes de ser uma colonização de povoamento, tratava-se de desenvolver, pela primeira vez, uma nova forma de ordem econômica vinculada à produção exportadora e ao uso massivo de mão de obra escrava. Lembremos como o Império português será o primeiro a se engajar no comércio transatlântico de escravos, chegando à posição de quase-monopólio em meados do século XVI. 35% de todos os escravos transportados para as Américas foram direcionados para o Brasil. Sendo o latifúndio escravagista a célula elementar da sociedade brasileira, sendo o Brasil o último país americano a abolir a escravidão, não será estranho conceber o País como o maior experimento de necropolítica colonial da história moderna.
De fato, a dinâmica colonial assenta-se em uma “distinção ontológica” que se demonstrará extremamente resiliente, conservando-se mesmo após o ocaso do colonialismo como forma socioeconômica. Ela consiste na consolidação de um sistema de partilha entre dois regimes de subjetivação. Um permite que sujeitos sejam reconhecidos como “pessoas”, outro que leva sujeitos a serem determinados como “coisas”. Aqueles sujeitos que alcançam a condição de “pessoas” podem ser reconhecidos como portadores de direitos vinculados, preferencialmente, à capacidade de proteção oferecida pelo Estado.
Como uma das consequências, a morte de uma “pessoa” será marcada pelo dolo, pelo luto, pela manifestação social da perda. Ela será objeto de narrativa e comoção. Já os sujeitos degradados a condição de “coisas” (e a degradação estruturante se dá no interior das relações escravagistas, embora ela normalmente permaneça mesmo depois do ocaso formal da escravidão) serão objetos de uma morte sem dolo. Sua morte será vista como portadora do estatuto da degradação de objetos. Ela não terá narrativa, mas se reduzirá à quantificação numerária que normalmente aplicamos às coisas. Aqueles que habitam países construídos a partir da matriz colonial sabem da normalidade de tal situação quando, ainda hoje, abrem jornais e leem: “nove mortos na última intervenção policial em Paraisópolis”, “85 mortos na rebelião de presos de Belém”. A descrição se resume normalmente a números sem história.
Não é difícil compreender como esta naturalização da distinção ontológica entre sujeitos através
do destino de suas mortes é um dispositivo fundamental de governo. Ele perpetua uma dinâmica de guerra civil não declarada através da qual aqueles submetidos à espoliação econômica máxima, às condições mais degradadas de trabalho e remuneração, são paralisados em sua força de revolta pela generalização do medo diante do extermínio de Estado. Ela é assim o braço armado de uma luta de classes para a qual convergem, entre outros, marcadores evidentes de racialização. Pois trata-se de fazer passar tal distinção ontológica no interior da vida social e de sua estrutura cotidiana. Os sujeitos devem, a todo momento, perceber como o Estado age a partir de tal distinção, como ela opera explicitamente e em silêncio.
Neste sentido, notemos como tal dinâmica necropolítica responde, após o ocaso das relações
coloniais explícitas, às estratégias de preservação de interesses de classe, na qual o Estado age, diante de certas classes, como “Estado protetor”, enquanto age diante de outras como “Estado predador”. Em suma, há de se insistir como a necropolítica aparece assim enquanto dispositivo de preservação de estruturas de paralisação de luta de classes, normalmente mais explícita em territórios e países marcados pela centralidade de experiências coloniais.
Essa gestão de uma guerra civil não declarada passa necessariamente pela degradação de matrizes epistêmicas vinculadas a populações submetidas ao extermínio (povos originários) e à escravidão.
Nesse ponto, a universidade brasileira deve ter consciência de sua posição paradoxal. Podemos falar em paradoxo porque a universidade latino-americana está diante de um processo emancipador e silenciador. Por exemplo, a primeira universidade da América Latina (San Marco, Peru) data do século XVI. Ela se instaura no meio de uma guerra colonial contra um povo com largo conhecimento tecnológico e complexa cosmovisão, a saber, os incas. Uma das funções da universidade será impor um silenciamento cultural e epistêmico que irá perdurar, de certa forma, até hoje. Ter essa consciência autocrítica, entender-se também como parte do problema, é uma das maiores contribuições que a universidade brasileira pode dar à luta contra a desigualdade.
*Vladimir Safatle é professor titular de filosofia na USP. Autor, entre outros livros, de Maneiras de transformar mundos: Lacan, política e emancipação (Autêntica).