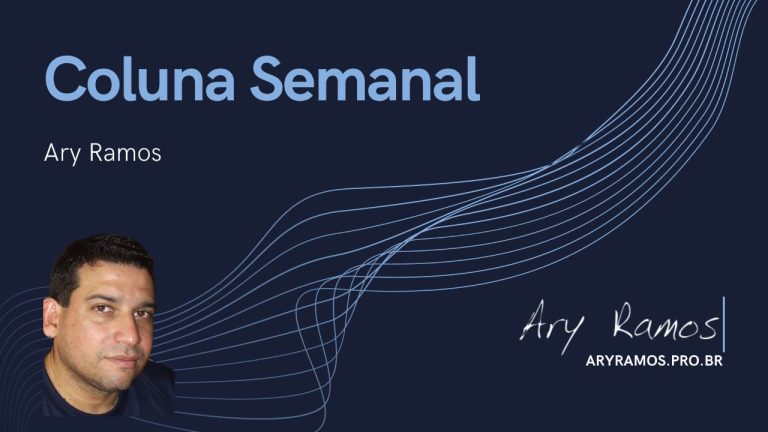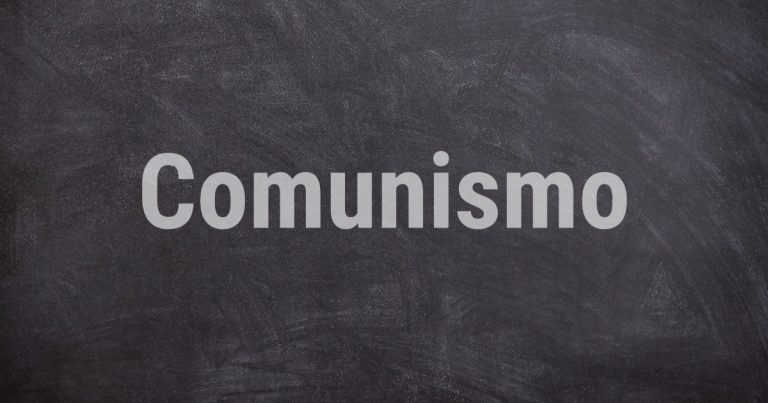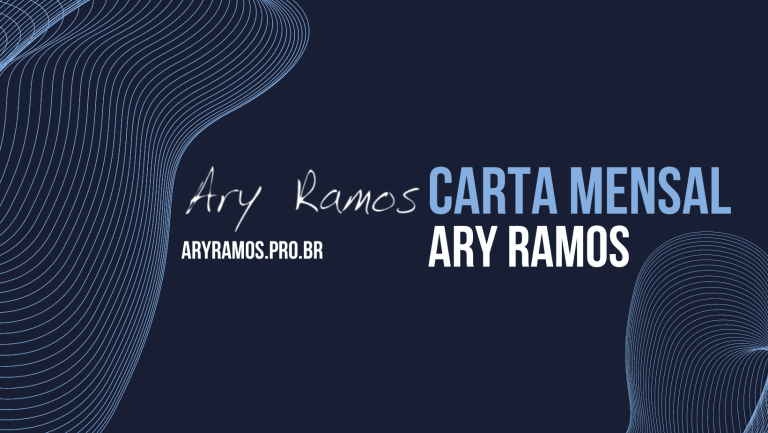Timothy Power, cientista político da Universidade Oxford, diz que manter coalizão deve ser mais difícil agora para Lula
ANGELA PINHO
FOLHA DE SÃO PAULO – 26/12/2022
Dificilmente um presidente terá a aprovação de mais de 50% da população em sociedades muito polarizadas com as do Brasil e Estados Unidos, avalia Timothy Power, chefe da divisão de Ciências Sociais da Universidade de Oxford, no Reino Unido.
O desafio de furar a bolha, em sua opinião, vale mesmo para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), personagem que Power vê como caso único por liderar um mesmo partido em uma democracia por mais de 40 anos.
Professor de política com foco em América Latina, Power falou sobre as possíveis saídas para a polarização em evento da Fundação Lemann com a Blavatnik School of Government de Oxford no fim de novembro.
Com português fluente e detalhado conhecimento da política brasileira, ele avalia em entrevista à Folha que, apesar da capacidade de negociação de Lula, será mais difícil formar uma base ampla agora do que em 2003, entre outras razões devido à maior dificuldade de atrair parlamentares de estados bolsonaristas.
Em sua opinião, acenar ao centro na coalizão governista, o que ainda não aparece com força nos anúncios de ministros, será fundamental. Nesse sentido, a participação de Simone Tebet é importante, mas o tamanho da votação da senadora não lhe dá muito poder político no momento em que a Esplanada de Lula é definida.
Comentando a saída da Liz Truss [do cargo de primeira-ministra], Lula falou que ela não tinha tamanho para lidar com a crise do Reino Unido. Lula tem tamanho para lidar com a situação no Brasil, com crise social e gente protestando até agora em frente aos quartéis?
Tamanho ele tem. Ele começou em 2002 com condições bastante adversas e conseguiu formar uma coalizão e, ao longo do tempo, aumentá-la. Eu acho que vai ser mais difícil essa vez do que foi em 2002, por várias razões.
Em 2003 e 2004, a grande conquista foi trazer o PMDB para o governo.
Hoje, o MDB é um partido muito reduzido em tamanho e o PSDB tem mais ou menos tamanho do PSOL na Câmara. Vai ser mais difícil conquistar um centro que é mais superficial e reduzido. Em segundo lugar, muitos deputados eleitos em estados que votaram para Bolsonaro vão ter mais dificuldade em entrar na coalizão porque a situação hoje é muito mais polarizada. O custo de aderir ao governo petista em 2003 era menor do que é hoje se você vem de um estado como Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal. E, em terceiro lugar, tem o quadro econômico externo, que não tem as mesmas condições favoráveis de 2003.
O senhor vê alguma chance do Lula terminar de novo o mandato com 83% de popularidade?
Eu acho que, em sociedades polarizadas, não existe mais espaço para presidentes populares. Por exemplo, nos Estados Unidos não vai ter mais presidente popular, porque o teto de aprovação é 50% e você não consegue ultrapassar. O Lula com muita sorte podia fazer isso, mas o teto será bem menor do que 83%.
Por que dificilmente um presidente hoje vai ter mais que 50% de popularidade?
Os índices de rejeição a Lula e Bolsonaro foram muito previsíveis ao longo do ano todo, 45% a 55% dos eleitores rejeitavam totalmente a outra proposta. Isso de certa forma permanece, então existe um teto de vidro de 50%, um pouco mais, de popularidade para o presidente no primeiro ano. Quando a ressaca eleitoral terminar, e se as condições externas melhorarem um pouco, o Lula pode levantar esse teto, mas ele começa de uma base muito afetada pela ressaca eleitoral. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, Biden e Trump nunca vão ultrapassar 50%.
A polarização é um cenário que já está dado ou tem algo que o governo eleito pode fazer para furar esse muro entre as duas quase metades do eleitorado?
Não vai ser fácil. Na campanha, o Lula deu sinais de que queria quebrar esse muro. O grande contraste foi justamente a indicação dos respectivos candidatos a vice-presidente. Todo mundo sabe que candidato a vice não agrega muita coisa matemática, mas tem valor simbólico muito grande de sinalizar aos adversários para o centro.
Lula escolheu Alckmin. O Bolsonaro tinha a mesma chance de sinalizar e optou por substituir um general por outro general. Desperdiçou a possibilidade de sinalizar e você vê as consequências. Podia ter virado o jogo numa eleição tão apertada.
Agora, sinalização não é a mesma coisa que conquistar cadeiras na Câmara ou compor um governo de transição. O importante é repetir o exemplo de Alckmin em cargos ministeriais. Os primeiros nomes que a gente vê anunciados vêm do PT. Deveria haver mais nomes de natureza simbólica, como o Alckmin, mas em cargos importantes.
Como se chegou a esse grau de polarização?
Há uma distinção entre polarização macropolítica e micropolítica. Na macropolítica, você define quem são os inimigos e não se posiciona em termos de políticas públicas ou decisões, você simplesmente sabe que, se aquela ideia veio do outro lado, é uma ideia ruim e não precisa mais ter debate. Tem muito a ver com a disseminação de mídias sociais, a simplificação de mensagens, a rapidez, desinformação, a falta de checagem dos fatos.
A polarização micropolítica é outra coisa. É a polarização dentro das famílias, na mesa do jantar, no lugar de trabalho, na rua. É o estresse que a polarização política impõe nas relações interpessoais, para mim, uma coisa que que foge à tradição brasileira.
Quais são as possíveis saídas?
Para a polarização micropolítica, não há uma resposta fácil. Já a polarização macropolítica pode ser quebrada por ação inteligente por parte das elites.
No Brasil, sempre houve duas instituições que atenuam a polarização na máquina política. A primeira é o presidencialismo de coalizão. Nenhum presidente chega com maioria a pré-fabricada, então as pessoas têm que formar maioria com negociação e coalizões nacionais. A outra instituição que atenua a polarização no Brasil é a governança multinível, municipal, estadual e federal. Muitos países têm apenas dois níveis ou um. Com três, as coalizões e as famílias políticas às vezes são incongruentes entre os níveis, e é natural que o palanque de um político em um município seja um, e em um estado seja outro. Os políticos brasileiros já estão acostumados com as essas incongruências, e isso ajuda a quebrar a polarização que existe numa eleição presidencial. Os anos de 2002 e 2022 foram sobre decidir o nome do futuro presidente, mas a formação de governo e a prática de executar políticas públicas despolarizam. E o Lula é mestre e fazer coalizões imprevisíveis. Ele gosta de recrutar o inimigo para o lado dele.
Como disse, será mais difícil em 2023 do que era em 2003. Mas também não é impossível.
A raiz da polarização está só rede social ou dá para pensar em outros fatores?
As instituições políticas, as organizações e os movimentos sociais perderam espaço para os meios sociais. Quando Lula formou um partido, a grande arma do PT eram os sindicatos. Mas hoje uma conta de WhatsApp pode valer uma CUT [Central Única dos Trabalhadores], porque a agilidade e o custo de mobilização foram muito reduzidos. Isso gera muita imprevisibilidade e é muito diferente de uma campanha tradicional, com partidos, sindicatos, movimentos sociais com bandeiras e plataformas consistentes. Havia, quem sabe, menos mobilização intereleitoral, porque hoje mesmo nos anos não eleitorais os meios sociais continuam muito ativos. E esse é outro traço do populismo. O populista, quando ganha, não governa, continua em campanha. Foi uma característica do Bolsonaro e do Trump. O imediatismo político é muito acentuado neste momento.
Quais são os pontos de diálogo possível com os bolsonaristas?
Um pacto nacional para a incentivar o crescimento econômico seria o ponto número 1, o segundo a reconstrução dos serviços públicos, da saúde, da segurança pública, depois desses anos de bolsonarismo e pandemia. Temas culturais, de identidade e de direitos reprodutivos voltam à polarização eleitoral imediatamente.
Essa é uma preocupação frequente. O que que as minorias, a população LGBTQIA+, por exemplo, podem esperar de um governo como esse?
Se eu participasse de qualquer movimento social no Brasil, estaria muito otimista, mas otimista em relação aos últimos quatro anos, não em relação à agenda total dos grupos. O PT tem uma tradição de trazer os movimentos sociais para o cerne do governo, com a Secretaria-Geral da Presidência da República.
Agora a criação de secretarias especiais, por exemplo, é mais difícil, porque isso infla o tamanho do ministério com pouco retorno político para o governo. Durante o mandato, o Lula aumentou o número de ministérios, e muitos eram ou criados para abrigar quadros do partido, como Cidades, ou como no caso de desmembrar reforma agrária e agricultura. Isso me parece uma estratégia defasada e sem muita eficácia neste momento.
Lula já declarou que não quer tentar a reeleição em 2026. O que isso muda para pensar as forças internas do governo?
Em vários outros momentos no passado, o Lula já tinha levantado a hipótese de o PT apoiar outro nome fora do partido, como o Eduardo Campos. Sempre houve resistência interna. Mas acho que falar isso também é uma mensagem interna para o partido de que é o momento de começar a pensar em nomes pós Lula. Olhando para todo o planeta, é muito difícil pensar em outros exemplos de partidos políticos que têm tido o mesmo líder há 43 anos.
Simone Tebet, caso entre no governo, estará numa situação peculiar, porque o governo vai abrigar alguém que muito provavelmente vai concorrer contra algum candidato do PT em 2026. Como vê a situação dela?
O comportamento dela na eleição foi extremamente corajoso. Ela arriscou tudo para apoiar o Lula, sabendo que, se ela errasse nessa estratégia, a carreira política dela acabaria em um minuto. Se o Bolsonaro tivesse vencido, seria muito difícil ela continuar, mas ela acertou na aposta. Acho importante o Lula usar esse nome para sinalizar novamente aos setores econômicos ao redor dela, aos quais a esquerda tem pouco acesso.
Agora ela teve 4% dos votos para presidente. É preciso cumprimentar as pessoas que tiveram um papel coadjuvante importante, mas não é algo que dá muito poder político a essas pessoas.
Como tem visto o papel do Judiciário no processo político? É uma jabuticaba?
É uma certa jabuticaba. [O ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral] Alexandre de Moraes é uma pessoa que defende com total energia a autonomia da Justiça Eleitoral exatamente no momento em que a Justiça eleitoral precisava dessa energia. Obviamente, é uma personalização muito forte da imagem da Justiça Eleitoral. A gente pode imaginar um imaginar uma utopia democrática, em quem ninguém sabe o nome de nenhum ministro da Justiça Eleitoral ou do Supremo, como era há 30 anos no Brasil, mas não é mais assim. Mas eu acho que todo poder tem que defender a sua autonomia. E Moraes fez isso de maneira impecável.
Que outra diferença em relação ao cenário internacional o senhor assinalaria?
Uma coisa que eu admirei muito sobre o processo eleitoral foi a agilidade do sistema eletrônico de contagem de votos. A gente sabia que era assim, mas não sabia o valor dessa agilidade no contexto político. A votação terminou às 17h e, antes das 20h, já tinha os parabéns do presidente da Câmara, dos governadores etc. Isso tirou o espaço do Bolsonaro e aliados para contestar. O tempo é importante, e Brasil chegou a uma técnica eleitoral que encurta o tempo de reconhecimento do resultado final, dando legitimidade ao resultado em poucos minutos. Nos Estados Unidos, entre a eleição em 4 de novembro e a certificação no Senado, houve dois meses para o pessoal do Trump preparar ações desestabilizadoras e premeditadas. Ao longo do ano, Bolsonaro lançou uma série de dúvidas sobre o sistema eletrônico, mas, como que vocês dizem, o feitiço virou contra o feiticeiro.