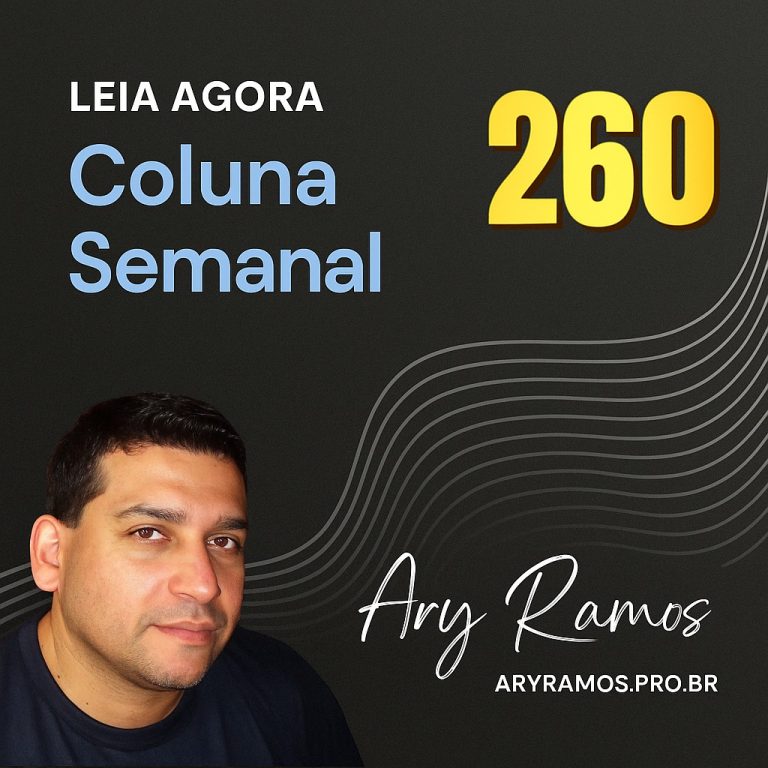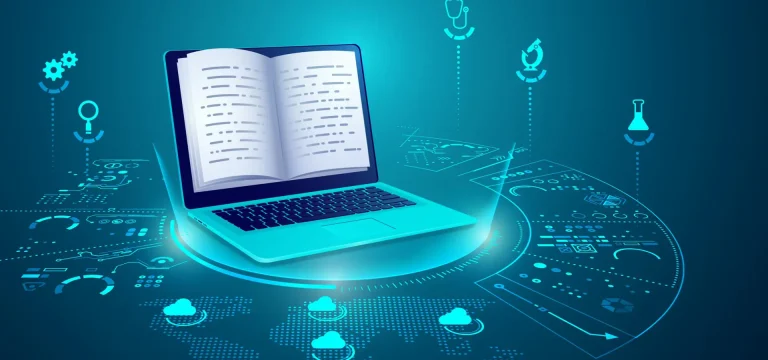Socorro financeiro de Trump e FMI tem objetivos claros: sustentar Milei e seu projeto até as eleições, fazer de Buenos Aires a fortaleza de Washington na América Latina e contrapor-se à presença chinesa. Mas e se o povo argentino disser não?
Thomas Palley – OUTRAS PALAVRAS – 15/10/2025
A Argentina voltou aos noticiários com a renovada turbulência financeira impulsionada pela má reputação política do presidente Milei. Essa má reputação é fruto da indignação com o péssimo desempenho econômico da Argentina e da corrupção maciça dentro do governo Milei, e é um mau presságio para o desempenho de seu partido nas próximas eleições de outubro de 2025.
Em resposta, o FMI e os EUA entraram em ação para salvar o governo de Milei. O FMI já havia fornecido um resgate de US$ 20 bilhões em abril de 2025. Agora, o governo dos EUA forneceu outros US$ 20 bilhões (na forma de uma linha de
swap cambial entre bancos centrais). Além disso, os EUA expressaram disposição para fornecer crédito
stand-by adicional e até mesmo comprar dívida do governo argentino.
A mídia tem se concentrado na longa e problemática história financeira da Argentina, na difícil situação inflacionária que o presidente Milei herdou e na afinidade política do presidente Trump com Milei. No entanto, isso não explica por que o FMI e os EUA forneceram uma assistência tão grande à Argentina, dada a sua falta de credibilidade.
O apoio a Milei deve ser entendido como uma continuação dos empréstimos passados aos presidentes Macri (2015-2019) e Menem (1989-1999). O objetivo é enraizar o neoliberalismo na Argentina e aprisioná-la com dívida em dólar. Ele é apoiado pelas elites locais porque elas são as beneficiárias do neoliberalismo e também porque conseguem saquear o Estado argentino por meio do processo de endividamento.
- A complicada verdade na Argentina
Chegar à verdade na Argentina é como “descascar uma cebola”. Primeiro, é preciso descobrir a real situação econômica, que é fundamentalmente diferente daquela descrita pela mídia mainstream. Em seguida, é preciso introduzir a política e trazer à tona as reais agendas que impulsionam os eventos. Depois, é preciso explicar como esses eventos funcionam e suas consequências.
Uma vez descascada a cebola, a imagem que surge é a de que a assistência financeira do FMI e dos EUA é uma interferência eleitoral visando salvar o presidente Milei e seu programa neoliberal extremista; diminuir a influência econômica da China; e algemar financeiramente a Argentina por meio do endividamento em dólar. Além disso, a assistência permite o saque tácito do Estado argentino pelas elites argentinas e multinacionais americanas. Esse é um quadro muito diferente daquele apresentado pela grande mídia e pelos principais economistas.
- O mito do milagre econômico de Milei
O ponto de partida é o desempenho econômico da Argentina, que tem sido descrito de forma efusiva pela grande mídia como um “milagre econômico”. Por exemplo, o
New York Times declarou que Milei estava “à beira de alcançar um milagre econômico” antes da recente turbulência financeira. Essa formulação é crucial porque distorce a percepção pública, dando legitimidade econômica aos empréstimos do FMI e dos EUA.
A verdade é que não houve milagre. As políticas de Milei foram uma catástrofe tanto para os argentinos comuns quanto para o futuro da Argentina. Essa realidade explica a impopularidade política de Milei, que gerou temores no mercado financeiro.
Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023, e a Argentina está em profunda recessão desde então. A recessão foi causada por uma austeridade fiscal extrema que reduziu drasticamente os serviços públicos e o investimento; uma taxa de câmbio extremamente sobrevalorizada que enfraqueceu a balança comercial; e uma desregulamentação que aumentou os lucros às custas dos salários.
A recessão é visível no colapso da produção industrial e do crescimento do PIB. A produção industrial permanece em queda, mas algum crescimento do PIB finalmente retornou (como sempre iria acontecer porque as economias não encolhem para sempre). No entanto, a recuperação foi fraca e a economia encolheu.
Além disso, o quadro é ainda pior porque o PIB não capta miséria, fome e insegurança. A insegurança alimentar e a fome inicialmente dispararam, com o escorbuto aumentando entre os pobres. A taxa oficial de pobreza agora diminuiu novamente, mas ela subestima a situação por não reconhecer os preços massivamente mais altos da água, gás e eletricidade. As pensões dos aposentados foram dizimadas, os preços dos medicamentos prescritos dispararam, e o governo Milei também reprimiu brutalmente os protestos de aposentados.
As políticas de Milei não apenas causaram uma recessão econômica, mas também sabotaram o futuro da Argentina. O colapso do investimento público e privado significa um estoque de capital menor. Os cortes nos gastos com educação e saúde significam uma população menos educada e mais doente. E o corte no apoio às universidades e às artes é um ataque às indústrias de alto valor do futuro (como tecnologia da informação, ciências médicas e produção cinematográfica), e contribuiu para uma maior fuga de cérebros da Argentina.
Os empréstimos estrangeiros de Milei também significam aumento nos pagamentos de juros futuros, o que sobrecarregará o orçamento do governo, limitará as possibilidades de política econômica e ameaçará permanentemente uma crise financeira.
O único resultado econômico positivo é a taxa de inflação, que caiu significativamente, mas mesmo aqui a história é complicada. A inflação inicialmente aumentou significativamente sob Milei. Embora tenha voltado a cair, ainda está em 35% ao ano. O governo anterior de Fernández perdeu o controle da inflação, mas também herdou uma taxa de inflação de 50% do governo Macri anterior. Além disso, a inflação só acelerou em 2022 quando as consequências da pandemia de Covid surgiram. A taxa de inflação da Argentina saltou cinco vezes, como também aconteceu em outros países. No entanto, dada a alta inflação inicial da Argentina e sua vulnerabilidade estrutural à inflação, o aumento absoluto foi muito maior.
Em suma, não houve nenhum “milagre econômico”. O programa de Milei nunca poderia ou pretendeu produzir prosperidade compartilhada na Argentina. Em vez disso, é um programa ultra-neoliberal que visa baixar a inflação por meio de uma recessão profunda e uma taxa de câmbio sobrevalorizada; aumentar os lucros às custas dos salários por meio da desregulamentação e do enfraquecimento do trabalho; permitir que o capital explore os recursos naturais da Argentina; e usar a austeridade fiscal para destruir as instituições sociais que promovem o bem-estar e o progresso da sociedade.
- O FMI e os EUA: a política do saque e do endividamento
O caráter desastroso do programa econômico de Milei levanta a questão de por que o FMI e os EUA se apressaram em fornecer um resgate financeiro. Isso introduz a questão política. Para Milei, um resgate financeiro é essencial para seu futuro político. As elites argentinas também o apoiam, pois são as beneficiárias do programa. Mas e quanto ao FMI e aos EUA?
3.a O FMI como uma ferramenta útil dos EUA
O FMI é o mais fácil de entender. Ele é dominado pelos EUA e há muito é um bastião do neoliberalismo, ajudando a espalhar e impor esse sistema global nos últimos 40 anos. Isso torna fácil apoiar Milei, que é submisso aos EUA e alinhado com ao ultra-neoliberalismo.
O aspecto incomum do momento atual é a cumplicidade aberta do FMI, que o leva a violar seus próprios protocolos de maneiras que o colocam em risco legal no futuro. As marcas da corrupção política estão por toda parte no empréstimo de US$ 20 bilhões do FMI.
Primeiro, apesar da significativa oposição ao empréstimo dentro do Conselho Executivo do FMI com base no argumento de que o empréstimo não atendia aos padrões de crédito, ele ainda foi forçado a passar pelos EUA e seus aliados. Quando somados aos empréstimos pré-existentes, mais de 40% do total de empréstimos do FMI serão para a Argentina, o que potencialmente coloca a solvência financeira do FMI em risco.
Em segundo lugar, o novo empréstimo foi concedido sem rigorosas condicionalidades econômicas, que são parte integrante dos pacotes de empréstimos do FMI. Essa ausência não se deve à mudança de postura neoliberal do FMI. Trata-se, sim, de uma condição que prejudicaria a economia argentina, comprometendo assim o propósito político do empréstimo, que é ajudar Milei a vencer as eleições de outubro de 2025.
O propósito abertamente político do empréstimo do FMI fica evidente nos comentários de abril de 2025 da Diretora-Geral do FMI, Kristalina Georgieva, que declarou publicamente na reunião anual de primavera do FMI: “O país terá eleições em outubro e é muito importante que elas não descarrilem a vontade de mudança. Até o momento, não vemos o risco se materializando, mas eu instaria a Argentina a manter o rumo.” Suas declarações violam os protocolos fundamentais do FMI que proíbem interferência política.
- Os EUA e a interferência eleitoral na Argentina
O fornecimento de assistência financeira dos EUA não passa nos testes econômicos convencionais, e seu propósito é político. O objetivo é salvar o governo Milei, excluir a China e aprisionar a Argentina com dívida em dólar.
Os EUA intervieram em nome de Milei porque ele é ideologicamente pró-EUA e pró-empresas americanas, enquanto seus rivais são nacionalistas argentinos pragmáticos. Eles acreditam que as empresas (incluindo as multinacionais americanas) devem responder ao Estado argentino e estão dispostos a negociar com a China se isso for em benefício da Argentina. Isso é um anátema para Washington, D.C.
Para os EUA, Milei é o “nosso cara”, que está do lado dos EUA e trata as multinacionais americanas de forma favorável. Emprestar dinheiro à Argentina é uma interferência eleitoral. A esperança é que um empréstimo maciço possa evitar uma crise financeira até depois das eleições para o Congresso em outubro, salvando assim o governo de Milei.
Inicialmente, os EUA pensaram que conseguiriam levar Milei até o fim com empréstimos do FMI, do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No entanto, isso se mostrou insuficiente, obrigando o Tesouro americano a intervir diretamente.
Entre parênteses, esse processo de empréstimos do FMI (e do Banco Mundial e do BID) para fins de interferência eleitoral não é novo. As mesmas táticas foram usadas em 2019 para apoiar o presidente Macri, então o candidato favorito dos EUA. O FMI emprestou US$ 40 bilhões ao governo Macri, o maior empréstimo da história do FMI. Macri perdeu a eleição, os US$ 40 bilhões evaporaram e o governo seguinte ficou com o ônus disso.
O ânimo anti-chinês que motiva a política americana é evidente na condição de que a assistência americana esteja condicionada à substituição do atual acordo de swap cambial da Argentina com a China por um acordo apoiado pelos EUA. O acordo de
swap China-Argentina foi estabelecido em 2009. Ele se baseia na lógica comercial, visto que os países mantêm um comércio massivo e mutuamente benéfico envolvendo produtos manufaturados e agrícolas argentinos. Os EUA querem sabotar essa relação, protegendo a Argentina dos EUA, reduzindo assim seu poder.
Por fim, há indícios de negociações privadas impróprias por parte do Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent. Há relatos de que Bessent impulsionou tanto o empréstimo de abril do FMI quanto a proposta americana de setembro para resgatar seu sócio em Wall Street, Robert Citrone, e outros fundos de Wall Street que haviam apostado especulativamente em títulos argentinos. Essas apostas fracassaram com as crescentes dificuldades políticas de Milei. O resgate de Bessent impulsionou uma recuperação do preço dos títulos argentinos que salvou e beneficiou Wall Street.
- A mecânica do saque e do endividamento da Argentina
A parte óbvia dessas negociações é a interferência eleitoral e o endividamento em dólar. A parte menos óbvia é a mecânica do saque.
O processo de saque centra-se na taxa de câmbio sobrevalorizada que artificialmente torna o peso mais valioso. Isso significa que aqueles com pesos excedentes (ou seja, a elite argentina) podem lucrar com a sobrevalorização comprando dólares a um preço subsidiado. A conta é paga pelo Estado argentino, que vende os dólares que tomou emprestado e se endivida em dólar. Este processo tem sido usado repetidamente por governos argentinos anteriores, pró-negócios e pró-EUA. Ele explica como o empréstimo anterior de US$ 40 bilhões do FMI em 2019 ao presidente Macri evaporou sem deixar rastro.
O processo ficou evidente após o novo empréstimo do FMI. A Argentina suspendeu imediatamente a maioria de seus controles de capital, permitindo que empresas e indivíduos ricos comprassem dólares subsidiados.
O processo também ficou evidente após a declaração de apoio dos EUA. A Argentina suspendeu temporariamente o imposto de exportação de grãos e soja, e houve uma onda massiva instantânea de exportações. Essas exportações saíram isentas de impostos, beneficiando grandes exportadores agrícolas que apoiam a Milei. O Estado argentino perdeu uma enorme quantidade de receita de impostos de exportação, que é essencial para as finanças públicas argentinas. Dado o enfraquecimento dos controles de capital, essas vendas de exportação abundantes puderam então ser convertidas em dólares, causando um golpe duplo. Os exportadores agrícolas sonegaram impostos e compraram dólares subsidiados. O Estado argentino perdeu receita tributária e se endividaram em dólares.
O dólar sobrevalorizado também tem sido usado para saquear a classe média argentina. Essas famílias acumulam dólares como uma forma de poupança para “tempos difíceis”. A recessão econômica causada pelas políticas de Milei as compeliu a vender dólares para chegar ao final do mês. A taxa de câmbio sobrevalorizada significa que elas receberam menos, e seus dólares foram aspirados por aqueles com pesos excedentes. Isso, assim, contribuiu para uma maior redistribuição adversa de riqueza dentro da Argentina.
- Os empréstimos do FMI e dos EUA são “dívida odiosa”
Dívida odiosa, também conhecida como dívida ilegítima, é uma doutrina do direito internacional segundo a qual dívidas contraídas ilegitimamente não precisam ser quitadas. Normalmente, ela é vista pela ótica do caráter do mutuário, mas a fraude também pode ser cometida por credores e mutuários que colaboram. De fato, é mais fácil quando isso acontece.
Para garantir o uso adequado do crédito, os credores têm uma responsabilidade e dever legal de garantir que os fundos sejam usados adequadamente e que os mutuários sejam capazes de reembolsá-los. Os empréstimos do FMI e dos EUA falham nesse teste fundamental, tornando-os dívida odiosa. Os empréstimos foram feitos explicitamente para fins políticos, e não comerciais, e não passam nos testes apropriados de credibilidade.
Além disso, o empréstimo do FMI de abril de 2025 contornou uma lei argentina de 2021 que exigia aprovação congressional para empréstimos do FMI. Essa lei foi explicitamente aprovada para evitar a repetição do saque que ocorreu com o empréstimo de US$ 40 bilhões do FMI em 2019 ao presidente Macri. No entanto, Milei autorizou as negociações por decreto executivo, que só pode ser anulado por uma maioria de dois terços em ambas as casas do Congresso. O FMI e os EUA estão ambos cientes dessa manobra política, o que os incrimina ainda mais.
Nesta fase, para parar o saque adicional e o endividamento em dólar da Argentina, a oposição política deve declarar que as novas dívidas com o FMI e os EUA serão tratadas como odiosas e não pagas. Mesmo que a declaração não tenha força legal imediata, ela deve desencorajar empréstimos adicionais e deslegitimar ainda mais qualquer empréstimo adicional que venha a ocorrer.
- Colonização pela dívida: quo vadis, Argentina?
A história de Milei é a história dos presidentes Macri e Menem, apenas mais cruel. Cada um perseguiu políticas neoliberais extremas baseadas em uma taxa de câmbio sobrevalorizada, endividamento externo, aperto da classe trabalhadora e privatização e desregulamentação.
Cada um deles foi apresentado como um “milagre econômico”, mas nunca foi o caso. Em todas as ocasiões, o Estado argentino foi retratado como o problema fundamental, e em todas as ocasiões o Estado foi saqueado e ainda mais aprisionado por dívidas em dólares, enquanto sua riqueza era transferida para as elites econômicas. E em todas as ocasiões, o FMI e os EUA foram os principais facilitadores.
Os presidentes Milei, Macri e Menem são todos parte de uma história comum. Essa história é o saque neoliberal e o endividamento da Argentina. A interferência eleitoral do FMI e dos EUA pode ainda garantir a vitória de Milei. Se isso acontecer, a Argentina se tornará uma colônia de dívida dos EUA. Também se tornará ainda mais desigual com um ultraneoliberalismo enraizado. A grande mídia e os economistas a descreverão como um milagre, mas será miséria para aqueles que vivenciarem o milagre.