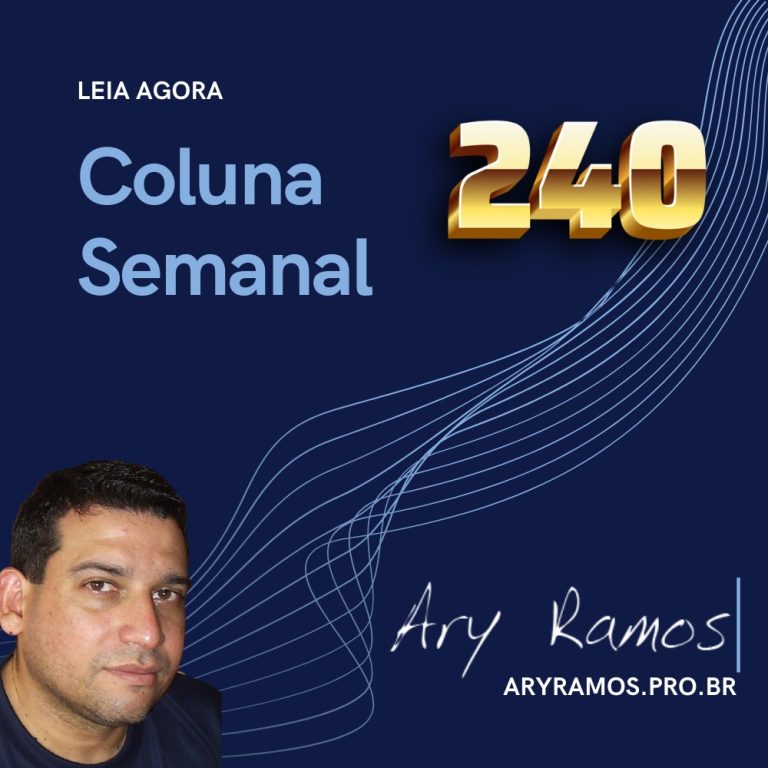Ederson Duda – A Terra é Redonda – 28/06/2025
Enquanto a justiça tributária permanecer refém de privilégios, a democracia brasileira seguirá manca, incapaz de romper o ciclo perverso que transforma desigualdade em destino. É preciso coragem política para confrontar os mitos meritocráticos que blindam a riqueza e estrangulam o futuro coletivo
1.
A sociedade brasileira é marcada historicamente por desigualdades estruturais, profundamente arraigadas no processo de formação econômica e social do país. No centro da reprodução dessas desigualdades encontra-se o conflito distributivo, entendido não apenas como disputa por parcelas da renda nacional, mas como expressão material das lutas de classe em torno da apropriação da riqueza socialmente produzida.
A forma como o sistema tributário brasileiro está estruturado aprofunda ainda mais as desigualdades sociais. A carga tributária regressiva, incidindo fortemente sobre o consumo, penaliza proporcionalmente mais os mais pobres, enquanto os estratos superiores da distribuição de renda são beneficiados por isenções, deduções e pela baixa tributação sobre lucros, dividendos e grandes patrimônios.
Em outras palavras, quem tem menos paga mais, e quem concentra renda e riqueza encontra formas legais de minimizar sua contribuição ao financiamento das políticas públicas (Gobetti; Odair, 2022; Medeiros, 2016; Souza, 2018).
O imposto sobre grandes fortunas, previsto desde a Constituição de 1988, jamais foi regulamentado, enquanto isenções como a de lucros e dividendos (vigente desde 1996) persistem mesmo diante de evidências de sua iniquidade. O resultado é a consolidação de um modelo tributário que penaliza os mais pobres e protege os mais ricos.
Segundo estudo do Ipea com base em dados da Receita Federal, 800 mil contribuintes que ganham em média R$ 449 mil por ano pagam uma alíquota do Imposto de Renda (IR) de no máximo 14,2% – valor equivalente ao que paga um trabalhador assalariado ganhando R$ 6 mil mensais. [I]
De maneira desproporcional, conforme a renda aumenta, a alíquota cai e, com isso, quem ganha R$ 1 milhão paga 13,6%, quem ganha R$ 5 milhões paga 13,2%, e quem recebe R$ 26 milhões paga apenas 12,9%. Trata-se, portanto, de uma clara regressividade, na qual a renda do capital é tributada muito menos que a do trabalho.
A Emenda Constitucional nº 132/2023, que institui uma ampla Reforma Tributária sobre o consumo, representa um avanço institucional relevante ao simplificar tributos e unificar regras entre União, estados e municípios. No entanto, ela mantém inalterado o núcleo regressivo da tributação brasileira: não altera significativamente a estrutura de impostos sobre renda, patrimônio e riqueza.
A não inclusão da tributação sobre lucros e dividendos, assim como a falta de medidas robustas sobre heranças e grandes fortunas, revela os limites políticos da reforma diante da correlação de forças no Congresso Nacional – cuja maioria se articula em frentes conservadoras contra o aumento do imposto sobre quem recebe mais.
Essa configuração faz com que os mais pobres e as classes médias acabem financiando proporcionalmente mais o Estado, em contraste com os muito ricos – que, além de concentrarem a renda, usufruem de mecanismos legais para escapar da tributação direta.
Segundo dados do Ipea, os tributos indiretos – como ICMS, IPI, PIS/Cofins – representam uma carga significativamente maior para os 40% mais pobres, consumindo cerca de 30% de sua renda, enquanto representam apenas cerca de 10% da renda dos 10% mais ricos, evidenciando o caráter regressivo da tributação sobre consumo (Soares; Zockun; Mendonça, 2022).
Além disso, os tributos sobre bens e serviços respondem por 40,2% da arrecadação tributária nacional, comprometendo cerca de 21,2% da renda dos mais pobres, ao passo que os 10% mais ricos destinam apenas 7,8% de sua renda a esse tipo de tributação. [II]
Nesse sentido, a proposta de reforma do Imposto de Renda apresentada pelo governo federal em 2025, que amplia a isenção até R$ 5.000 mensais e institui uma alíquota mínima para rendas superiores a R$ 50 mil, [III] ainda que tímida diante das distorções estruturais do sistema, representa um avanço por contrariar a hegemonia fiscal orientada pela defesa dos interesses do capital financeiro e das elites patrimoniais.
A proposta institui uma alíquota mínima para os super-ricos – menos de 0,2% dos contribuintes –, atuando diretamente sobre o núcleo do conflito distributivo no Brasil, ao corrigir um sistema historicamente regressivo que afeta principalmente os trabalhadores pobres e as classes médias. Enquanto os mais pobres se beneficiam indiretamente, via maior capacidade de consumo e da ampliação das políticas públicas, para as classes médias a medida representa uma ampliação da faixa de isenção, a correção de distorções da tabela e um ganho real de renda. A proposta, assim, contribui para reequilibrar um sistema que há décadas favorece a concentração de renda no Brasil.
2.
Esse desequilíbrio tributário não é apenas técnico, mas profundamente político. A resistência à reforma tributária progressiva, historicamente liderada por setores empresariais e respaldada por parcelas expressivas da classe média, revela um campo de disputa central do conflito distributivo no Brasil. Ainda que as classes médias não estejam no topo da pirâmide, sua rejeição à tributação progressiva expressa um alinhamento ideológico com as frações superiores da elite econômica – seja pelos valores meritocráticos, seja pela defesa do patrimônio herdado ou acumulado.
Fato peculiar na sociedade brasileira é que, desde pelo menos os anos de 1970, o conflito distributivo tem ocorrido principalmente entre as classes médias e as classes populares (Morgan, 2018). Nesse período, o sucesso no aumento da participação da riqueza social por parte de uma classe tem dependido do insucesso da outra. Enquanto isso, os mais ricos têm conseguido manter sua parte na riqueza social praticamente inalterada ao longo do tempo (Souza, 2018).
Essa dinâmica se evidenciou durante os governos petistas (2003-2016), quando o conflito distributivo assumiu uma nova configuração. A ampliação do acesso a bens de consumo, serviços públicos e políticas sociais e afirmativas – como a valorização do salário mínimo, a expansão do crédito, os programas de transferência de renda, as cotas raciais das universidades e a inclusão educacional – proporcionou mobilidade social ascendente às classes populares.
No entanto, à medida que a base da pirâmide social passou a acessar bens e serviços antes exclusivos das classes dominantes, as classes médias vivenciaram um processo de estagnação relativa, tanto em termos de renda como de prestígio social. Já os mais ricos mantiveram sua apropriação da renda praticamente intocável – chegando ao patamar de 30% entre 2014-2016 (Morgan, 2018; Souza, 2018).
As classes médias, ao perceberem que o seu lugar na hierarquia social estava sendo tensionado, reagiram politicamente. Imbuídas de valores meritórios, passaram a atribuir às políticas sociais e afirmativas a responsabilidade pelos obstáculos à sua reprodução social. A narrativa que sustentou essa reação baseava-se na ideia de que os mais pobres, ao serem favorecidos pelas políticas de governo, estavam “furando a fila” da mobilidade social. Ou seja, teriam ascendido não por mérito próprio, mas pela intervenção do Estado no ordenamento social.
A reação às políticas sociais e afirmativas dos governos petistas encontrou sua expressão mais visível nas manifestações de 2015 e 2016 pelo impedimento de Dilma Rousseff. A formação de uma coalizão conservadora teve como objetivo reverter os ganhos das classes populares em defesa de um padrão de acumulação capitalista altamente excludente.
A luta contra a corrupção, nesse contexto, operou como um expediente tático das classes médias, historicamente utilizado de forma seletiva (Martucelli, 2016). As políticas de austeridade aplicadas pelos governos Temer e Bolsonaro – como a reforma trabalhista, a reforma da previdência e a PEC do teto dos gastos – aprofundaram o enfraquecimento do poder de barganha dos trabalhadores, sem, no entanto, eliminar a corrupção (Rugitsky, 2016; Krein; Oliveira; Figueiras, 2019).
Nesse cenário de regressão institucional e fortalecimento de agendas regressivas, a disputa em torno da tributação das grandes fortunas se apresenta como um importante campo de disputa sobre os rumos da sociedade.
3.
A atual proposta de taxação de grandes fortunas, reintroduzida com força no debate político desde a pandemia e reanimada com o governo Lula III, reacende o conflito distributivo em sua forma mais explícita. A resistência dos setores dominantes e segmentos das classes médias à criação de um sistema fiscal mais progressivo revela os limites da solidariedade de classe no Brasil.
Embora o discurso público seja, em parte, favorável à justiça social, verifica-se forte adesão a ideias como “taxar grandes fortunas pode inviabilizar investimentos”, “incentivar a fuga de capitais” ou “punir o sucesso individual”.
O paradoxo aqui é que a própria preservação do modelo regressivo de tributação alimenta a crise fiscal do Estado e o colapso da capacidade de provisão pública, o que, por sua vez, reforça a insatisfação social e legitima agendas privatistas. Temos, assim, um círculo fechado: a desigualdade produzida pela estrutura tributária gera descontentamento nas classes médias, que respondem apoiando projetos regressivos, os quais, por sua vez, reforçam o problema original.
O dilema social que se impõe às classes médias está no confronto entre a defesa da ordem democrática baseada em direitos e a manutenção dos seus privilégios de classe, baseada em seus valores meritocráticos. De um lado, sustentar os valores democráticos requer enfrentar os interesses imediatos dos mais-ricos e aceitar transformações estruturais que afetem seu modo de vida.
De outro, insistir na ideologia meritocrática e na seletividade moral do discurso anticorrupção significa legitimar a superexploração e o privilégio de alguns em detrimento de muitos. Em última instância, o rumo do conflito distributivo dependerá da capacidade das classes populares de se organizarem politicamente e alterarem a correlação de forças, de modo a construir uma nova lógica de apropriação da riqueza social.
Diante desse cenário, iniciativas como o Plebiscito Popular por Justiça Tributária, organizadas por movimentos sociais em 2025, representam uma grande oportunidade de romper com a naturalização da desigualdade tributária e avançar no debate sobre a taxação de grandes fortunas e a ampliação da isenção do Imposto de Renda.
A pressão de baixo para cima, combinada à articulação entre movimentos sociais e outros atores políticos, é uma via concreta para disputar os sentidos da solidariedade no Brasil e transformar um sistema tributário historicamente injusto.
Ederson Duda é doutorando em ciências sociais na Unifesp.
Referências
COSTA, Gilberto. Estudo do Ipea aponta injustiça tributária no Brasil. Agência Brasil, 29/10/2024.
GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio Orair. Tributar lucros e dividendos: efeitos potenciais sobre a progressividade e a arrecadação do IRPF no Brasil. Texto para Discussão, n. 2554. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, 2020.
KREIN, José Darin; OLIVEIRA, Roberto Véras; FILGUEIRAS, Vitor Araújo. Reforma trabalhista no Brasil: promessas e realidade. Campinas: Editora Curt Nimuendajú, 2019.
MARTUSCELLI, Danilo. As lutas contra a corrupção nas crises políticas brasileiras recentes. Crítica e Sociedade: revista de cultura política, Uberlândia, v. 6, n. 2, 2016.
MÁXIMO, Wellton. Entenda a reforma do Imposto de Renda enviada ao Congresso. Agência Brasil, 19/03/2025.
MEDEIROS, Marcelo. Meio século de desigualdades no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 31, nº 90, 2016.
NASCIMENTO, Houldine. Tributos sobre o consumo dominam arrecadação no Brasil. Poder 360, 06/03/2024.
SOARES, Sergio Gobetti; ZOCKUN, Carlos; MENDONÇA, Marcos. Estimativas de alíquotas efetivas da tributação indireta no Brasil: evidências de regressividade e implicações para o debate distributivo. Texto para Discussão, n. 2823. Brasília: Ipea, 2022.
SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de. Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil, 1926-2013. São Paulo: Hucitec: Anpocs, 2018.
RUGITSKY, Fernando. Milagre, miragem, antimilagre: a economia política do governo Lula e as raízes da crise atual. Revista Fevereiro, n°. 9, págs. 40-50 2016.