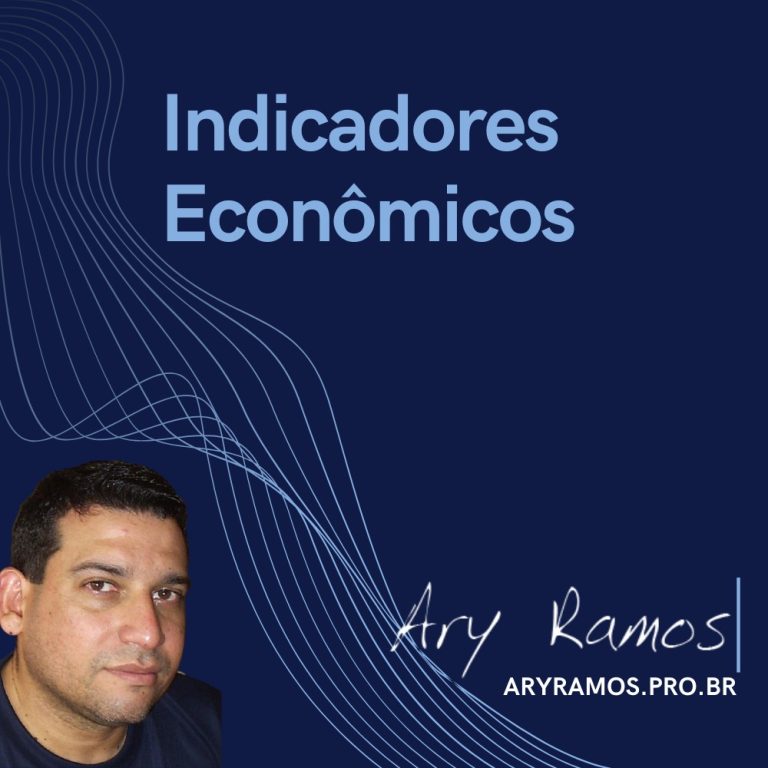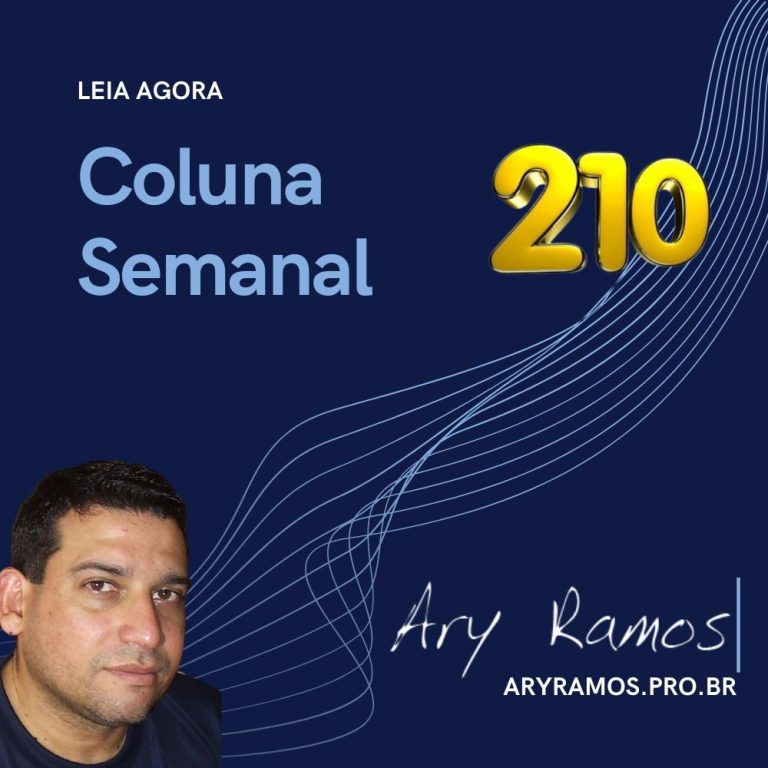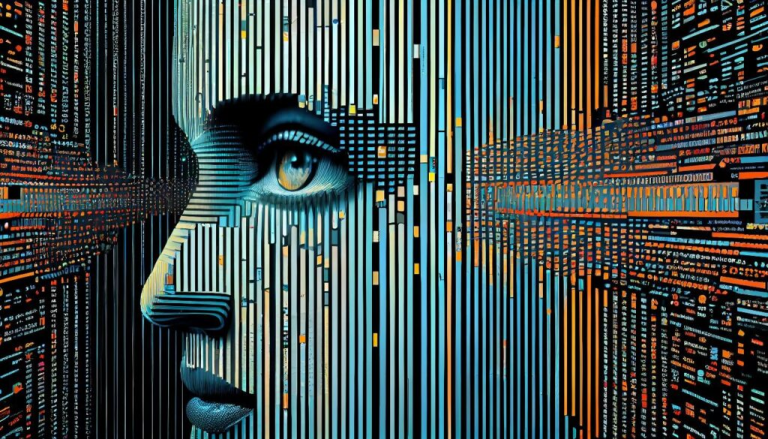Novos senhores do mundo capturam, além da riqueza material, a subjetividade das populações. Que práticas sociais antissistêmicas podem vencê-los, ao usar a “nuvem” para favorecer o compartilhamento e tornar desprezível a acumulação?
Yanis Varoufakis é economista, blogger e político grego membro do partido Syriza. Foi o ministro das Finanças do Governo Tsipras no primeiro semestre de 2015. Varoufakis é um assíduo opositor da austeridade. Desde a crise global e do euro começou em 2008, Varoufakis tem sido um participante ativo nos debates ocasionados por esses eventos.
OUTRAS PALAVRAS – 26/07/2024
Pareceram passar horas até que o artista finalmente apareceu. À sua espera no palco estava um exoesqueleto de metal brilhante, superdimensionado e de aparência robótica, suspenso por um longo cabo no teto alto do espaço de arte – uma antiga usina elétrica convertida, nos arredores de Sydney. Eu estava entre o público na sala de turbinas pouco iluminada, cada vez mais cativado pela trilha sonora e hipnotizado pela máquina elegantemente reluzente.
Era 19 de agosto de 2000 – quase quatro anos antes de Mark Zuckerberg lançar o Facebook, seis anos antes do primeiro tuíte e apenas uns dois anos após a primeira pesquisa no Google. A Internet ainda estava em sua Era da Inocência, e o sonho de que ela fosse um fórum digital aberto, para participantes soberanos e governado por eles, ainda estava vivo.
Por fim, surgiu Stelarc, o artista. Uma vez dentro do exoesqueleto, Stelarc continuaria livre para mover suas pernas como quisesse, mas seus braços seriam controlados remotamente por uma multidão anônima que assistia e participava pela Internet. Stelarc entrou na máquina, que ele chamou de Movatar, e o sistema começou a ser inicializado. Em pouco tempo, ele se conectou à internet, onde estranhos invisíveis o aguardavam.
Ao contrário de um dançarino que cativa com a facilidade de seus movimentos, o Movatar era atraente por sua estranheza. A parte superior do corpo se movia de forma brusca, como se estivesse em oposição às pernas. Seus movimentos desajeitados eram estranhamente comoventes, cheios de significado – mas significando o que exatamente? Senti uma janela se abrindo para a relação entre os seres humanos e suas tecnologias e as mesmas contradições que haviam inspirado Hesíodo.
O Movatar de Stelarc profetizou o que aconteceria conosco quando o capital tradicional evoluísse para o capital em nuvem, de um “meio de produção” para um meio de modificação de comportamento. Stelarc estava apenas experimentando a ideia do pós-humano, mas seu Movatar capturou a essência da realidade futura da humanidade. Na minha visão atual, o Movatar era uma criatura à mercê do capital hiperconectado, orientado por algoritmos e baseado na nuvem. Outro nome para ele seria Homo technofeudalis.
A morte do indivíduo liberal
Para os jovens do mundo atual, fazer a curadoria de uma identidade on-line não é opcional. Suas vidas pessoais tornaram-se um dos trabalhos mais importantes que realizam. Desde o momento em que dão seus primeiros passos on-line, eles sofrem, como o Movatar, com duas exigências espantosamente contraditórias. Eles são ensinados de modo implícito a se verem como uma marca, mas que será julgada de acordo com sua autenticidade percebida. (E isso inclui possíveis empregadores: “Ninguém me oferecerá um emprego”, disse-me uma vez um graduado, “até que eu tenha descoberto meu verdadeiro eu”).
Assim, antes de publicar qualquer imagem, fazer upload de qualquer vídeo, analisar qualquer filme, compartilhar qualquer fotografia ou mensagem, eles devem estar atentos a quem sua escolha agradará ou afastará. Eles devem, de alguma forma, descobrir qual de seus possíveis “eus verdadeiros” será considerado mais atraente, testando continuamente suas próprias opiniões em relação a qual seria a opinião média entre os formadores de opinião on-line.
Toda experiência pode ser capturada e compartilhada e, por isso, eles são continuamente consumidos pela questão de se devem ou não realizá-la. E mesmo que não exista uma oportunidade real para compartilhar a experiência, ela pode ser prontamente imaginada e será. Toda escolha, testemunhada ou não, torna-se um ato na curadoria de uma identidade.
Não é preciso ser um crítico radical de nossa sociedade para ver que o direito a um pouco de tempo diário em que não se está à venda praticamente desapareceu. A ironia é que o indivíduo liberal não foi extinto nem pelos fascistas camisas-pardas, nem pelos guardas stalinistas. Ele foi morto quando uma nova forma de capital começou a instruir os jovens a fazer a mais liberal das coisas: Seja você mesmo! (E seja bem-sucedido nisso!) De todas as modificações comportamentais que o capital em nuvem engendrou e monetizou, essa é certamente sua maior e mais importante conquista.
O individualismo possessivo sempre foi prejudicial à saúde mental. O tecnofeudalismo tornou as coisas infinitamente piores quando demoliu a cerca que costumava oferecer ao indivíduo liberal um refúgio do mercado. O capital em nuvem fragmentou o indivíduo em fragmentos de dados, uma identidade composta de escolhas expressas por cliques, que seus algoritmos são capazes de manipular.
Ele produziu indivíduos que, mais que possessivos, são possuídos — ou, melhor, pessoas incapazes de serem se autopossuírem. Diminuiu nossa capacidade de concentração ao cooptar nossa atenção. Não nos tornamos fracos de vontade. Não, nosso foco foi roubado. E como os algoritmos do tecnofeudalismo são conhecidos por reforçar o patriarcado, os estereótipos e as opressões preexistentes, os mais vulneráveis – as meninas, os doentes mentais, os marginalizados e, sim, os pobres – são os que mais sofrem com o resultado.
Se o fascismo nos ensinou alguma coisa, foi a nossa suscetibilidade a estereótipos demonizadores e a terrível atração produzida por emoções como a hipocrisia, o medo e a inveja. Em nosso mundo tecnofeudal, a Internet traz o temido e odiado “outro” para mais perto, bem na sua cara. E, como a violência on-line parece sem sangue e anódina, é mais provável que respondamos a esse “outro” on-line com insultos, linguagem desumana e bile.
O fanatismo é a compensação emocional do tecnofeudalismo para as frustrações e ansiedades que sentimos em relação à identidade e ao foco. Os moderadores de comentários e a regulamentação do discurso de ódio não podem impedir isso porque é intrínseco ao capital da nuvem, cujos algoritmos otimizam a renta da nuvem, a qual flui mais copiosamente do ódio e do descontentamento.
Diante do tecnofeudalismo, agir sozinho, isolado, como indivíduo liberal, não nos levará muito longe. Cortar o acesso à internet, desligar nossos telefones, usar dinheiro em vez de plástico pode ajudar por um tempo, mas não é solução. A menos que nos unamos, nunca civilizaremos ou socializaremos o capital em nuvem e, portanto, nunca recuperaremos nossas próprias mentes de suas garras.
E aqui reside a maior contradição: para resgatar essa ideia liberal fundamental – de liberdade como algo próprio – será necessária uma reconfiguração abrangente dos direitos de propriedade sobre os instrumentos de produção, distribuição, colaboração e comunicação cada vez mais baseados na nuvem. Para ressuscitar o indivíduo liberal, precisamos fazer algo que os liberais detestam: planejar uma nova revolução.
Por que o tecnofeudalismo não pode ser domado pela política da mesma forma que o capitalismo foi contido, pelo menos por um tempo, por governos social-democratas?
Os social-democratas conseguiram fazer a diferença em uma época em que o poder estava nas mãos do velho capital industrial. Eles atuaram como árbitros entre os trabalhadores organizados e os capitães da indústria manufatureira, metaforicamente (e às vezes literalmente), fazendo-os sentar em torno de uma mesa e forçando-os a fazer concessões. O resultado foi, por um lado, melhores salários e condições para os trabalhadores e, por outro lado, o desvio de uma parte dos lucros do setor para aposentadorias, hospitais, escolas, seguro-desemprego e artes.
Porém, quando o poder passou do setor industrial para o financeiro após a morte do acordo de Bretton Woods em 1971, os social-democratas europeus e os democratas americanos foram atraídos para uma barganha faustiana com os banqueiros de Wall Street e de Londres, Frankfurt e Paris. A barganha era crua e simples: os social-democratas no governo libertaram os banqueiros das amarras da regulamentação. “Fiquem loucos! Regulamentem a si mesmos”, disseram a eles. Em troca, os financistas concordaram em entregar as migalhas de sua mesa substancial, na forma de uma pequena porção de seus ganhos gigantescos com a financeirização raivosa, para financiar o estado de bem-estar social.
Em termos homéricos, os social-democratas haviam se tornado os comedores de lótus da época. Ao se empanturrarem com a financeirização, tornaram-se intelectualmente lassos e moralmente cúmplices de suas práticas. Seu suco melado os levou a acreditar que o que antes era arriscado agora não era mais, que essa galinha mágica sempre botaria ovos de ouro e que, se esses ovos pudessem ser usados para financiar o estado de bem-estar social, então tudo o mais que a galinha fizesse poderia ser justificado.
Quando em 2008 o capital financeiro desmoronou, eles não tinham as ferramentas mentais e os valores morais para dizer aos banqueiros: “Chega! Podemos salvar os bancos, mas não vocês”. Daí a combinação letal de socialismo para banqueiros e austeridade para quase todos os outros, que estagnou nossas economias e, ao mesmo tempo, financiou a ascensão dos nebulosos.
Antigamente, os social-democratas tinham um certo poder sobre os industriais porque contavam com o apoio dos sindicatos e podiam ameaçar com regulamentações dolorosas. Hoje, os nebulosos não temem sindicatos poderosos, porque os proletários das nuvens são fracos demais para formá-los, e os servos das nuvens nem sequer se consideram produtores.
Quanto à regulamentação, ela tem funcionado por meio do controle dos preços ou do desmantelamento de cartéis. Na Era do Capital na Nuvem, os defensores da nuvem se sentem seguros com a ideia de que nenhuma das duas faz sentido. A regulamentação de preços é irrelevante quando os serviços dos quais os consumidores precisam já são gratuitos ou os mais baratos do mercado.
Quanto a desmembrar estas corporações, como o presidente Theodore Roosevelt fez com Rockefeller ao dividir a Standard Oil e outros cartéis, isso só era possível nos velhos tempos do capital terrestre. A Standard Oil era composta por postos de gasolina, refinarias e sistemas de transporte de combustível espalhados por toda a América do Norte. Dividi-la em empresas petrolíferas regionais e incentivá-las a competir entre si foi politicamente difícil, mas tecnicamente muito fácil. Mas como dividir a Amazon, a Meta, o PayPal ou a Tesla hoje em dia?
Os defensores da nuvem sabem que podem destruir qualquer desenvolvedor terceirizado (ou seja, um capitalista vassalo, que ganha a vida em seu feudo na nuvem), que ouse entrar em contato com um de seus usuários (ou seja, os servos da nuvem) sem antes pagar uma renta. Eles sabem que podem tratar seus usuários como quiserem – qual foi a última vez que alguém recusou os termos e condições de uma atualização de software? – por causa dos reféns que têm em mãos: nossos contatos, amigos, históricos de bate-papo, fotos, músicas, vídeos, todos os quais perderemos se mudarmos para um feudo de nuvem concorrente.
E eles sabem que há pouco que o Estado possa fazer para impedi-los. Ao contrário das empresas telefônicas nacionais, que nossos governos nacionais forçaram a cobrar as mesmas tarifas ao ligar para clientes de empresas concorrentes, como eles podem forçar o X (antigo Twitter) a compartilhar o acúmulo de todos os seus tuítes, fotos e vídeos com, digamos, o Mastodon?
Mas qual é a alternativa ao tecnofeudalismo? E como vamos construí-la?
Empresas democratizadas
Imagine uma corporação na qual cada funcionário tem uma única ação, que recebe ao ser contratado, da mesma forma que um estudante recebe um cartão da biblioteca ao se matricular na universidade. Essa ação, que não pode ser vendida ou alugada, concede a cada funcionário um único voto. Todas as decisões – contratação, promoção, pesquisa, desenvolvimento de produtos, preços, estratégia – são tomadas coletivamente, com cada funcionário exercendo seu voto por meio da intranet da empresa, que funciona, portanto, como uma assembleia permanente de acionistas. A igualdade de propriedade não significa, entretanto, igualdade de remuneração.
O pagamento é determinado por um processo democrático que divide as receitas da empresa após o pagamento dos impostos em quatro fatias: uma para cobrir os custos fixos (como equipamentos, licenças, contas de serviços públicos, aluguel e pagamentos de juros), outra reservada para P&D, uma fatia da qual é feito o pagamento básico aos funcionários e, por fim, uma fatia para bônus. Novamente, a distribuição entre essas quatro fatias é decidida coletivamente, na base de uma pessoa igual a um voto.
Qualquer proposta de aumento de uma fatia deve ser acompanhada de uma proposta de redução de despesas em uma ou mais das outras fatias. As propostas concorrentes são submetidas a uma votação em que os funcionários-acionistas classificam cada proposta em ordem de preferência por meio de um formulário de cédula eletrônica. Se nenhum plano obtiver a maioria absoluta das primeiras preferências, ocorrerá um processo de eliminação. O plano com o menor número de primeiras preferências é eliminado e seus votos de primeira preferência são realocados para a segunda preferência do eleitor. Esse processo algorítmico simples é repetido até que um plano de negócios obtenha mais da metade dos votos expressos.
Depois de determinar as quantias de dinheiro que a empresa gastará com as várias fatias do bolo, a parcela do salário básico é dividida igualmente entre todos os funcionários, desde pessoas recentemente empregadas como secretárias ou faxineiras até os principais designers ou engenheiros da empresa. Isso deixa uma pergunta importante sem resposta: Como eles decidem a distribuição da fatia do bônus entre os funcionários?
A resposta é: por meio de uma variante do esquema de votação que ficou famoso no Festival Eurovision da Canção, no qual cada país participante recebe um número definido de pontos que pode atribuir às músicas de todos os outros países. Com esse espírito, uma vez por ano, cada funcionário recebe cem tokens digitais para distribuir entre seus colegas.
A ideia é simples: você distribui esses tokens para os colegas que você acredita terem contribuído mais durante o ano anterior. Depois que os tokens forem distribuídos, a fatia total do bônus será alocada proporcionalmente ao número de tokens que cada funcionário recebeu de seus colegas.
O impacto da legislação desse sistema de governança corporativa seria o equivalente a um grande cometa se chocando contra o alicerce do tecnofeudalismo. No nível mais superficial, libertaria os funcionários da tirania de gerentes egoístas, mas em um nível estrutural, faria muito mais.
Primeiro, eliminaria a distinção entre salários e lucros; assim, temos propriedade coletiva e eliminamos a divisão fundamental de classes entre aqueles que são proprietários e recebem lucros ou rentas e aqueles que alugam seu tempo por um salário. Também abolimos o mercado de ações – apenas um funcionário pode ter uma ação em uma empresa, ela não pode ser vendida ou alugada – cortando assim o cordão umbilical que liga as finanças e a especulação do mercado de ações.
De uma só vez, acabamos com a financeirização e destruímos o private equity [participação privada]. Muito provavelmente, também acabamos com a necessidade de órgãos reguladores cuja função é acabar com as grandes corporações antes que elas estabeleçam monopólios. Como a tomada de decisões coletivas se torna difícil em empresas acima de um determinado tamanho – digamos, 500 pessoas -, parece muito provável que os funcionários acionistas não as formem e, no caso de conglomerados já formados, votem para dividi-las em empresas menores.
A maioria das pessoas que conheço, incluindo as gerações de alunos que ensinei, supõe que o capitalismo é igual a mercados. Que o socialismo deve significar o fim dos preços como sinais para produtores e consumidores. Nada poderia estar mais longe da verdade. As empresas capitalistas são zonas livres de mercado, dentro das quais um processo não mercantil extrai a mais-valia dos funcionários, que então assume a forma de rentas, lucro e juros. Quanto maior a empresa e quanto mais capital em nuvem ela emprega, maiores são os aluguéis que ela extrai de uma sociedade cujos mercados não funcionam bem como resultado.
Em contrapartida, as empresas democratizadas que proponho aqui são mais consistentes com mercados competitivos que funcionam bem, nos quais os preços – livres do flagelo do aluguel e do poder de mercado concentrado – são formados. Em outras palavras, a eliminação das empresas capitalistas, por meio do fim dos mercados de trabalho e de ações, prepara o terreno para mercados realmente competitivos de produtos e para um processo de formação de preços que impulsiona o grande motor do empreendedorismo e da inovação que o pensamento convencional, erroneamente, associa ao capitalismo.
O que tudo isso significaria para os rentistas, ou senhores das nuvens [cloudalists]? Os vários Bezoses, Zuckerbergs e Musks acordariam e descobririam que possuíam uma única ação em “sua” empresa, o que lhes daria um único voto. Em cada item da agenda de tempo contínuo do processo de tomada de decisões da Amazon, Facebook, X ou Tesla, eles teriam que influenciar a maioria de seus colegas, funcionários-acionistas igualmente capacitados.
O controle sobre o capital em nuvem da empresa, incluindo os poderosos algoritmos em seu centro, seria democratizado, pelo menos dentro dos limites da empresa. Mesmo assim, a potência do capital em nuvem não seria menor – sua natureza como meio de modificação comportamental permaneceria inalterada – e, portanto, a sociedade precisaria de proteções adicionais contra ele.
Uma dessas proteções seria uma Lei de Responsabilidade Social que estipulasse que todas as empresas fossem classificadas de acordo com um índice de dignidade social, a ser compilado por painéis de cidadãos selecionados aleatoriamente — o equivalente a júris — escolhidos de um conjunto diversificado de partes interessadas: os clientes da empresa, membros das comunidades que ela afeta e assim por diante. Se a classificação de uma empresa cair consistentemente abaixo de um determinado limite, uma investigação pública poderá resultar no cancelamento do registro da empresa. Uma segunda proteção social, ainda mais pertinente, é proporcionada pelo fim de serviços “gratuitos”.
Aprendemos da maneira mais difícil o que acontece quando os serviços são financiados pela venda da atenção dos usuários a terceiros. Isso transforma os usuários em servos da nuvem, cujo trabalho aprimora e reproduz o capital da nuvem, aumentando ainda mais seu controle sobre nossas mentes e nosso comportamento. Para substituir a ilusão de serviços gratuitos, nossa realidade alternativa apresenta uma plataforma de micropagamento. Vamos chamá-la de “Penny For Your Thought”.
Isso funciona um pouco como o modelo de assinatura da Netflix, mas combinado com o princípio de fornecimento universal do NHS, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Os desenvolvedores de aplicativos que precisam de nossos dados teriam que pagar para obtê-los de usuários que consentem, protegidos por uma Declaração de Direitos Digitais que garante a todos nós o direito de escolher quais de nossos dados serão vendidos e para quem.
A combinação da plataforma de micropagamento com a Declaração de Direitos Digitais encerra, na prática, o atual modelo de mercado. Qualquer pessoa que use um aplicativo paga ao desenvolvedor pelo acesso a ele. As somas envolvidas são pequenas para o indivíduo, mas para um aplicativo com um grande número de usuários, elas se acumulam. Isso não impediria que algumas pessoas tivessem condições de pagar pelos serviços digitais de que precisam? Não, devido à forma como o dinheiro funciona nesse sistema alternativo.
Dinheiro democratizado
Imagine que o Banco Central fornecesse a todos uma carteira digital gratuita, efetivamente uma conta bancária gratuita. Para atrair as pessoas a usá-la, um depósito (ou dividendo básico) é creditado mensalmente em cada conta, tornando a renda básica universal uma realidade. Dando um passo adiante, o banco central paga juros àqueles que transferem dinheiro de suas poupanças em bancos comerciais para sua nova carteira digital. Com o tempo, haveria um êxodo em massa (se não total), à medida que as pessoas transferissem suas economias de bancos privados para esse novo sistema público de pagamentos e economias digitais. Isso não exigiria que o Banco Central cunhasse grandes quantidades de dinheiro?
Sim, os depósitos terão de ser dinheiro cunhado novamente, embora não em um ritmo que exceda as quantidades que os Bancos Centrais vêm emitindo desde 2008 para apoiar bancos privados permanentemente instáveis. Quanto ao restante do dinheiro, ele já foi criado pelos bancos privados. Tudo o que acontece aqui é que ele migra do livro-razão inseguro dos bancos privados para o livro-razão seguro do Banco Central.
À medida que as pessoas e as empresas começarem a pagar umas às outras usando esse sistema, todo o dinheiro permanecerá no registro do Banco Bentral, passando de uma parte para outra a cada transação, em vez de ficar disponível para os banqueiros e seus acionistas fazerem apostas.
Isso faz com que os Bancos Centrais deixem de ser servos complacentes de banqueiros privados e passem a ser algo como um Comum monetário. Para supervisionar suas operações, inclusive a quantidade de dinheiro no sistema e a privacidade das transações de cada pessoa, o Banco Central é responsável, e monitorado por um Júri de Supervisão Monetária composto por cidadãos selecionados aleatoriamente e especialistas de diversas profissões.
E quanto ao investimento? Nesse sistema, você pode emprestar suas economias para uma start-up ou para uma empresa madura, mas não pode comprar uma parte de nenhuma empresa, já que as ações são distribuídas exclusivamente na base de um funcionário — uma ação. Em vez disso, você pode emprestar suas economias diretamente, usando a carteira digital do Banco Central ou por meio de um intermediário — mas com uma regra crucial. Esse intermediário não pode criar dinheiro do nada, como os bancos fazem hoje sempre que emitem um empréstimo. Ele deve negociar com fundos já existentes de poupadores de fato existentes.
E quanto à tributação? Lembre-se de que há três tipos de renda. Primeiro, os dividendos básicos creditados nas carteiras digitais dos cidadãos pelo Banco Central. Segundo,os ganhos provenientes do trabalho nas empresas democratizadas, que incluem o salário básico mais os bônus. Terceiro, os juros pagos aos poupadores pelo Banco Central ou por intermediários privados. Nenhuma dessas rendas é tributada. Tampouco há impostos sobre vendas, IVA ou qualquer coisa do gênero.
E quem financia o Estado? Toda empresa o faz por meio de um imposto fixo sobre todas as receitas — por exemplo, 5%. Observe que essa é uma parcela fixa das receitas totais, não dos lucros, o que evita o espaço infinito para truques contábeis que disfarçam as despesas como custos a fim de reduzir a renda tributável das empresas. Os únicos outros impostos incidem sobre terrenos e edifícios comerciais, discutidos mais adiante.
Quando se trata de comércio e pagamentos internacionais, um novo sistema financeiro internacional garante transferências contínuas de riqueza para o Sul Global, ao mesmo tempo em que restringe o comércio e os desequilíbrios financeiros do tipo que infla bolhas e causa colapsos financeiros. A ideia é que todos os movimentos comerciais e monetários entre diferentes jurisdições monetárias – como Reino Unido, Alemanha, China e Estados Unidos – sejam denominados em uma nova unidade contábil internacional digital, que chamei de Kosmos.
Se o valor Kosmos das importações de um país exceder suas exportações, será cobrada do país uma taxa de desequilíbrio, proporcional ao seu déficit comercial. Da mesma forma, se as exportações de um país excederem suas importações, também será cobrado o mesmo tributo na proporção de seu superávit comercial. Isso acaba com o motivo mercantilista de um país extrair persistentemente o valor de outro país vendendo a ele mercadorias de maior valor do que as que ele importa e, posteriormente, emprestando-lhe o dinheiro para continuar comprando dele – uma forma de financiamento de fornecedores que coloca o país mais fraco em uma situação de dívida permanente.
Enquanto isso, uma segunda taxa especulativa é cobrada da conta Kosmos de um país sempre que uma quantidade excessiva de dinheiro sai ou entra muito rapidamente no país. Durante décadas, os países em desenvolvimento foram prejudicados sempre que o dinheiro de curtíssimo prazo, detectando o crescimento econômico futuro (por exemplo, na Coreia do Sul, Tailândia e alguns países africanos), corria para comprar terras e empresas antes que seu preço subisse. Com o aumento da entrada de dinheiro, os preços dos terrenos e das empresas dispararam e surgiram falsas expectativas em relação ao nível de crescimento, inflando assim as bolhas.
No momento em que as bolhas estouram, como inevitavelmente acontece, o dinheiro “esperto” sai do país mais rápido do que havia entrado, deixando apenas vidas e economias arruinadas. O objetivo, portanto, da taxa de especulação é tributar esses movimentos especulativos de dinheiro para impedir danos desnecessários aos países mais fracos. Os rendimentos desses dois impostos são usados para financiar investimentos verdes diretos no Sul Global.
O sistema de um trabalhador — uma ação — um voto tem efeitos revolucionários: acaba com os mercados de ações e de trabalho e com a hegemonia do Capital; democratiza os locais de trabalho e diminui organicamente o tamanho dos conglomerados. A reconfiguração do livro-razão do Banco Central como um sistema comum de pagamento e poupança tem efeitos igualmente revolucionários: sem de fato banir os bancos privados, ela tira o tapete que está debaixo de seus pés, libertando-nos da dependência deles para fazer pagamentos ou armazenar nossas economias.
Além disso, a garantia de dividendos para os trabalhadores revoluciona nossa maneira de pensar sobre o trabalho, o tempo e o valor, libertando-nos da equação moral opressiva de trabalho árduo remunerado e virtuoso. Por fim, o sistema Kosmos equilibra o fluxo e o refluxo internacional de bens e dinheiro, evitando a exploração das economias mais fracas pelas mais poderosas e, ao mesmo tempo, financiando investimentos verdes nas partes do mundo em que eles mais necessários.
Esses são os elementos fundamentais de uma economia liberada da tirania do capital e, portanto, capaz de negar ao tecnofeudalismo o ponto de apoio necessário para nos dominar. Agora surge a pergunta: como exatamente libertamos nossas sociedades da tirania da renta – a antiga variedade da renda do solo, que sobreviveu à derrota do feudalismo pelo capitalismo, e os aluguéis das nuvens nos quais o tecnofeudalismo se baseia?
A nuvem e a terra como bens comuns
O café está quase pronto. Seu laptop está sendo inicializado. Em pouco tempo, com a caneca de café na mão, você está lendo o feed de notícias da manhã em um site de mídia administrado pela biblioteca do seu bairro. O primeiro item nas notícias diz respeito a um referendo local que está por vir, o segundo é transmitido do Brasil sobre a luta para compensar os povos indígenas por décadas de extração ilegal de madeira, o terceiro relata um debate entre os atuais membros do Júri de Supervisão Monetária sobre se o Banco Central deve reduzir a taxa de juros que os poupadores recebem ou, alternativamente, aumentar o dividendo básico de todos.
Tudo isso é um pouco áspero para o seu gosto. Então, com o cuidado de evitar as páginas de esportes, você clica na sua seção favorita, que é dedicada à arqueologia e é constantemente atualizada por pesquisadores de todo o mundo. Sim, isso faz seu pulso acelerar!
Seu feed de notícias e as seções que o acompanham são compilados por um algoritmo calibrado e mantido pelo centro de mídia pública local que, por sua vez, é de propriedade do seu município, mas controlado por pessoas locais selecionadas por meio de uma combinação de sorteios e eleições. Às vezes, você fica entediado com o feed de notícias e passa a usar um mapa-múndi digital cheio de pontos, cada um representando outros centros de mídia pública locais, cujos feeds de notícias você pode acessar com um clique.
Toda vez que você visita um centro de mídia fora da sua área, um pequeno pagamento sai da sua conta bancária central e ajuda a financiar as pessoas generosas que lhe oferecem uma janela para o mundo delas. Sem anúncios, sem algoritmos de modificação de comportamento. Esses pequenos pagamentos são insignificantes em comparação com o dividendo básico pago a você pelo Banco Central mensalmente. Além disso, pagá-los faz você se sentir bem. Eles asseguram a você – e a todos os outros – a civilização. Eles lhe oferecem uma janela para o mundo, para centros de mídia cooperativos espalhados por todo o planeta, que se esforçam ao máximo para fornecer informações boas, diversificadas e empolgantes, conhecimento e um toque de sabedoria – como seu meio de comunicação local anuncia seus produtos.
Sua caneca de café está vazia, é hora de ir para o trabalho. Você toca no aplicativo de viagens do seu telefone, também fornecido pela prefeitura, e depois toca novamente em “trabalho”. Aparece uma lista de tarifas oferecidas por várias cooperativas de motoristas, juntamente com informações sobre onde e quando você pode pegar o ônibus ou trem mais próximo.
Você se lembra com um breve tremor dos dias de Uber e Lyft, aqueles feudos na nuvem que exploravam a mão de obra dos motoristas, transformando-os em proletários na nuvem, e os dados dos passageiros, transformando você em um servo na nuvem. A má lembrança se dissipa quando você se lembra de que, agora, os motoristas-proprietários e a equipe de transporte público controlam os algoritmos, e não o contrário. E você sai com um ânimo a mais, agora que não é mais empregado de uma empresa capitalista, de propriedade de empresas de fachada opacas, que o tratavam como um cruzamento entre um robô e um alimento humano. A vida ainda é um campo minado de preocupações, especialmente porque podemos ter destruído o clima de forma irreparável, mas pelo menos o trabalho não é sistematicamente destruidor de almas.
No trabalho, você tem um aplicativo em seu telefone que lhe dá acesso a todos os tipos de cédulas de votação de acionistas e funcionários, algumas das quais você vota e outras opta por ignorar. Se você tiver uma ideia para uma nova maneira de fazer as coisas ou um novo produto, você a publica no Quadro de Ideias da empresa e espera para ver quem, entre seus colegas, quer trabalhar com você para desenvolvê-la. Se ninguém quiser, você ainda poderá publicar a ideia novamente quando ela estiver mais bem desenvolvida. As coisas não são perfeitas. A natureza humana sempre encontra maneiras de bagunçar até mesmo o melhor dos sistemas. Seus colegas, se reunirem a maioria, podem votar para que você seja demitido. Mas a atmosfera no trabalho agora é de responsabilidade compartilhada, o que reduz o estresse e cria um ambiente no qual o respeito mútuo tem mais chances de florescer.
A caminho de casa, quando o táxi sai da zona comercial, você relembra os tristes tempos em que, para ter um lugar para morar, as pessoas tinham que escolher entre a escravidão da dívida hipotecária e o aluguel; entre a vida em servidão ao banqueiro ou ao proprietário; entre taxas hipotecárias predatórias e aluguéis vorazes. Atualmente, cada região é administrada por uma Associação de Condados que supervisiona a divisão de terras entre zonas comerciais e sociais, de modo que os aluguéis cobrados das primeiras financiem o fornecimento de moradias sociais nas segundas.
Como de costume, as pessoas que oficiam na Associação do Condado são selecionadas aleatoriamente, com a ajuda de um algoritmo que garante uma representação justa dos vários grupos e comunidades do condado. O lar não é mais uma fonte constante de ansiedade, mas um lugar onde você se sente capaz de criar raízes a longo prazo.
Vou deixá-lo imaginar o resto de sua vida nesse presente alternativo, enquanto explico um pouco mais sobre o aspecto mais crucial: a posse da terra e da propriedade, o mais antigo dos fundamentos dos sistemas feudal e capitalista e o compartilhamento do poder.
A chave para o sistema de cobrança de aluguel na zona comercial é o Permanent Auction Subletting Scheme (PASS), um mecanismo criado para garantir que as comunidades possam extrair o máximo de aluguéis de suas zonas comerciais para investir em suas zonas sociais. O PASS funciona um pouco como o famoso truque para distribuir um bolo de forma justa entre duas pessoas: uma pessoa corta, a outra escolhe. Com o mesmo espírito, o PASS cria um leilão permanente que coloca os atuais ocupantes de um espaço comercial contra os possíveis ocupantes.
Uma vez por ano, como ocupante atual na zona comercial, você deve visitar o PASS e enviar a avaliação do seu imóvel com base em duas regras. Primeiro, o PASS calculará seu aluguel mensal como uma parte fixa do valor de mercado declarado por você mesmo – sem auditorias, sem burocracia, sem pechinchas, sem agentes imobiliários. Ótimo, não é? Mas aí vem a segunda regra: qualquer pessoa pode, a qualquer momento no futuro, visitar o PASS e oferecer uma avaliação mais alta; nesse caso, você está fora e eles estão dentro de seis meses.
Essa segunda regra garante que você tenha um incentivo para declarar sua avaliação da forma mais verdadeira e precisa possível. Se você exagerar na sua avaliação real, acabará pagando um aluguel maior do que o valor do imóvel. E se a subestimar, aumentará as chances de se arrepender de sua avaliação – no momento em que alguém oferecer um valor mais alto, mais próximo de sua avaliação real, e, ao fazê-lo, o expulsar.
A beleza do PASS é que a Associação do Condado não precisa definir os aluguéis na zona comercial. Em primeiro lugar, seu trabalho é simplesmente decidir quais terrenos e edifícios devem ser designados para as zonas comerciais e quais para as zonas sociais. Se eles reservarem muitos terrenos para as zonas sociais, terão menos dinheiro para investir nelas. Por outro lado, a expansão das zonas comerciais deixa menos espaço para moradias sociais e empresas sociais. Uma vez que a Associação de Condados tenha decidido como resolver a troca, sua segunda tarefa, mais difícil, o aguarda: definir os critérios de acordo com os quais as habitações sociais – especialmente as casas mais desejáveis – serão distribuídas. Essa é a parte mais difícil de resolver. Portanto, é fundamental saber quem faz parte da County Association.
Uma Associação de Condados eleita substituiria a tirania da propriedade da terra pela tirania dos sistemas eleitorais, que têm uma propensão inerente a gerar hierarquias poderosas. Sabendo disso, os antigos democratas atenienses se opuseram às eleições e as substituíram por loterias – a ideia na qual o sistema de júri ocidental tem suas raízes. Se alguma coisa pode recriar uma terra comum em uma sociedade tecnologicamente avançada, certamente é a sua Associação de Condados, composta por moradores selecionados aleatoriamente.
O mesmo princípio se estende além das regiões e dos condados para a governança de sua nação como um todo, que ocorre com a ajuda de uma Assembleia de Cidadãos nacional. Composta por cidadãos selecionados aleatoriamente de todo o país, ela funciona como um banco de testes de ideias, políticas e legislação. A deliberação de seus membros jurados ajuda a moldar os projetos de lei que o Parlamento debate e aprova posteriormente. O “demos”, finalmente, foi colocado de volta na democracia.
Uma rebelião nas nuvens
Em um mundo cada vez mais dominado pelo capital nas nuvens, que é produzido em grande parte pelo trabalho gratuito de servos das nuvens não assalariados, organizar o proletariado – e, de fato, o precariado – não será suficiente. Não estou sugerindo que a organização de trabalhadores de fábrica, maquinistas de trem, professores e enfermeiras não seja mais necessária. O que estou dizendo é que isso está longe de ser suficiente. Para ter alguma chance de derrubar o tecnofeudalismo e colocar o demos de volta na democracia, precisamos reunir não apenas o proletariado tradicional e os proletários das nuvens, mas também os servos das nuvens e, de fato, pelo menos alguns dos capitalistas vassalos. Nada menos do que uma grande coalizão que inclua todos eles podem minar suficientemente o tecnofeudalismo.
Pode parecer uma tarefa difícil – e é. Mas a resistência ao poder exorbitante do capital sempre foi uma tarefa difícil. Quando penso no que foi necessário para organizar um sindicato no século XIX, fico arrepiado. Trabalhadores, mineiros, estivadores, tosquiadores e costureiras enfrentavam espancamentos da polícia montada e violência de bandidos a serviço dos capitalistas. Acima de tudo, eles enfrentaram a perda de seus empregos em uma época em que abrir mão de um dia de salário significava fome para suas famílias. Mesmo quando conseguiam realizar uma greve bem-sucedida, qualquer aumento salarial que garantissem era compartilhado pelos não grevistas, aumentando um cálculo que já pesava muito contra a mobilização. Mesmo assim, eles se mobilizaram. Fizeram isso contra todas as probabilidades, esperando perdas pessoais enormes em troca de benefícios compartilhados pequenos e incertos.
O tecnofeudalismo ergue uma nova e grande barreira à mobilização contra ele. Mas também concede um novo e grande poder àqueles que ousam sonhar com uma coalizão para derrubá-lo. A nova grande barreira é o isolamento físico dos servos da nuvem e dos proletários da nuvem uns dos outros. Interagimos com o capital da nuvem e estamos sujeitos a ele por meio de nossas telas individuais, de nossos telefones celulares pessoais, dos dispositivos digitais que monitoram e gerenciam os funcionários dos depósitos da Amazon. A ação coletiva se torna mais difícil quando as pessoas têm menos oportunidades de se reunir. Mas é aí que reside o grande poder que o capital em nuvem apresenta aos seus rebeldes em potencial: a capacidade de criar coalizões, organizar e agir por meio da nuvem.
Em seus primórdios, essa era uma das promessas do Twitter, é claro: que ele poderia permitir a mobilização das massas. Da Primavera Árabe ao Black Lives Matter, vimos até que ponto essa promessa foi cumprida e até que ponto não foi. Mas não estou falando apenas de uma mobilização por meio da nuvem, mas de ações que poderiam realmente ocorrer usando os sistemas e as tecnologias da nuvem. Imagine uma ação global direcionada a uma empresa de nuvem de cada vez – começando pela Amazon.
Imagine uma coalizão internacional de sindicatos conclamando os trabalhadores dos depósitos da Amazon em todo o mundo a ficarem afastados por um dia. Por si só, essa ação é fraca. Mas não se uma campanha mais ampla persuadisse um número suficiente de usuários e clientes em todo o mundo a não visitar o site da Amazon apenas por um dia, a resistir à sua condição de servos ou vassalos por esse breve período.
O inconveniente pessoal envolvido seria trivial, mas seu efeito cumulativo seria notável. Mesmo que tivesse um sucesso moderado, causando, por exemplo, uma queda de 10% nas receitas habituais da Amazon, enquanto a greve do armazém da Amazon interrompesse as entregas por 24 horas, essa ação poderia ser suficiente para derrubar o preço das ações da companhia de uma forma que nenhuma ação tradicional organizada por trabalhadores poderia alcançar. É assim que os proletários e os servos da nuvem podem se unir de forma eficaz. É o que chamo de mobilização na nuvem.
A beleza da mobilização em nuvem é que ela coloca de cabeça para baixo o cálculo convencional da ação coletiva. Em vez de um sacrifício pessoal máximo para um ganho coletivo mínimo, agora temos o oposto: um sacrifício pessoal mínimo que proporciona grandes ganhos coletivos e pessoais. Essa inversão tem o potencial de pavimentar o caminho para uma coalizão de servos e proletários da nuvem que seja grande o suficiente para interromper o controle dos nebulosos sobre bilhões de pessoas.
Naturalmente, ações desse tipo contra uma ou até mesmo várias grandes empresas de nuvem não serão suficientes. A rebelião da nuvem que eu imagino precisará recrutar para sua causa muitos círculos eleitorais diversos, incluindo, por exemplo, qualquer pessoa que perca o sono quando receber suas contas de água e energia. Ataques de pagamento bem calculados e direcionados poderiam ser usados para causar uma queda equivalente nos preços das ações e dos derivativos das empresas privadas de serviços públicos.
Na hora certa, essas greves pacíficas de guerrilha poderiam causar muitos danos à influência política e econômica dos conglomerados cujos destinos estão cada vez mais fundidos com os das finanças nas nuvens. A rebelião também poderia reunir apoio internacional se usasse, por exemplo, um boicote de consumidores nos Estados Unidos especificamente para atingir uma empresa por sua pressão sobre os trabalhadores na Nigéria ou pela destruição de reservas naturais no Congo.
Outra campanha poderia envolver a solicitação de indicações de todo o mundo para empresas com o pior histórico de contratos de zero hora ou salários baixos, grandes pegadas de carbono ou condições de trabalho precárias, ou aquelas que têm o hábito de “reduzir” para aumentar os preços das ações – e, em seguida, organizar uma retenção em massa das contribuições para os fundos de pensão que possuem ações dessas empresas. O simples anúncio da escolha de um fundo de pensão como alvo seria suficiente para fazer com que suas ações despencassem e causar um êxodo de investidores preocupados dos fundos de ações relacionados a ele.
Inspirado pelo Wikileaks, posso imaginar um grupo de rebeldes escrevendo e carregando vírus digitais cujo objetivo seria simplesmente a transparência: rastrear e revelar ao mundo as conexões digitais ocultas entre os cloudalists, as agências governamentais e os maus atores, como as empresas de combustíveis fósseis. Como e se isso é possível, eu não sei, mas estou convencido de que se, por qualquer meio, essas instituições soubessem que têm bilhões de olhos atentos às suas ações, elas ficariam paralisadas e, à medida que as escamas caíssem desses bilhões de olhos, a coalizão reuniria mais aliados e apoio.
Nada disso é fácil ou inevitável. Mas será que é mais difícil ou menos provável do que o que os mineiros, as costureiras e os estivadores imaginaram e sacrificaram suas próprias vidas para alcançar no século XIX? A nuvem toma – mas a nuvem também dá àqueles que querem recuperar a liberdade e a democracia. Cabe a eles, a nós, decidir e provar o que é maior.
Marx descreveu de forma famosa nossa condição sob o capitalismo como uma condição de “alienação”, devido ao fato de não termos propriedade sobre os produtos de nosso trabalho, de não termos voz sobre como as coisas são feitas. No tecnofeudalismo, não somos mais donos de nossas mentes. Todo proletário está se transformando em um proletário das nuvens durante o horário de trabalho e em um servo das nuvens no resto do tempo. Todo trabalhador autônomo se transforma em um vassalo da nuvem, enquanto todo lutador autônomo se torna um servo da nuvem.
Enquanto a privatização e o private equity esvaziam toda a riqueza física ao nosso redor, o capital em nuvem se encarrega de esvaziar nossos cérebros. Para nos apropriarmos de nossas mentes individualmente, precisamos nos apropriar do capital em nuvem coletivamente. Essa é a única maneira de transformar nossos artefatos baseados em nuvem de um meio produzido de modificação de comportamento em um meio produzido de colaboração e emancipação humana.
Servos das nuvens, proles das nuvens e vassalos das nuvens do mundo, uni-vos!
Não temos nada a perder, a não ser nossas correntes mentais!
Yanis Varoufakis é ex-ministro das finanças da Grécia, político e autor. Este artigo foi extraído de seu livro, “Technofeudalism “, e usado com a permissão das editoras Bodley Head, no Reino Unido, e Melville House Publishing, nos EUA (2023).