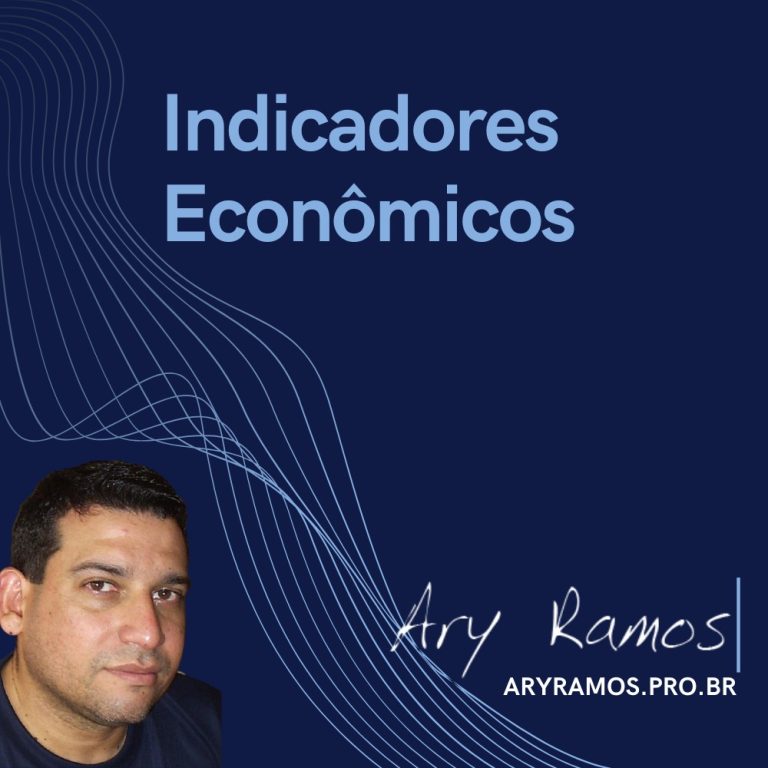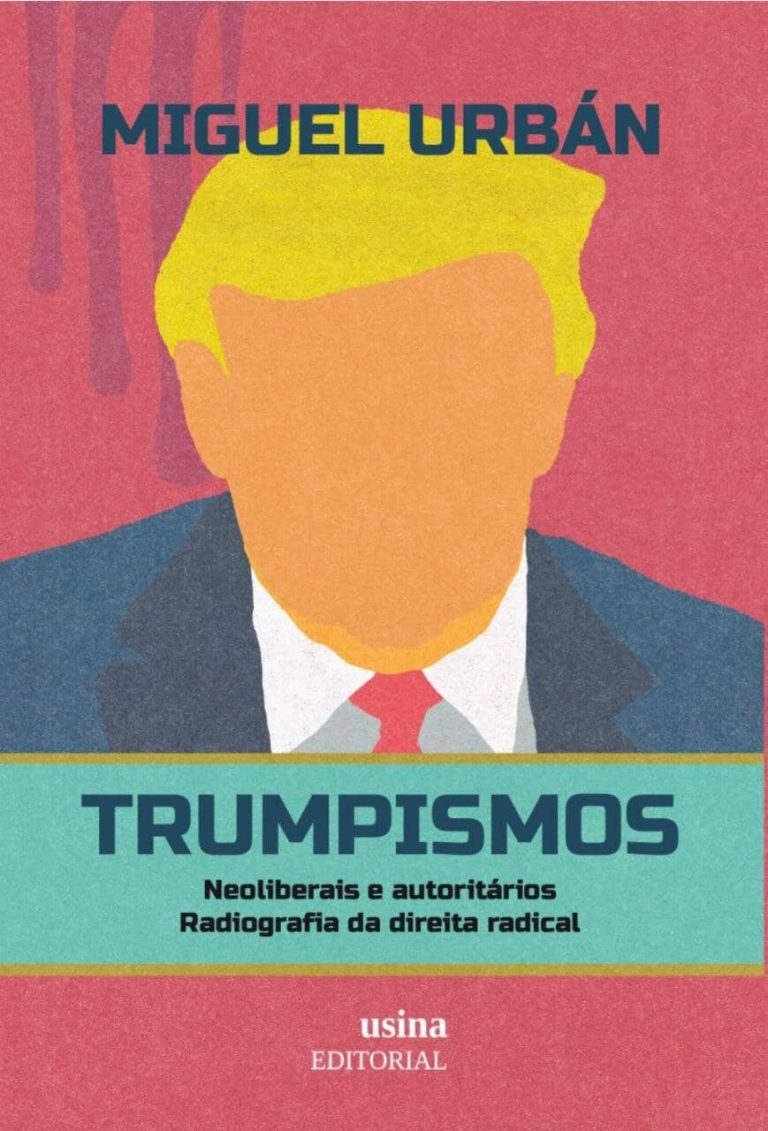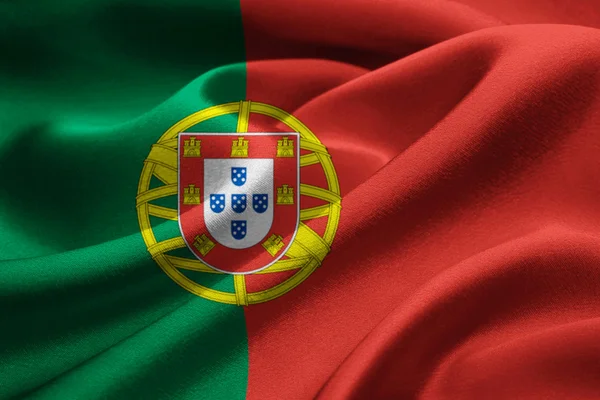Vinício Carrilho Martinez ´ Terra é Redonda – 10/03/2025
Desde O Príncipe de Nicolau Maquiavel, a política sempre vem associada a um sentido de força, imposição – na falta de convicção e de convencimento
Como fazer Educação para o poder (popular), se a política perdeu a graça? Há outra palavra que rima com essa, mas não vou dizer. Em todo caso, fica essa pergunta e uma certeza: o político sem graça, que perdeu a simpatia, só a irá encontrar nos amigos de verdade, junto ao povo pobre, negro e oprimido.
Dentro desse contexto, cabe dizer que o título do texto é o mesmo da minha próxima disciplina na graduação (optativa) e há uma infinidade de questões que passam por essa tríade, desde a emancipação que interessa aos pobres, negros e oprimidos (educação para o poder) até o que há de podre no Reino da Dinamarca (Shakespeare no Hamlet).
Ainda é possível tratarmos de outras variações ou desdobramentos, como: política, dominação, decisão ou alteridade, autoridade, imposição. Desde O Príncipe de Nicolau Maquiavel, a política sempre vem associada a um sentido de força, imposição – na falta de convicção e de convencimento – e isto os antigos chamavam de virilidade. A política era entendida como atributo masculino, ainda que as mulheres sempre tenham feito muito mais política (como “a nobre arte da sobrevivência”) do que os homens dominantes (“falocracia”). Por sua vez, essa “virilidade” nem sempre (ou quase nunca) vinha associada às requeridas “virtudes”: também chamavam de virtù.
Porém, como atualização de sentidos, vamos denominar a política atuante como “rudeza” [1] e que, por sua vez, desconstrói a simpatia: as forças da extrema direta e do Fascismo Nacional são predizíveis nessa seara política. Ou seja, o que prevalece é a imposição (enquanto dominus [2]) e suas decisões são “firmes o suficiente” (como deveria ser o Estado) para que a força (virilidade) jamais possa ser questionada.
Neste caso, de imediato, sem considerar muitas das demais sintonias, vejamos que estamos num paradoxo muito estranho: simpatia, no dicionário etimológico, é a “capacidade de estar com duas ou mais pessoas” e a política, em outra definição bem simples, alude à condição de pautar, convocar, e reunir a fim de se decidir para um fim coletivo.
Então, sem muito esforço da inteligência política, se não há simpatia, podemos indagar: como é que se faz política?
Pois é a este dilema que o país parece estar submetido: o país perdeu sua graça, está sem carisma – assim como nossa política. Comparativamente ao passado recente, hoje, talvez por excesso de mágoa não resolvida, por escassez de tempo e urgência diante nas avaliações negativas, ou por imposição do mero brilho do ego, os “líderes simpáticos” de outrora estão encastelados, envoltos por “amigos” contra seus (nossos?) “inimigos”. E eis então que chegamos em outro beco sem saída, aquele que definha a política numa “relação amigo/inimigo” – “aos amigos, tudo; aos inimigos, a lei” (leia-se, a rudeza, a frieza, a truculência).
De certa forma, não é difícil explicar como uma liderança política perde seu carisma, aquela ação/vibração ou capacidade de produzir “simpatia política” [3]: a “graça de quem faz política com pessoas, para as pessoas”. O difícil é fazer o jacaré fechar sua bocarra: essa expressão quer dizer que, quando os polos se afastam, sobretudo apontando níveis insuportáveis de parca adesão, com a boca da inimizade política cada vez mais aberta, é praticamente impossível reverter o processo.
A figura de linguagem do jacaré de boca aberta é muito forte na simbologia e na análise política, por duas razões: quando o jacaré fecha a mordida na sua presa, não há o que o faça abrir, a não ser a vontade de comer; troquemos o jacaré por um crocodilo e chegaremos ao mito do Estado. A primeira ou mais forte representação sobre o Estado foi dada por Thomas Hobbes; no entanto, o filósofo do Renascimento fazia referência a uma passagem bíblica (Isaias 27:1 [4].
Para interagirmos melhor com o animal símbolo do poder, imaginemos derrotar um crocodilo do rio Nilo, um dos mais vorazes e fortes animais da natureza, com lanças e flexas da Idade do Bronze (um metal macio): sua couraça representaria uma força superior ao tanque de guerra mais possante da atualidade (feito com aço e cheio de contramedidas), comparando-se a resistência da couraça com a tecnologia bélica da época. O resultado dessa associação entre força, resistência, indestrutibilidade, seria o Estado.
Voltando à “simpatia política” (ou antipatia, a depender de como analisamos a aceitação e as “intenções de voto”), pensemos como é intransponível a montanha que ameaça desmoronar (ou já desmoronou) para quem perdeu o carisma: o jacaré de boca aberta que está à espreita.
Sem o carisma, poderíamos pensar em uma nova política, sendo feita com esmero, capacidade técnica inquestionável, racionalidade, uma relação numeral que mais acerta do que erra – e não é o caso atual. Aliás, antes de avançarmos, frisemos que a simpatia em baixa (ou antipatia em alta) logo se associa ao preconceito, ao ranço, ao rechaço, às famosas náuseas que levam à interdição política.
Um líder político que passou pelo céu e pelo calvário foi Benito Mussolini. Precursor da Itália fascista, o Duce praticamente reinventou o “carisma político” – meio que na esteira de seu compatriota Caio Júlio César, o mais consagrado general romano –, indo aos píncaros solares do populismo de direita, mas que acabou de ponta-cabeça em praça pública.
Com muito marketing mercantil, no Brasil, tivemos Fernando Collor de Melo, instado ao poder com fomento popular e que acabou em um célebre impeachment. De cunho mais “técnico”, vimos Fernando Henrique Cardoso – alocado no poder central a partir de um “partido de quadros” e com seu “notório saber” – vimos o neoliberalismo avançar seus primeiros passos. Depois, foi defenestrado por um arranjo de petições ideológicas, levando Lula ao primeiro mandato, na soleira de um “partido de massas”. Saiu, no segundo mandato, com 80% de aprovação: um marco para a política mundial, sem dúvida – ainda mais por se tratar de um metalúrgico. Entretanto, aqui importa destacar a simpatia reunida: 80% de amigos, se preferirem dizer assim.
Hoje, sem tanta simpatia, tampouco consegue emplacar forças e partidos de quadros. É óbvio que não tratamos aqui de “partidos revolucionários”.
Faz muito tempo que o PT se afunilou como “partido de poder” – e com isso quero dizer que, numa associação ao PRI (Partido Revolucionário Institucional), do México do século XX, tornou-se uma agremiação que luta (exclusivamente) pelo poder e para se manter no poder. Contudo, nessa praia, o que parece óbvio, não é, efetivamente. Na política, nada é muito o que parece ser.
Basta-nos pensar que os partidos, os mais notáveis ou honestos (mais ainda se olhados pelo ângulo da esquerda), deveriam se voltar à mudança social, muito mais à transformação do que à preservação do status quo. Talvez os índices crescentes de perda de simpatia (carisma em baixa) se devam a isso, uma vez que não se espera de um “partido de esquerda” mover-se do mesmo modo, na mesma lagoa dominada pelo jacaré insaciável da direita (ou extrema direita).
Por fim, volta a pergunta que não quer calar: como angariar simpatia, sem sair da lagoa desse implacável crocodilo?
Com o perdão dos trocadilhos, emprestados para o entendimento mais direto, parece que, sem carisma, não se atenta mais ao fato de que “em lagoa que tem piranhas, jacaré nada de costas”.
Ou será, em outra hipótese, que os amigos encastelados não são tão amigos assim e, no fundo da lagoa, já estariam “dando boi às piranhas”?
Quando não há simpatia política, tudo é bem possível (até provável), porque “o barco furado faz muita água” e a “política do toma lá, dá cá”, parece não satisfazer a todos os ratinhos do porão do poder. É desse modo que o político carismático vira um bicho-papão.
Como dito no início, os amigos do político carismático (simplificado como populista) estão no meio do povo pobre, negro e oprimido. No castelo, no Palácio, estão os “amigos da onça”.
*Vinício Carrilho Martinez é professor do Departamento de Educação da UFSCar. Autor, entre outros livros, de Bolsonarismo. Alguns aspectos político-jurídico e psicossociais (APGIQ)
Notas
[1] O primeiro texto que vou utilizar é esse do link abaixo, sobre a dança das cadeiras na política que deixou Nísia Trindade (Ministra da Saúde) de pé – na porta da serventia.
2 Olhar o relógio é desrespeitoso e foge ao decoro da liturgia do cargo.
[2] “A lei do mais forte”, a lei do capital ou a lei da espada que dita o direito de vida e morte.
[3] As pessoas envelhecem, querem sossego – é um direito legítimo. Mas, erram pecaminosamente ao não investirem na renovação dos quadros, das lideranças políticas.
[4] Assim se dizia biblicamente sobre o Leviatã: “Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o leviatã, a serpente veloz, e o leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar”.