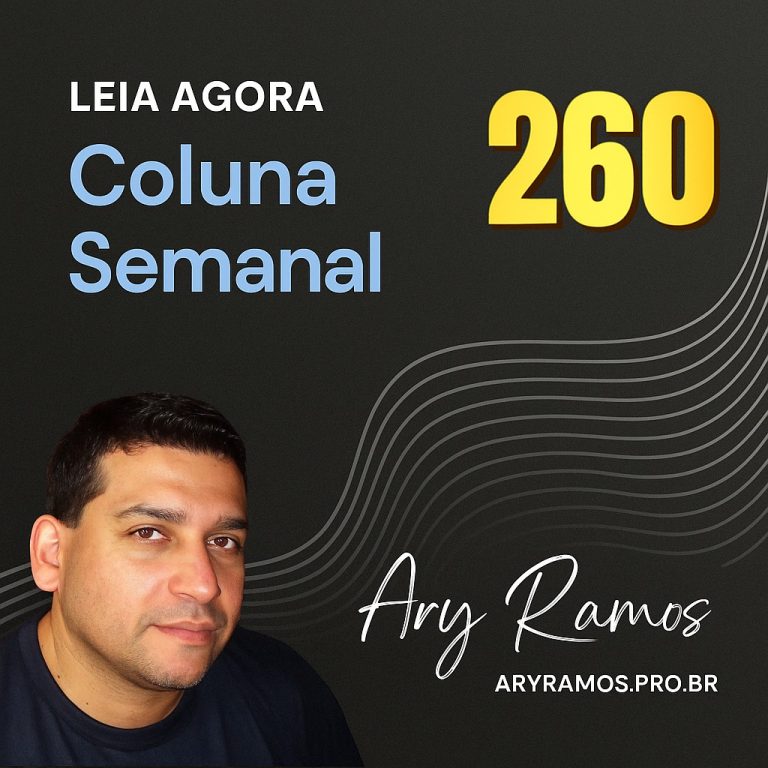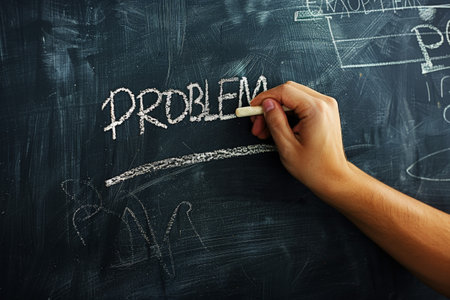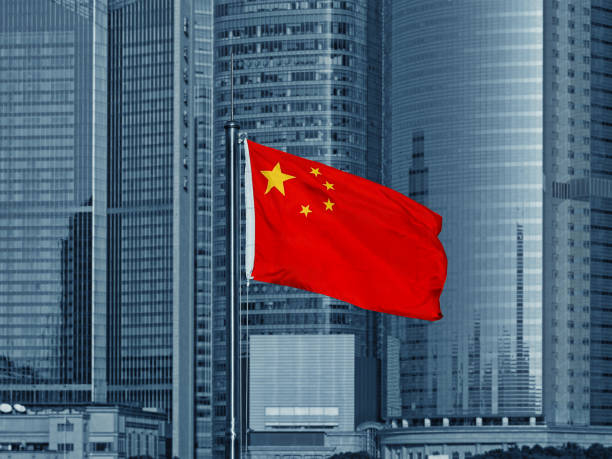Folha de São Paulo, 09/11/2025
Ricardo Henriques, Economista, superintendente executivo do Instituto Unibanco, professor associado da Fundação Dom Cabral e presidente do Conselho da Anistia Internacional Brasil
[RESUMO] Em diálogo com o economista Ricardo Henriques, o sociólogo francês François Dubet analisa o papel do ressentimento e das múltiplas desigualdades que sustentam uma nova economia moral, o que levou à ascensão da extrema direita em diversos países, tema de seu livro “O Tempo das Paixões Tristes”. Embora hoje sobrem motivos para pessimismo, ainda há espaço para esperança em redes de solidariedade locais.
Nascido na sociedade industrial, mas atento às transformações do presente, o sociólogo francês François Dubet tem se dedicado a entender como as desigualdades sociais fragmentam identidades coletivas e transformam injustiças em sofrimentos individuais.
Essa nova economia moral enfraquece as lutas comuns e alimenta o populismo e o iliberalismo. No livro “O tempo das Paixões Tristes” (2019, editora Vestígio), Dubet analisa de que maneiras esse cenário impulsionou o ressentimento e a ascensão da extrema direita.
Seis anos depois, diante da escalada de violência e negacionismo nos EUA, ele reafirma a importância da convivência, das experiências locais e da construção de um novo pacto civilizatório. Nesta entrevista para a Folha, Dubet alerta: “Eu detesto as ideias radicais, elas têm consequências radicais e não correspondem à experiência das pessoas”.
Ao revisitar sua formação, Dubet reconhece que aprendeu sociologia em um tempo marcado pelos conflitos de classe. É nesse contexto que evoca a coruja de Minerva, símbolo da sabedoria que só alça voo ao entardecer, quando os acontecimentos já podem ser compreendidos com alguma distância.
Em “O Tempo das Paixões Tristes”, a expressão “paixão triste” é inspirada em Spinoza, e você descreve os climas emocionais das sociedades contemporâneas. Quais as características de nossa época você mais valoriza neste livro e como pensa as paixões tristes da sociedade contemporânea?
Preciso começar com uma confissão: nasci na sociedade industrial. Era leitor de Marx, Durkheim e Weber. Escrevi alguns livros com Alain Touraine. Vivi em uma sociedade na qual os problemas eram percebidos em termos de conflitos de classe, que organizavam a esquerda e a direita com representações do futuro.
Na França, pensamos nessas categorias por muito tempo, até os anos 1980. Aliás, como sempre, é quando a esquerda chega ao poder que seu mundo começa a desmoronar. É a coruja de Minerva. Aprendi sociologia assim e por muito tempo pensei nessas categorias.
O que aconteceu? As desigualdades de classe permaneceram, claro. Mas não são mais, do meu ponto de vista, estruturadas em volta das classes sociais. Ou seja, as pessoas não dizem mais: “nós, os trabalhadores”, “eles, os patrões”. Elas dizem “eu”. “Eu” sou desigual em função do meu diploma, das minhas origens, do meu gênero, da minha sexualidade, do lugar onde moro.
Há uma espécie de individualização das desigualdades. O que, aliás, faz com que a consciência de classe não resista mais ao desprezo de classe.
Então esta é a primeira transformação: o capitalismo desigual, brutal, que de certa forma destrói as classes sociais —não a classe dirigente, obviamente—, atomizou as classes sociais.
A segunda evolução é que, até os anos 1980, quando você falava de desigualdades aos atores sociais, eles respondiam e pensavam imediatamente nas grandes desigualdades, isto é, as desigualdades no trabalho, na renda, nas condições de vida.
A justiça social é a redução das desigualdades de condições. É fazer com que os trabalhadores sejam menos pobres, e os ricos, menos ricos.
Atualmente, se eu perguntar o que é justiça social na França, e mais ainda nos Estados Unidos, as pessoas dizem que é a luta contra as discriminações: se você é homem, mulher, homossexual, branco, negro, uma pessoa da cidade ou do campo etc. A desigualdade de chances de acesso aos recursos é percebida como a desigualdade principal.
E isso tem consequências. Quando você pensa em termos de desigualdades sociais, pode pronunciar a famosa frase “Proletários de todos os países, uni-vos”, temos todos os interesses em comum. Mas ao pensar em termos de discriminação, todos temos interesses contraditórios.
Temos uma cena de conflitos que se reunia em torno de uma consciência coletiva e que hoje explodiu, gerando ressentimentos. O conflito social à la Marx ou Weber é substituído pela ideia de que somos vítimas dos outros.
Há esse efeito sobre a subjetividade dos indivíduos de regimes de desigualdades múltiplas, como você chama. Se essa especificidade do mundo contemporâneo foi muito bem para o velho mundo civilizado, como isso repercute na construção da fraternidade e da solidariedade? Você tem uma reflexão sobre a gramática política da ação coletiva. Como pensa essa construção dos vínculos de solidariedade, de ação coletiva?
É muito complexo. Se eu raciocinar no quadro europeu, a fraternidade era a nação, com seu aspecto positivo (“eu gosto das pessoas que são como eu, que falam a mesma língua e que têm a mesma cultura, a mesma história’) e negativo, que é o nacionalismo (“eu detesto aqueles que não são como eu”).
Acreditava-se que a França, por exemplo, era um Estado nacional, uma burguesia nacional e uma cultura nacional. Não era verdade. Hoje todo mundo sabe muito bem que a burguesia francesa não é nacional. Que o Estado é extremamente fraco. E que a cultura está invadida pela cultura de massa, pelo mercado e pela guerra das identidades.
Nos anos 1970 e 1980, na França, diziam que um imigrante italiano ou português seria um futuro trabalhador francês. Hoje, os filhos dos imigrantes votam na extrema direita porque detestam os novos imigrantes que vêm de ainda mais longe.
Considero como um dos grandes problemas o fato de questões como fraternidade e identidade terem sido abandonados por intelectuais de esquerda para serem apropriados pela direita e extrema direita.
Quando há sucesso dos partidos de extrema direita na França, a esquerda diz que são racistas e fascistas. Evidentemente, são racistas e fascistas. Mas eles levantam uma questão: o que temos em comum? Ora, as únicas forças políticas que respondem a isso hoje são a direita e a extrema direita.
Quando escrevi sobre isso em 2019, não estava muito seguro de mim. Mas agora, com Trump, estou totalmente seguro. Porque é pior do que aquilo que havíamos imaginado.
A questão que nos é colocada para a esquerda mundial é: somos capazes de dizer o que temos em comum? O que temos em comum para que uns aceitem sacrifícios pelos outros? O que temos em comum para reconhecer a identidade dos outros sem sermos ameaçados?
Se não tivermos a sensação de algo em comum, as diferenças culturais tornam-se ameaças.
É nesse quadro que é possível identificar a intencionalidade de desconstrução do sentido de comum à sociedade e a imposição de visões que, por vezes, negam o próprio valor da ciência. Os métodos de Trump diante dos ataques às universidades, aos museus, ao Departamento de Educação, e sua ação neste domínio de violência contra as pessoas, sobretudo os progressistas, procuram simultaneamente negar o que lhe incomoda no campo dos valores e da ciência e impor uma visão particular (e diria excêntrica) do mundo que deveria ser compartilhada como o comum.
Há um ano eu jamais teria imaginado isso. Um presidente dos Estados Unidos que busca liquidar universidades, que tem comportamentos xenofóbicos e racistas… enfim, nunca teria imaginado.
E o problema é que Trump não é um conservador autoritário, ele é ultraliberal. É em nome do declínio da autoridade que temos essa violência. Ele diz: “vocês não vão se submeter à autoridade dos sábios, vocês não vão se submeter à autoridade dos especialistas”.
É uma escala de decadência contínua: não nos libertamos do desprezo senão desprezando os outros, ao dizer que não sou eu quem merece ser desprezado, são os outros.
Qual o caminho para produzirmos uma certa esperança?
Penso que a esperança é um dever. Acho que ainda existem coisas que funcionam. Por exemplo, redes de solidariedade: há uma vida associativa muito intensa e, pelo menos no caso francês, a vida social local é muito mais positiva do que a imagem nacional. As pessoas organizam festas, se ajudam. Então, não é verdade que todo mundo é dominado pelo ressentimento.
A segunda coisa, acho que seria preciso dar toda a importância ao trabalho. O que a força do movimento operário fez, de fato, foi dar dignidade aos trabalhadores.
Hoje existe na França um sindicato que tenta fazer isso, mas que ainda assim busca reconstruir uma dignidade a partir da qualidade do trabalho, do sentido de utilidade do trabalho.
Quando houve a pandemia da Covid e o confinamento, todo mundo descobriu que os motoristas de caminhão, as pessoas que recolhem o lixo e as caixas de supermercado eram pessoas formidáveis e indispensáveis. Bem, desde então já esquecemos disso.
Isso aconteceu da mesma forma aqui.
Sim. Parece-me que a ideia é a necessidade de redefinir o que é comum, tentar redefini-lo fora das categorias nacionalistas.
Acredito que é preciso revalorizar o trabalho, repensar a educação. Mas a experiência histórica mostra que isso não acontecerá em três semanas. E é verdade que é muito difícil resistir a uma espécie de pessimismo. Mas com certeza, entre nós, neste momento, deixamos o pessimismo de lado.
Os jovens também sonham com um futuro, não? Como você pensa em projetar uma visão para que os adultos, que viveram em outros momentos, possam construir isso? Não está relacionado ao teletrabalho fútil, mas ao futuro. Como garantir esse pertencimento? Como projetar futuros possíveis e desejáveis? Existe o risco de um pessimismo, de surgir um niilismo enorme, não?
A gente ficaria paralisado aqui se não pudéssemos projetar um futuro. Você me diz que, por ora, é muito difícil não ser pessimista.
Mas, para mim, é quase uma visão moral. Eu observo que muitas pessoas não se deixam levar: na França, há uma crise da educação, mas há muitos professores que fazem um trabalho formidável. Constato que o hospital não funciona muito bem, mas o pessoal é incrível.
Constato que a vida política, em geral, é um tanto catastrófica, mas a maioria dos franceses acha que o prefeito de sua cidade faz um trabalho formidável, seja de direita ou de esquerda; aliás, isso não é muito importante.
Na prática, o que se desfaz não é tanto a realidade da vida social. O que se desfaz são as representações da vida social.
Eu acredito que as razões para ter esperança hoje são os que dizem “eu atuo onde estou, localmente, na minha instituição de ensino, com meus alunos, no meu hospital, no meu município, com meu pequeno clube de futebol”. Enfim, em tudo que cria uma sociedade. Do local para o global.
Na França, os políticos de esquerda ou passam para o populismo de esquerda, ou nada dizem, ou dizem “não podemos dizer nada”. Então, acrescenta-se a esse sentimento de crise o fato de termos um Estado-providência extremamente complexo, relativamente eficiente, porém é um Estado ilegível, incompreensível, o que faz com que todos tenham a sensação de estarem sendo roubados pelo sistema.
Devemos tornar o Estado-providência legível, para que cada um entenda o que paga e o que recebe.
Você sustenta que a Justiça deve estar atenta às condições reais de vida. Como pensa que podemos inspirar não apenas a educação, mas políticas públicas mais inclusivas?
Eu sou favorável a compromissos de justiça. Quero dizer com isso que uma sociedade de pura liberdade é a sociedade libertária, é um mundo selvagem absoluto. Uma sociedade de pura igualdade, já conhecemos isso, é o stalinismo, é a China de Mao Tsé-tung; se não houver liberdade, não há igualdade. Uma sociedade puramente meritocrática é uma sociedade darwiniana. Ou seja, os melhores vencem, e os outros perdem.
A boa sociedade é aquela que combina, que faz com que a liberdade, a igualdade e o mérito se combinem de maneira moderada. É por isso que detesto as ideias radicais, elas têm consequências radicais e não correspondem à experiência das pessoas.
Minha hipótese é que nos Estados Unidos, na Alemanha, na Grã-Bretanha, na França, na Itália, o voto da extrema direita é o voto das pessoas que falharam na escola. É o voto antielite, de ressentimento, é o voto contra os mais pobres. Portanto, se você considera que a igualdade de chances meritocrática é um sistema um pouco darwiniano, os vencidos se vingam.
E, mesmo assim, é terrível. Não consigo me livrar da imagem da entronização de Trump, que para mim foi o choque. Trump está cercado por todos os bilionários do planeta e fala em nome dos pobres. Os pobres encontraram nesse homem a expressão de seu ressentimento contra os formados, as elites. É realmente inacreditável.
A nuance que você propõe, equilibrar o mérito entre os plurais, é central para uma estratégia que reconheça as desigualdades, mas também promova equidade, equilibrando mérito, liberdade e igualdade. Talvez estejamos falando de caminhos para a esperança. Na Assembleia Mundial da Anistia Internacional deste ano, Ammar Dweik, diretor-geral da Comissão Independente de Direitos Humanos da Palestina, fez uma conferência contundente sobre a situação de Gaza. Falou com lucidez impressionante em meio às dores na região. Terminou dizendo que, apesar da fome e do horror, os palestinos continuarão ensinando amor aos filhos, plantando oliveiras e escrevendo poemas. Foi um testemunho de resistência e esperança de quem decidiu não morrer.
Nem todos sobreviveram, mas aqueles que sobreviveram decidiram que não morreriam. Penso muitas vezes em São Tomás, que diz que a virtude essencial é a esperança. E nestes tempos é preciso ter esperança. É exatamente o que diz seu amigo palestino, seja o que for que aconteça, é preciso ter esperança, não se deve mais esperar pelo fim.