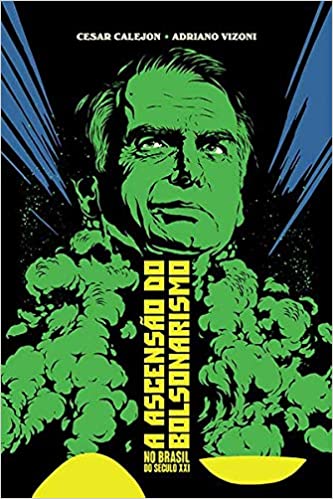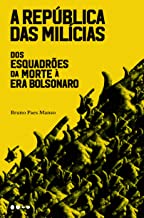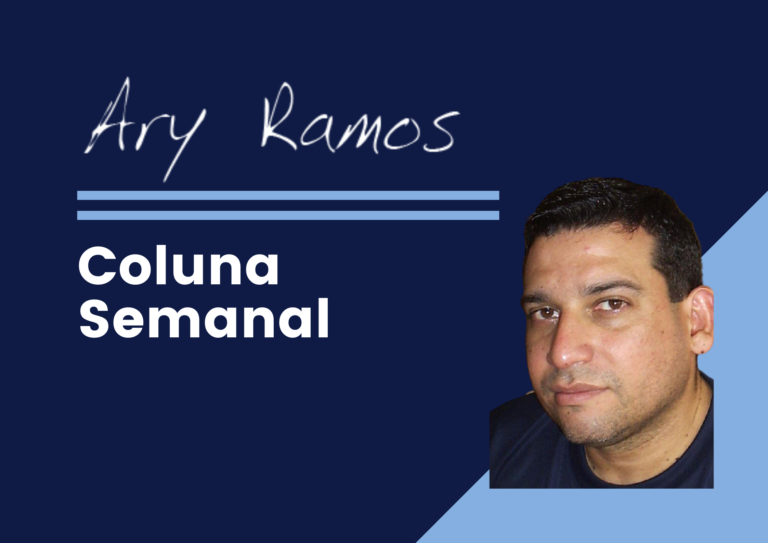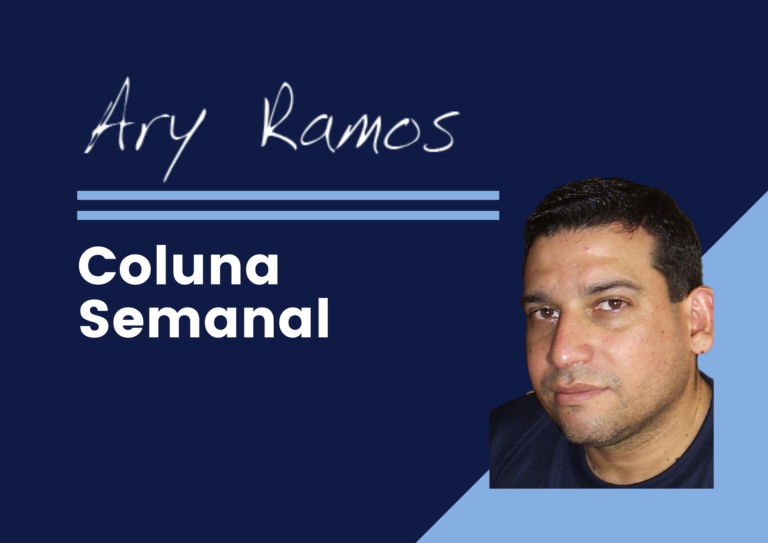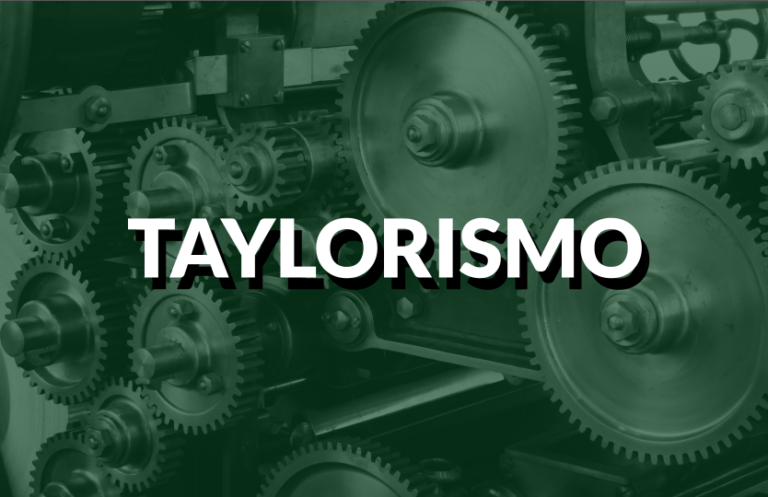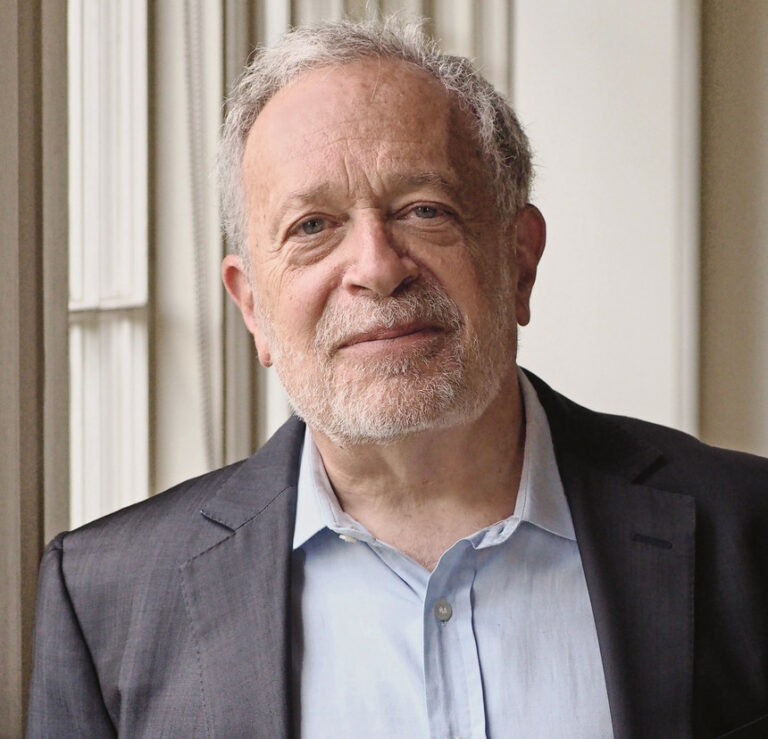Estamos caminhando para os últimos dias do ano de 2020, um período marcado por destruição, desesperanças e dificuldades crescentes, um ano que a sociedade mundial flertou com o caos e com a desagregação social, destruição econômica e dificuldades generalizadas, nesta toada estamos caminhando a passos largos a destruição da civilização, um vírus tão medíocre que deixou clara a arrogância do ser humano.
A pandemia está desnudando as grandes dificuldades das sociedades, países pobres marcados por grandes desigualdades sociais, econômicas e políticas. O cenário altamente desigual está vindo a tona em todas as regiões, incrementando os conflitos internacionais e confrontos internos que aumentam as incertezas econômicas, reduzindo os investimentos e postergando a recuperação das sociedades, num ambiente de alta no desemprego, no subemprego e na informalidade, piorando as questões sociais.
A economia brasileira vem perdendo espaço na economia mundial desde os anos 80, mas nesta década os indicadores econômicos estão piorando a olhos vistos, degradando as condições sociais, criando um pequeno grupo de privilegiados em oposição da da sociedade, cujos recursos se reduzem rapidamente, os direitos sociais se reduzem e as perspectivas para os próximos anos são assustadores.
O governo brasileiro se perde em discussões menores, de um lado percebemos setores querendo impor uma agenda liberal ultrapassada, ortodoxa e reacionária, defendendo a privatização selvagem e repassando todo patrimônio público para os defensores do mercado, transformando o monopólio público em monopólio privados, aumentando os ganhos de um pequeno grupo de detentores de recursos financeiros e de influência política. De outro lado, percebemos um grupo de linhagem mais intervencionistas defendem os recursos públicos para engordam suas aposentadorias e jetons monetários, sem compromisso de visão sistêmica, apenas interesses imediatos de grupos organizados. Num ambiente como este, a sociedade brasileira vem gerando uma leva gigante de pobreza, exclusão social, miséria e indigência moral.
Numa sociedade marcada por pandemia, o ano nos legou quase 200 mil mortos e mais de 7 milhões infectados, sem vacinas, sem organização, sem planejamento, sem políticas integradas e gerenciadas pelo Ministério da Saúde, além disso, vivemos num país em que, no período de 10 meses, o titular desta cadeira foi substituído três vezes, um caos generalizado, sem comando, sem perspectivas e sem esperança. Estamos condenando neste momento de pandemia, a sociedade brasileira a um genocídio da população mais pobre e dos vulneráveis, como os indígenas e dos negros.
A educação nacional está um verdadeiro frangalho, o Ministério não cumpre com seu papel mais fundamental, sem organizar as políticas públicas para a área da educação, a população estará cada vez mais condenada a degradação social numa sociedade onde o conhecimento se tornou o grande instrumento da riqueza das nações. Neste ambiente de omissão e ausência de planejamento, o Ministério da Educação se omite do papel central, deixando que as secretarias estaduais e municipais assumem uma posição mais efetiva, a população percebe que o ano foi perdido para os alunos das escolas públicas, colocando-os em condições desiguais na competição do setor da educação, perpetuando os péssimos indicadores educacionais e o atraso dos alunos das redes públicas.
Nas universidades percebemos situações paradoxais, nas escolas particulares as aulas aumentaram no ensino remoto e cresceram de forma acelerada nas modalidades a distância, empurrando os estudantes a aulas remotas, sem saber se estes alunos possuem condições financeiros para garantir recursos tecnológicos para assistir as aulas, com isso, sem uma supervisão do Estado, as condições de ensino tendem a se degradar de forma acelerada, com graves desastres sobre a metodologia educacional, seus rendimentos e aprendizados.
Nos próximos perceberemos um crescimento do fechamento das escolas de todos os níveis, desde os ensinos fundamentais, médios e superiores, onde os grupos dotados de mais recursos tendem a adquirir grupos menores, criando um ambiente oligopolizado onde poucos atores passam a mandar e comandar o sistema educacional, reduzindo a diversidade, reduzindo os custos, incrementando os lucros e deixando de lado a qualidade de ensino, criando novos instrumentos de negócios, sem compromissos com a nação, com a sociedade e, principalmente com o Brasil. Neste ambiente, os governos abençoam essa degradação, degradam as universidades públicas e reduzem os investimentos nos ensinos técnicos e estimulam a desintegração da pesquisas científicas, dos centros de pesquisa e os fundos de ciência e tecnologia, sem estes, o país se curva de forma subalterna as condições dos grandes grupos econômicos internacionais, perpetuando nossa pobreza e, principalmente da degradação moral.
Percebemos neste ano o crescimento das discussões sobre os limites da democracia, muitos analistas descrevem a fragilização da democracia nas sociedades ocidentais, muitas delas relacionadas ao crescimento das corporações transnacionais, que passam a angariar grande poder político e passam a pressionar a adoção de medidas que tragam benefícios, desde alteração jurídicas e institucionais, passando por aumentos das isenções financeiras e facilitando as chamadas evasões fiscais, garantindo vantagens para um pequeno grupo de corporações. A democracia, como destacou os cientistas políticos norte-americanos Daniel Ziblatt e Steven Levitsky, no livro Como as democracias morrem, muitos governos adotam políticas autoritárias para controlar as instituições, enfraquecendo e erodindo gradualmente as normas políticas de longa data garantindo os instrumentos de controle social. No caso brasileiro, percebemos uma política deliberada de esvaziamento das instituições de fiscalização, como o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis, o INEP – Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reduzindo os recursos financeiros, diminuindo os efetivos técnicos, substituindo o corpo de funcionários por pessoas oriundas das Forças Armadas, que desconhecem a instituição e sem bagagem técnica, fundamentais para cumprir seus papéis de fiscalizar e organizar as atividades.
No Brasil, percebemos a adoção de políticas de matriz autoritária, agredindo as mídias tradicionais,
denegrindo a ciência, cultuando os benefícios do período militar e estimulando os meios alternativos de difusão de informações como as redes sociais, além de recorrer constantemente a mentiras, destruindo as reputações, adotando meias verdades, inverdades e as chamadas Fake News.
Neste ambiente, a pandemia nos traz novas oportunidades de repensar a sociedade, sem a atuação dos setores governamentais não teremos condições de angariar novos instrumentos de recuperação econômica. Cabe ao Estado concatenar novos projetos de desenvolvimento, centrados em setores fundamentais no século XXI, investimento em setores da indústria da saúde, da defesa, do agronegócio e no complexo petróleo e gás, deixando de lado os inúmeros incentivos para setores que ficaram para trás, tais como a indústria automobilística, recursos investidos foram gigantes e os retornos sempre foram controversos. Os inúmeros incentivos tributários devem ser repensados, desde as isenções de setores de aluguel de carros e utilitários, da Zona Franca de Manaus que desde a criação nos anos 60 consumiram grandes somas de recursos e os retornos sociais e econômicos foram insuficientes. No Brasil contemporâneo, os incentivos e as isenções tributárias geram um rastro de 300 bilhões de reais, recursos que aumentam os rendimentos de setores caracterizados por baixas produtividades e pequenos retornos sociais e econômicos, que sobrevivem graças aos benesses do Estado Nacional.
No setor externo, percebemos que o governo está dilapidando o capital político dos governos anteriores, com a adoção de uma política de alinhamento e subserviência ao governo de Donald Trump, algo que não existe na história da política externa brasileira. Com isso, o governo vem perdendo espaços internacionais importantes, levando o país a ser visto como uma pária global, perdendo espaços e investimentos estrangeiros. Na questão do meio ambiente, percebemos que a comunidade internacional está ameaçando a adoção de represálias que tendem a nos trazer constrangimentos econômico e político, restringindo investimentos e avaliações comerciais.
No ano de 2020, o governo adotou inúmeras políticas desagradáveis com antigos parceiros comerciais, criando conflitos com a Comunidade Europeia, com os muçulmanos e com o parceiro brasileiro, a China. Todos os confrontos geraram constrangimentos nas relações internacionais, prejudicando os negócios externos de empresas nacionais e apagando a imagem positiva do Brasil no cenário mundial, gerando incertezas e instabilidades na comunidade internacional.
As relações comerciais de alinhamento automático com os Estados Unidos geram grandes problemas com a China, uma economia que caminha para se tornar a maior economia internacional, cujos atritos comerciais podem criar graves perdas comerciais, afinal a economia chinesa é o grande parceiro comercial, movimentando bilhões de dólares e superávits comerciais. Um exemplo deste conflito está no mercado de tecnologia 5G, num momento os grandes atores globais estão garantindo novos mercados de expansão de suas tecnologias, neste embate os norte-americanos buscam fragilizar o maior ator deste mercado, a empresa chinesa Huawei, revivendo um dos momentos mais sombrios do período da guerra fria, levando a sociedade a um dos períodos mais nebulosos da história do século XX.
O ano de 2020 repetiu a estagnação da economia brasileira desde 2016, período marcado por baixíssimo crescimento econômico, recessão crescentes e incremento do desemprego. Muitos analistas podem destacar que o grande responsável pelo baixo crescimento econômico é a pandemia, acredito que esta verdade é parcial, desde a pandemia a economia apresenta grandes dificuldades de crescer de forma sustentável, nos três meses deste ano, a economia regrediu mais de 2% do PIB, mostrando que o país ainda não conseguiu encontrar o caminho da recuperação. Neste período percebemos inúmeras medidas alardeadas nos meios de comunicação que, brevemente, era desmentida, que denota um governo perdido, sem rumo e sem perspectivas, levando a economia nacional a condição de estagnação e incertezas crescentes.
Uma das mais flagrantes dificuldades do governo está na construção da imunização da sociedade, a busca da vacina se tornou um dos maiores desafios das políticas públicas das nações, neste momento que escrevo, os jornais nos trazem informações de que mais de quarenta países do mundo estão iniciando a imunização de suas populações e, infelizmente, dentre estes países não encontramos o Brasil, aumentando a ansiedade da população e a desesperança crescentes que tendem a aumentar na sociedade, principalmente dos grupos mais vulneráveis, tais como os mais pobres, os negros, os indígenas, dentre outros.
O ano de 2020 está terminando felizmente. O ano de 2021 está surgindo com raios de esperanças e expectativas mais claras de superação e de crescimento econômico, geração de empregos e melhora nas condições de vida. Neste momento devemos construir novos espaços de solidariedade e oportunidades para todos os grupos sociais, somente desta forma conseguiremos construir uma nação digna deste nome, onde todos os indivíduos tenham oportunidades de mostrar suas habilidades e potencialidades, construindo uma verdadeira meritocracia.