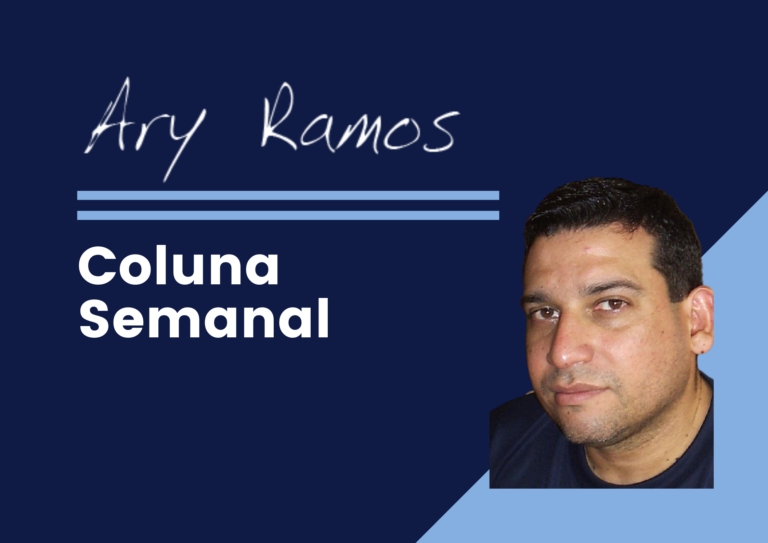Edson Veiga, MSN Notícias
Em entrevista, a filósofa e escritora fala sobre heranças da escravidão no Brasil e afirma que, com o caso Beto Freitas, a revolta negra historicamente sufocada encontrou “coro para ecoar pelo país”.
Foi pelas redes sociais que, na manhã de 20 de novembro, data em que o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra, a filósofa, escritora e feminista negra Djamila Ribeiro soube do espancamento e assassinato de João Alberto Freitas, ocorrido em um supermercado Carrefour de Porto Alegre. “Fui ver a fundo do que se tratava e não consegui assistir ao vídeo”, conta. “Até hoje não assisti.”
Autora dos livros Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e Pequeno Manual Antirracista, Ribeiro disse que conversou com a militante e teórica do feminismo negro Carla Akotirene sobre o caso. E a conclusão foi que toda vez que um negro vê outra pessoa negra sofrendo uma agressão, uma violência, este revisita “o trauma do colonialismo e de tudo o que as pessoas negras sofreram neste país”. No entendimento de ambas, é evidente que “uma pessoa branca consciente” também se choca com fatos assim; mas para um negro esse sofrimento assume proporções muito maiores.
Ao analisar o assassinato de Beto Freitas, ela recorda outras mortes que despertaram a raiva da população negra recentemente. Como a do adolescente João Pedro, baleado em operação policial, a da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, e a da auxiliar de serviços Cláudia Silva Ferreira, baleada quando ia comprar pão para sua família, em março de 2014.
O caso Beto Freitas, no entanto, está sendo um marco no país, aponta. “Gerou uma onda de protestos contra o racismo que é, de certa forma, inédita. Uma revolta que foi ao longo da história sufocada, encontrou coro para ecoar pelo país”, afirma em entrevista à DW Brasil.
Mestra em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, Ribeiro é colunista do jornal Folha de S.Paulo e da revista ELLE Brasil e professora convidada da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 2016, foi secretária adjunta de Direitos Humanos de São Paulo. No ano passado, recebeu do Reino dos Países Baixos o Prêmio Prince Claus, por conta do seu ativismo.
Na entrevista a seguir, ela também fala sobre as heranças da escravidão e a falta de inclusão das populações negras. “O racismo estrutura a sociedade e, assim sendo, está em todo o lugar”, afirma.
DW Brasil: Em seu livro Pequeno Manual Antirracista um dos pontos que você aborda é justamente combater a violência racial. Em casos extremos como o ocorrido na última semana em Porto Alegre, qual seria a melhor resposta antirracista?
Djamila Ribeiro: Nesse capítulo do meu livro, aponto a violência racial por diversos meios: pela morte em massa dos corpos negros por uma polícia militarista, num país onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado; pelo Poder Judiciário ser uma extensão da viatura de polícia, aceitando ralas “provas” como suficientes para condenar alguém, isso quando muito verificam.
Em geral, apenas a palavra do policial é o suficiente para condenar por anos à prisão, e aí eu me pergunto: como seria se não tivesse uma câmera lá? Se não houvesse uma demonstração cabal do assassinato?
Ora, um dos responsáveis é um policial militar e, não fosse a manifestação evidente de prova, a palavra dele seria suficiente para que Beto Freitas fosse um assassino, e o policial, uma potencial vítima em legítima defesa. Isso é a manifestação de um sistema que foi desenhado para operar dessa forma, uma forma que continua a alimentar o projeto racial supremacista branco. Precisamos nos questionar sobre qual formação tem sido dada aos agentes de segurança no país, bem como sua estrutura em si. Uma polícia militarizada, em guerra, na qual morrem predominantemente pessoas negras, qual projeto é esse? Ao fundo, estamos diante da estrutura racista. […]
Independentemente disso, penso também que a empresa deve uma indenização por danos morais coletivos à população negra, em um valor tão alto para que seja desinteressante ignorar as demandas históricas antirracistas, como essa em particular tem feito. Trata-se de uma empresa com um preocupante histórico de violência com pessoas negras no Brasil e funciona numa lógica colonial profunda.
Veja, a matriz do Carrefour está no Norte global, e para lá é enviada boa parte do lucro que aufere no Sul. Não sei qual discurso é feito na Europa, mas a sua filial brasileira vem se alinhando aos projetos políticos que têm promovido o desmonte dos direitos sociais no país. Reforma trabalhista, previdenciária, entre outras estão alinhadas com um discurso que nega humanidade. Então, é de se questionar o choque da matriz quando há a materialização do ranço colonial que tem promovido mortes. É preciso insistir em um debate honesto sobre a postura de empresas transnacionais em suas filiais abaixo da linha do Equador e cobrar indenizações por isso.
Declarações tanto do vice-presidente, Hamilton Mourão quanto do presidente Jair Bolsonaro buscaram negar a existência do racismo no Brasil e ainda dizer que a sociedade estaria “importando” uma questão dos EUA. De que maneira esse tipo de declaração aumenta o problema?
Não é surpresa para quem acompanhou a trajetória do homem que está hoje na Presidência do Brasil que tanto ele quanto seu vice digam algo nesse sentido. Eles representam um projeto político que fez do racismo a base do seu meio de produção econômica e de suas relações sociais e, a serviço desse projeto, eles continuarão seu discurso e sua prática. E é evidente que estão a dizer uma grande falácia.
O Brasil é a maior nação negra fora da África, somando 54% da população, e mesmo sendo maioria, [os negros] estão fora dos lugares de poder e experimentam em larga maioria os piores índices de desenvolvimento humano. Foram quase quatro séculos de escravidão em pouco mais de cinco séculos de chegada dos colonos.
Em 1888 houve a abolição formal, mas nenhuma política de inclusão das pessoas negras, pelo contrário. Ao passo que foi estimulada a vinda de imigrantes europeus, que receberam terras e oportunidades, pessoas negras foram marginalizadas de qualquer contato com o poder econômico e destinadas a serem base de exploração que, no caso das mulheres negras, se somam ao patriarcado. Nas palavras de Carla Akotirene, mulheres negras são a matriz geradora pois parem as vidas que serão a base do sistema.
Para aqueles que negam a existência do racismo no Brasil, como explicar ou mostrar que, sim, há muito racismo na sociedade?
Ao longo da história, o projeto de miscigenação foi romanceado no país, como manifestação sublime da democracia racial, pensamento do [sociólogo] Gilberto Freyre, no sentido de que no Brasil teria havido a transcendência racial com a convivência harmoniosa entre brancos, negros e indígenas. Ou seja, de acordo com esse pensamento, não existe racismo no Brasil, apenas desigualdade entre ricos e pobres. As mulheres negras brasileiras são as mulatas que sambam e estão sempre disponíveis sexualmente. Trata-se de algo entranhado no pensamento brasileiro e na organização social do país, algo que os movimentos negros ao longo de muitas décadas vêm denunciando e combatendo.
É uma construção supremacista histórica e vejo o Brasil exportá-la para o Norte global como se fosse cana-de-açúcar. Está na escola, nas famílias, no discurso midiático, em todo lugar. Então muitas pessoas negras não sabem que são negras, não têm sequer condições materiais para formular algo nesse sentido. Então, o que nos resta é lutar por políticas públicas, de educação, assistência social e apoiar projetos políticos nesse sentido. Isso em um sentido coletivo.
O que é racismo estrutural?
Olhar a história do Brasil desde a escravização até a falta de inclusão das populações negras. Entender que foram criados mecanismos legais para afastar pessoas negras de possibilidades de emancipação social. São vários os exemplos: a Constituição Federal de 1824 vedava o acesso de pessoas negras à educação, a Lei de Terras de 1850 condicionava o acesso a terras à compra e venda, e naquele contexto nenhuma pessoa escravizada estava apta a possuir uma propriedade, entre tantas leis de escravização.
Com o fim formal da escravidão, houve um processo de criminalização de pessoas negras, sobretudo homens, alvos de leis como a vadiagem, que determinava a prisão de pessoas “sem ocupação”, numa época de alto desemprego para os homens negros. As mulheres negras foram destinadas ao trabalho doméstico, uma herança presente até hoje. Atualmente, estima-se que mais de 6 milhões de mulheres negras são empregadas [domésticas] no país, e a lei que regulamenta a profissão somente foi aprovada em 2013, sob intensos protestos do sistema que se beneficiou historicamente desse trabalho.
Então, estamos dizendo que o racismo estrutura as relações raciais no Brasil. Uma estrutura presente antes mesmo de nós termos nascidos. No Brasil é comum entrarmos em restaurantes e não encontrar nenhuma pessoa negra no local – nem como garçom ou garçonete. Quem vai a shopping terá dificuldade de encontrar uma vendedora de lojas negra. Isso, vale frisar, em um país com 54% da população negra. Ou seja, o racismo estrutura a sociedade e, assim sendo, está em todo o lugar.
Como você avalia os protestos que pipocaram pelo país a partir do conhecimento público do recente assassinato ocorrido no Carrefour?
Penso que está sendo um marco no país, pois gerou uma onda de protestos contra o racismo que é, de certa forma, inédita. Há pouco mais de dois anos, Marielle Franco, mulher negra vereadora no Rio de Janeiro e grande promessa para a política nacional, foi assassinada em um contexto até hoje não revelado, porém com fortes ligações com a milícia que atua em favor do chefe do executivo nacional. Naquela época chegou a haver uma comoção nacional e internacional, pela brutalidade com a qual Marielle foi morta. Aquele contexto era de um assassinato com fins políticos, pelo que ela representava de potencial para o país, bem como por ser uma figura completamente antagônica ao projeto miliciano que se instaurou no poder. No caso de Beto Freitas, uma revolta que foi ao longo da história sufocada, encontrou coro para ecoar pelo país.
A polícia brasileira é a polícia com o mais alto índice de letalidade: em um ano, somente a polícia do estado do Rio de Janeiro mata mais que a polícia de todos os Estados Unidos. Então podemos ter uma dimensão de quantas vidas negras foram ceifadas no país, quantas mães enterraram seus filhos. Alguns casos despertaram a raiva da população negra ao trauma do colonialismo.
Não há como não citar o menino João Pedro, de pouco mais de 14 anos, que estava brincando em sua casa, durante o isolamento do coronavírus, quando a polícia disparou mais de 70 vezes sobre a residência em que ele estava, na qual não tinha ninguém sequer investigado. São tantos casos que podemos citar… Claudia Silva Ferreira, em 2014, mulher negra, mãe, que foi morta numa ação policial no Rio de Janeiro. Sem qualquer cerimônia, seu corpo foi jogado no porta-malas da viatura. Na saída da comunidade, o porta-malas abriu, e ela foi sendo arrastada pelo chão. Uma cena que nenhuma de nós jamais esqueceu, mas que para muitos é assunto do passado. Então, esse país deve muito à população negra, e o despertar está sendo na medida da dívida.