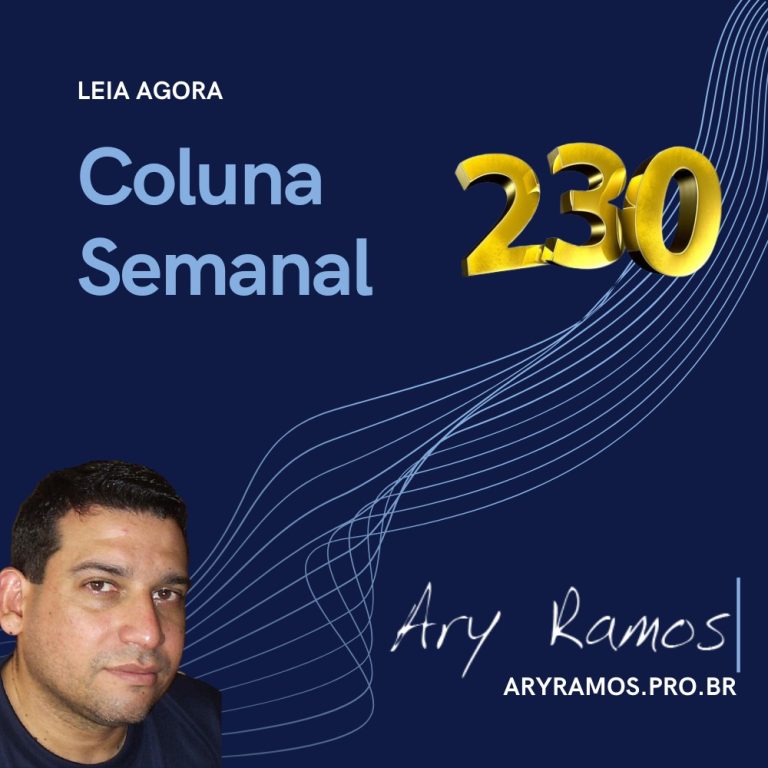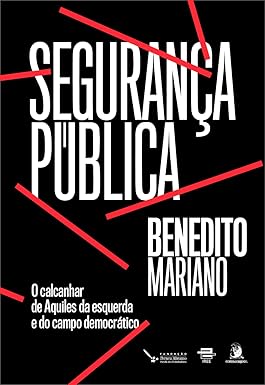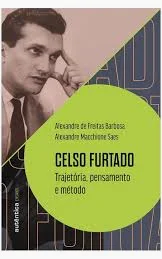Alexandre de Freitas Barbosa & Alexandre Macchione Saes
A Terra é Redonda – 26/04/2025
Introdução dos autores ao livro recém-lançado
Os vários Furtados
“Por que um país com tanta riqueza, tanta terra […] tem esse mundo de gente abandonada, pedindo esmola na rua. Como se explica isso? Isso não é economia. Isso daí tem a ver com a história… O debate não alcança os pontos essenciais, porque a sociedade não está preparada para levar adiante esse debate”.
Celso Furtado, 10 de julho de 2004.[i]
1.
Celso Furtado é um dos intelectuais mais conhecidos e estudados no Brasil e na América Latina. Sua trajetória se mistura à do Brasil República, especialmente a partir dos anos 1950, a tal ponto que não se pode contar a história do país na segunda metade do século XX sem fazer a menção a esse homem público que refletiu e atuou sobre a cena nordestina, brasileira, latino-americana e mundial.
Nascido em 1920, na cidade de Pombal, Paraíba, sua trajetória compreende vários Furtados que se sucedem e se superpõem: o funcionário público do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), o estudante de doutorado na Sorbonne, o economista da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), o gestor da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Ministério do Planejamento.
Há ainda os anos de exílio como professor em universidades do exterior e o regresso ao Brasil, quando participa da transição democrática e da estruturação do Ministério da Cultura e desafia as promessas do “capitalismo global”. As diversas atividades exercidas por Furtado nutrem-se de suas utopias e projetos de transformação do Brasil, sempre presentes em suas obras, mesmo naquelas em que sobressai a verve analítica.
O presente livro fornece uma abordagem panorâmica de Celso Furtado, costurando sua trajetória e seu pensamento em constante transformação, repleto de nuances, ajustes e até rupturas, assim como a sociedade brasileira que ele procurou destrinchar por meio de uma perspectiva que parte da economia para transcendê-la.
Nesse sentido, é importante acompanhar como se dá o movimento de fusão de Celso Furtado com a história brasileira. Se a história avança por desvios, atalhos e cortes bruscos, também são vários os Furtados que a partir dela se expressam.
Isso pode ser percebido na leitura de seus Diários intermitentes. Há o jovem existencialista em busca de seu ser no mundo; o economista responsável por uma das mais originais contribuições brasileiras para a história do pensamento econômico; o intelectual público no front de batalha na Cepal, na Sudene e no Ministério do Planejamento; o professor exilado repensando o país com distanciamento histórico; e, finalmente, o intelectual renomado atuando nos bastidores da transição democrática inconclusa e procurando lapidar seu legado para as novas gerações.
Ao longo de aproximadamente cinquenta anos de produção intelectual e atividades públicas, Celso Furtado publicou quase quarenta livros. Ao percorrermos a vasta bibliografia produzida por Celso Furtado, nos deparamos com uma diversificada produção, com textos ora mais voltados para uma análise sobre os processos históricos, ora mais preocupados com o debate no campo da teoria econômica; mas sempre movido pelo anseio de estilhaçar as fronteiras estabelecidas entre as ciências sociais. Encontramos também a elaboração de manifestos de intervenção política em momentos decisivos de nossa história, assim como reflexões de cunho biográfico.
Em Celso Furtado, não há intervenção política sem teoria e história e tampouco interpretação sem propostas de ação. Teoria e práxis interagem mutuamente na trajetória de Celso Furtado, compondo um olhar muito próprio sobre a realidade brasileira e as possibilidades de transformação da sociedade.
2.
O livro procura apresentar, em linhas gerais, o pensamento de Celso Furtado a partir do contexto histórico em que produziu suas principais obras, sempre sob uma chave interdisciplinar, tornando-o palatável não apenas a economistas e cientistas sociais, mas também a leitores e leitoras provenientes do direito, história, geografia, relações internacionais, arquitetura, literatura e das artes e ciências em geral.
Se o contexto histórico permite acompanhar suas reflexões em constante mutação, é importante ressaltar que cada obra de sua autoria procura atuar de volta sobre a história, numa espécie de bumerangue incessante. Por isso, Francisco de Oliveira qualificou Celso Furtado como o mais “ideológico” de nossos intérpretes [1], no sentido de que suas sínteses sempre são projetadas no horizonte de possibilidades de cada momento.
Nesse sentido, nosso intuito é abarcar as múltiplas dimensões de sua obra em constante elaboração, numa chave panorâmica e pedagógica, apresentando nosso olhar sobre o intelectual – sua trajetória, seu pensamento e seu método – em diálogo com a ampla literatura existente.
Se a porta de entrada para conhecer a obra de Celso Furtado costuma ser Formação econômica do Brasil, sua obra-prima, este livro busca descortinar os “vários Furtados”.
Para além de uma das mais influentes interpretações da história econômica do Brasil, publicada em 1959, a obra de Celso Furtado navega pela teoria econômica, pela dinâmica história latino-americana, pela questão regional, pela economia da cultura e pela análise do capitalismo internacional. O que salta aos olhos é sua capacidade de fornecer uma perspectiva totalizante ao integrar essas temáticas. Isso se torna possível ao ampliar a concepção do sistema centro-periferia a partir da interpretação do subdesenvolvimento e da dependência.
3.
O variado espectro de temas é atualizado pelo confronto de três planos de análise: “o fenômeno da expansão da economia capitalista, o da especialidade do subdesenvolvimento e o da formação histórica do Brasil vista do ângulo econômico” [III]. Portanto, uma interpretação que produz releituras sobre as conjunturas – do desenvolvimento nacional dos anos 1950 e da reestruturação do capitalismo global dos anos 1970 –, avaliando as oportunidades de transformação da sociedade e redesenhando os projetos de intervenção.
O método constantemente lapidado é o eixo a partir do qual procuramos encontrar a coerência de sua trajetória e seu pensamento, compreendidos a partir das rupturas da história brasileira e de como ele se posiciona frente a elas. Não se trata de uma coerência definida a priori, pois resultante do processo que altera a sua forma de vinculação à vida nacional em diferentes momentos: luta pela superação do subdesenvolvimento nos anos 1950 e 1960, exílio e crítica ao “modelo brasileiro” de desenvolvimento do pós-1964 e volta ao centro da cena durante a redemocratização dos anos 1980.
Celso Furtado se debruça ao longo de sua obra sobre o Nordeste, o Brasil, a América Latina e o sistema capitalista mundial estruturado por meio das relações entre centro e periferia. Essas dimensões de seu pensamento serão abordadas em seu devido lugar, mas não podemos esquecer que elas se referem a diversos níveis de análise sobre o mesmo problema – a tensa, complexa e por vezes dialética interação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento – que muda conforme as escalas e temporalidades, e sempre de maneira encadeada.
Não podemos deixar de mencionar nessa introdução que o livro foi escrito com uma mirada para as próximas gerações, para os jovens que ingressam na universidade e na vida política, tal como fazia Celso Furtado em seus primeiros livros, dirigindo-se aos estudantes e à juventude.
Para os leitores que travaram algum conhecimento com a obra do intelectual na universidade ou nas batalhas políticas, procuramos recuperar os vários Furtados, como se fossem heterônimos de uma mesma persona. Poderão, assim, redescobrir esse pensador multifacetado a partir de novos olhares e perspectivas. Se os mais velhos possuem cada um “o Furtado para chamar de seu”, o convite que fazemos é para que ampliem seu repertório furtadiano.
Nós, os autores, nos damos por satisfeitos se o leitor e a leitora, ao chegarem ao final do livro, forem correndo ler este ou aquele livro do mestre. Nosso objetivo não é cultuar Furtado, mas praticar Furtado, aplicando seu método para entender as novas configurações assumidas pela economia nordestina, brasileira, latino-americana e mundial, sempre interagindo – por vezes de maneira contraditória – com as dimensões sociais, políticas e culturais.
4.
Com 22 anos incompletos, o estudante de Direito no Rio de Janeiro, e aficionado por música, publica na Revista da Semana, um artigo intitulado “Os inimigos de Chopin”.[iv] O jovem Furtado realiza então uma bela síntese em que o artista e seu país de origem aparecem fundidos.
Eis o trecho: “Chopin e Polônia estiveram por tanto tempo juntos e tanto se assemelham em suas trajetórias que se nos afiguram dois lados de uma mesma coisa. E teria sido possível um Chopin se não existisse uma Polônia? Certamente não. Como a Polônia não seria o que é sem este capítulo de sua existência: Frederico Francisco Chopin”.[v]
Parodiando o jovem, podemos dizer que o Brasil, país do sertanejo paraibano, tampouco seria o que foi, ainda é e pode ser, se não existisse o capítulo Celso Monteiro Furtado.
O intelectual Celso Furtado perscrutou analiticamente o potencial de desenvolvimento da nação, apesar da sordidez de suas elites e classes dominantes. Como se isso não bastasse, construiu possibilidades utópicas, entranhadas em sua metodologia inovadora, transformando-se numa “matriz de referência que não desiste nunca”, conforme a expressão de Maria da Conceição Tavares. [VI]
O capítulo Celso Furtado da história do Brasil não se encerrou com a partida do economista em 2004. Seu reconhecimento foi materializado, em 2004, com a criação do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, proposta encabeçada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E justificado pela crescente quantidade de trabalhos dedicados a refletir sobre a trajetória e a vasta obra de Celso Furtado. Uma obra que vem sendo debatida e valorizada, cada vez mais, para além das fronteiras da ciência econômica. Uma obra interdisciplinar necessária para enfrentar os novos desafios do Brasil.
Tal como Chopin revive toda vez que é tocado ao piano, alçando consigo sua Polônia natal, a sinfonia furtadiana encontra-se presente em sua obra. Toda vez que ela é lida, reinterpretada ou aplicada por alguém, o Brasil se reveste de possibilidades inauditas.
Foi assim durante as caravanas virtuais de 2020, quando o centenário de Celso Furtado despertou intelectuais, professores, estudantes e militantes dos quatro cantos do país, reivindicando seu legado durante a pandemia real e metafórica. Foram inúmeras lives, webinários, cursos, eventos, além dos dossiês publicados em revistas acadêmicas e livros lançados para rememorar esse capítulo da história do Brasil.
Se Chopin parece distante, vamos de Emicida: “eu não sinto que vim, eu sinto que voltei” [VII]. Furtado está sempre voltando, para levar adiante o necessário debate com ousadia crítica e imaginação transformadora. Não desanimemos.
5.
Celso Furtado: trajetória, pensamento e método foi escrito para dar conta do seguinte desafio: fornecer os instrumentos para acessar o seu método de análise e a sua produção intelectual por meio de uma abordagem panorâmica que tornasse possível acompanhar o pensamento e a trajetória de Celso Furtado ao longo da segunda metade do século XX.
O livro percorre a vida e obra de Celso Furtado descortinando os “vários Furtados” – teórico do subdesenvolvimento, intérprete do Brasil e do capitalismo, formulador de políticas de desenvolvimento, pensador da cultura e intelectual atuante –, situando a publicação de suas obras com os contextos históricos e os desafios vividos.
Para além de sua interpretação presente em Formação econômica do Brasil ou de seu papel como o representante brasileiro do estruturalismo latino-americano, procuramos situar a trajetória de Celso Furtado de uma maneira pedagógica, compondo um amplo quadro em que autor, obra e contexto histórico se conectam por meio de nossa leitura do projeto furtadiano de construção de um país soberano, justo e democrático.
A estrutura do livro é cronológica, pois sua biografia serve de ponto de partida para a compreensão de sua produção bibliográfica, mas sem projetar uma trajetória linear, cujo sentido esteja dado de antemão. Se o tratamos como “mestre”, é porque, com ele, aprendemos a pensar o Brasil. Não se trata, pois, de heroicizar o personagem. Ele viveu seu tempo e deixou seu legado. Cabe a nós recuperá-lo. Simples assim.
O capítulo inicial, “O jovem Furtado e os eixos de sua formação (1920-1948)”, apresenta suas primeiras reflexões, saindo da realidade nordestina para o Rio de Janeiro e, depois, da capital brasileira para a Europa. Uma formação jurídica na Universidade do Brasil, mas, acima de tudo, navegando pelas leituras das ciências sociais e pelos desafios de constituição do moderno Estado brasileiro nas décadas de 1930 e 1940. No doutoramento em Paris, por sua vez, sedimenta-se em sua formação a história como instrumento de análise, uma história problema, como presente na tradição da escola dos Annales.
O encontro com a ciência econômica, por outro lado, somente ocorreria a partir de 1949, quando se transfere para Santiago do Chile para trabalhar na Cepal. Este é o objeto do Capítulo 2, “A aventura da Cepal (1949-1958)”, fase da fantasia organizada, quando o economista se equipa com as ferramentas de planejamento para atuar no sentido da superação do subdesenvolvimento nos países latino-americanos. Essa fase se encerra com sua ida para a Universidade de Cambridge, contexto de redação de sua obra-prima, que figura como síntese de sua trajetória – por conjugar método analítico e interpretação histórica da economia brasileira –, objeto do Capítulo 3, “Formação econômica: o método histórico-estrutural e uma ideia de Brasil”.
“O intelectual estadista (1958-1964)”, Capítulo 4, situa Celso Furtado no auge de sua atuação política, pois num curto espaço de tempo o economista da Cepal transforma-se no formulador de um dos mais ousados planos de desenvolvimento regional do país, com a criação da Sudene no governo de Juscelino Kubitschek. Mais tarde, em meio à crise econômica e política do governo de João Goulart, Celso Furtado é o responsável pela formulação do Plano Trienal, como ministro extraordinário do Planejamento. A fantasia (é) desfeita com o golpe militar e seu longo exílio de quase vinte anos.
Os dois capítulos seguintes tratam do período em que Celso Furtado, tendo seus direitos políticos cassados pelo Ato Institucional n.º 1, precisa produzir distante do palco político. O Capítulo 5, “O intelectual no exílio 1: repensando o Brasil (1964-1974)”, percorre a primeira década do exílio, quando sua prioridade é compreender os dilemas da economia brasileira, as razões do golpe e os significados do novo modelo de subdesenvolvimento.
“O intelectual no exílio 2: repensando o capitalismo (1974-1980)”, por sua vez, destaca sua produção no contexto em que o economista se distancia dos problemas da conjuntura econômica brasileira e produz textos voltados para compreender os impasses da civilização industrial e do capitalismo contemporâneo, oferecendo uma reflexão inovadora no campo da ciência social.
6.
Os capítulos finais do livro se voltam para as duas últimas décadas de vida de Celso Furtado. Com seu retorno definitivo para o Brasil, durante o processo de redemocratização, o economista reaparece em plena forma, atualizando sua leitura do “modelo brasileiro” e esclarecendo aos cidadãos a origem e a dinâmica da dívida externa e da inflação. Assume, no governo Sarney, o Ministério da Cultura, área em que fornece contribuições valiosas desde os anos 1970, agora transformadas em política pública.
O Capítulo 7, “De volta à cena nacional: economia, redemocratização e cultura (1980-1988)”, procura explicar como e porque Celso Furtado foi escanteado pelos economistas do poder, ao passo que se sobressai como um intelectual para além da economia. Sua atuação na cena política lhe permite compreender os impasses da democracia brasileira por meio de uma perspectiva histórica.
O Capítulo 8, “Na linha do horizonte: dialogando com as novas gerações (1988-2004)”, apresenta uma fase de balanços e sínteses de Celso Furtado. Uma década em que o reconhecimento do economista se concretiza por meio de prêmios e indicações, como o recebimento de diversos títulos honoris causa, a nomeação para a Academia Brasileira de Letras e a indicação para o prêmio Nobel de Economia.
Por meio de seus livros, Celso Furtado estabelece um diálogo com as novas gerações, com ênfase nos novos desafios para o enfrentamento do subdesenvolvimento, a partir de um resgate de sua contribuição teórica e de sua trajetória pública, e de suas reflexões sobre a transformação da economia mundial.
A título de conclusão, apresentamos um ensaio-síntese que percorre meio século de produção intelectual de Celso Furtado com o objetivo de reter os instrumentos metodológicos de sua análise econômica e social. Uma perspectiva analítica burilada por décadas, que a despeito de completarmos vinte anos de seu falecimento em 2024, ainda nos auxilia a captar a essência da realidade – condição para o enfrentamento da pobreza e da desigualdade nas suas variadas formas, sempre levando em conta as transformações do cenário internacional, as quais constrangem e abrem possibilidades para novas propostas de desenvolvimento nacional.
*Alexandre de Freitas Barbosa é professor de economia no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP). Autor, entre outros livros, de O Brasil desenvolvimentista e a trajetória de Rômulo Almeida (Alameda).
*Alexandre Macchione Saes é professor no Departamento de Economia da USP. Autor, entre outros livros, de Conflitos do capital (EDUSC).
Referências
Alexandre de Freitas Barbosa & Alexandre Macchione Saes. Celso Furtado – Trajetória, pensamento e método. Belo Horizonte, Autêntica, 2025, 318 págs.
Notas
[I] Trecho do documentário O longo amanhecer: cinebiografia de Celso Furtado. Direção: Jose Mariani. Rio de Janeiro: Andaluz Produções, 2004. (73 min.)
[II] Oliveira, F. A navegação venturosa: ensaios sobre Celso Furtado. São Paulo: Boitempo, 2003, p. 18-19.
[III] Furtado, Celso. Aventuras de um economista brasileiro. In: Celso Furtado: Obra autobiográfica. Organização de Rosa Freire d’Aguiar.
Tomo II. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 21.
[IV] Furtado, Celso. Os inimigos de Chopin [Revista da Semana, 14 abr. 1942]. In: Anos de Formação: 1938-1948. Organização de Rosa Freire d’Aguiar. Rio de Janeiro: Editora Contraponto/Centro Celso Furtado, 2014b. (Arquivos Celso Furtado, v. 6).
[V] Furtado ([1942] 2014a, p. 67).
[VI] O longo amanhecer: cinebiografia de Celso Furtado. Direção: Jose Mariani. Rio de Janeiro: Andaluz Produções, 2004. (73 min.)
[VII] AmarElo: é tudo para ontem. Direção: Fred Ouro Preto. São Paulo: Netflix, 2020. (89 min.)