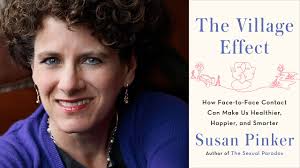Folha de São Paulo, 07/03/2011.
Autor: Entrevista com Renato Dagnino, professor titular no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp.
A seguir, trechos da entrevista concedida à Folha.
Folha – De que maneira a ascensão social ocorrida durante o governo Lula interfere na política de ciência e tecnologia do Brasil?
Renato Dagnino – De uma forma geral, a gente tem que pensar a política técnico-produtiva. Hoje, muitos produtos já não são encontrados no comércio, justamente pela ascensão desse grupo, que tem suas demandas de consumo. Além disso, frequentemente os produtos que demandam não são os que normalmente estão à venda. Existem tipos de produtos que são orientados a outro segmento de consumo. Pensando de uma forma global, o país deveria fazer um esforço para se antecipar a essa demanda e prevenir desequilíbrios.
Demandas de que tipo?
Por exemplo, necessidades básicas: habitação, esgoto, água potável, transporte etc. Toda essa parte que tem a ver com o gasto público, com uma obrigação do Estado. Existe aí forte demanda reprimida. Como vamos resolver esse tipo de problema com as tecnologias disponíveis, que foram pensadas como solução para uma situação totalmente diferente da brasileira? Caso se tente resolver muitos desses problemas com a mesma tecnologia usada nos países desenvolvidos, o custo será astronômico, e o impacto ambiental, desastroso. Além disso, estaremos usando tecnologias que não correspondem à escassez e abundância relativa de fatores. Essas tecnologias, por terem sido desenvolvidas em países avançados, empregam muito menos mão de obra do que poderiam empregar. Por uma razão simples: a mão de obra lá é cara. Aqui, a gente precisa de muita mão de obra, de preferência em coisas que possam ser construídas, desenvolvidas ou implantadas a partir da organização dos próprios trabalhadores, sem a necessidade de grandes empresas.
Por quê?
Quando o governo gasta recursos com empresas, utilizando seu enorme poder de compra para atender a essas necessidades dos cidadãos, uma parte do gasto é lucro da empresa. Há uma ineficiência nesse processo, pois o que chega na classe mais pobre é menos do que poderia chegar. Ou seja, o governo gasta um dinheiro razoável nessa tentativa de amenizar a miséria, mas deixa de aproveitar o seu poder de compra, que é muito grande, para alavancar esse processo.
Falta integração entre políticas sociais e políticas de ciência e tecnologia?
No mundo inteiro, a pesquisa feita na universidade é direcionada para o interesse das empresas. Muito pouco da pesquisa que se faz atende aos interesses do Estado. No Brasil, porém, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, nosso gasto com universidades não favorece as empresas. Enquanto lá as empresas investem em pesquisa e contratam 70% dos mestres e doutores, aqui a nossa taxa de aproveitamento fica em torno de 0,07%. O que acontece é que as empresas localizadas no Brasil inovam comprando equipamentos, o que faz sentido, dada a nossa condição de país periférico. Se olharmos para as demandas que têm a ver com o projeto de erradicação da miséria, veremos uma carência enorme de conhecimento técnico-científico. Isso ocorre por várias razões, entre elas, porque as necessidades básicas das populações nos países desenvolvidos foram atendidas há muito tempo. Hoje, a expansão da fronteira do conhecimento está conectada ao interesse das pessoas de mais alta renda. Então, esse conhecimento de que necessitamos não existe, nós temos que produzir. E temos que oferecer soluções tecnicamente perfeitas, ou as melhores possíveis, além de social e ambientalmente adequadas. Esse é desafio que temos pela frente.
Como seria possível fazer a integração entre essas políticas?
É possível utilizar o poder de compra do Estado de uma forma mais coerente com a ideia de inclusão social. A latinha de alumínio é um exemplo. Por que não podemos transformar a latinha em esquadria de alumínio com uma tecnologia social, completando a cadeia da janela de alumínio com a economia solidária? O processo de construção de casas populares poderia ser pensado de forma a unir as pontas, desde a pesquisa, partindo de uma tecnologia simples, capaz de ser utilizada pelas cooperativas, em pequena escala. O programa Minha Casa, Minha Vida poderia ser usado de outra forma. Hoje, quase todos os recursos do programa são alocados em empreiteiras, quando uma parte grande poderia ir para mutirões.
Há alguma diferença entre os governos FHC, Lula e Dilma no que diz respeito às políticas de ciência e tecnologia?
Não. Na verdade, o que os dados disponíveis mostram é que vem diminuindo o gasto percentual das empresas em pesquisa e desenvolvimento. Isso é totalmente esperado. Trata-se de uma questão estrutural. Existem três bons negócios com tecnologia: roubar, copiar ou comprar. Desenvolver, só em último caso.
Se é mais racional que o empresário compre tecnologia, o Estado precisa ter um papel mais ativo?
Não adianta. Se somos um país capitalista, o Estado nunca terá condições de intervir para regular o mercado a ponto de “obrigar” um empresário a fazer algo que ele não queira. Em especial algo como desenvolver tecnologia.
E qual é a solução?
No caso brasileiro, não tem solução, e esse é o problema que o pessoal não entendeu ainda. Costuma-se dizer que o empresário brasileiro é “atrasado”, que falta “clima de inovação”, que ele tem que ser “mais ousado”, mais “empreendedor”. Ora, se tem empresário competente no mundo, é o brasileiro. E digo isso como toda a sinceridade. Basta ver o dinheiro que ganha, a taxa de lucro que tem num país como o Brasil. Agora, o processo de erradicação da miséria é uma oportunidade de ouro. Esse processo desvela uma enorme demanda reprimida por conhecimento. E não só conhecimento desincorporado, mas incorporado em bens, serviços, capacidade produtiva. Costumo dizer que 50% da população brasileira está fora do Brasil. Para fazer um país onde caiba todo o povo brasileiro em termos de consumo, de satisfação de necessidades de todo tipo, é preciso construir outro país do tamanho do que já existe. Não dá para fazer isso sem planejar antes. Está na hora de pensar esse processo de construção do Brasil que a gente quer, e isso não está sendo feito.
Não cabe ao governo o papel de fomentar essa discussão?
No caso da política de ciência e tecnologia, temos uma situação anômala. Em todas as políticas públicas, os atores sentam à mesa com seus projetos. Quando se discute a política salarial ou de emprego, por exemplo, empresários e trabalhadores aparecem claramente em áreas radicalmente opostas. Na ciência e tecnologia, porém, o projeto político não aparece. O que aparece são os mitos: neutralidade, determinismo, a ideia de que ciência e tecnologia sempre são boas e que o problema é o uso que vai se fazer. E há um complicador. Há 50 anos fala-se em participação pública na ciência. É um discurso politicamente correto, mas as pessoas parecem esquecer em que país estão vivendo. Por mais politicamente correto que seja, não posso concordar com isso. Qual a saída? Eu acho que é propor uma discussão dentro da comunidade de pesquisa. Explicitar essa esquizofrenia. A minha expectativa é que haja uma cisão dentro da comunidade de pesquisa, como existe em qualquer outra área quando o projeto político consegue se manifestar. Porque há projetos diferentes, mas hoje eles não se mostram.
Quanto dessa situação é novidade por causa do atual momento social e econômico do país?
Essa situação existe há muito tempo, mas, na medida em que há um dado novo, e esse dado novo obriga a uma expansão da capacidade produtiva, é hora de inovar com qualidade, e não fazer um simples aumento quantitativo da capacidade produtiva. Isso porque, quando se dobra a capacidade produtiva de um determinado sistema, o impacto indesejável do ponto de vista ambiental, cultural etc. pode até quintuplicar.
Desse ponto de vista, o senhor diria que o país está pronto para erradicar a miséria?
Do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de conhecimento científico-tecnológico, o país não está pronto de jeito nenhum.
E para absorver a chamada nova classe média?
Também não. Esse processo terá consequências ambientais e sociais. Acaba desfazendo de um lado o que faz do outro. Os programas compensatórios, como o Bolsa Família, são um caso típico. Sem gerar oportunidade de trabalho e renda para essas pessoas, não se está fazendo muita coisa.
Reportagem da Folha na sexta mostrou que a “porta de saída” do Bolsa Família terá, neste ano, o menor peso no Orçamento desde a criação do programa.
É um absurdo. O cara vai continuar excluído. Não vai passar fome, mas também não vai pertencer à sociedade, porque não terá um papel social. Estamos falando em criar oportunidades de trabalho e renda, o que não é necessariamente emprego.
Como assim?
Não é emprego formal, com carteira assinada. A economia cresce, mas não gera emprego. Aí entram a economia solidária e a tecnologia social, por exemplo. Ao dizer isso, não é preciso pensar em uma sociedade diferente do capitalismo. Podemos falar, de uma maneira pragmática, que a economia solidária e a tecnologia social são condições para tornar efetivo o dinheiro que o governo gasta para tirar as pessoas da miséria. É preciso dar condições para que essas pessoas se sustentem, pois, do contrário, provavelmente vão voltar para a miséria. Dar dinheiro por programas compensatórios é apenas a pontinha de um iceberg. Claro que tem sua importância, mas como vamos cuidar do resto?