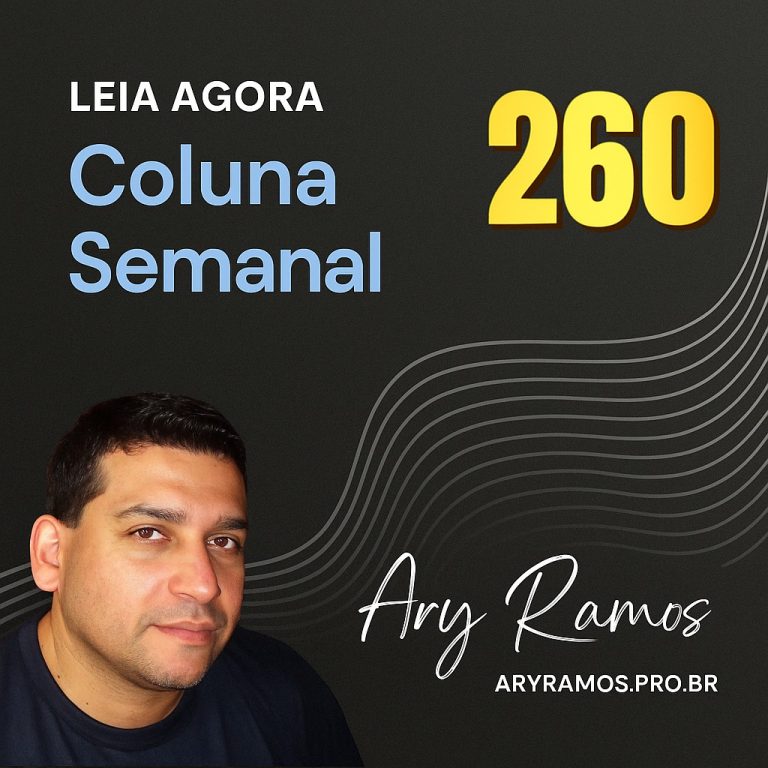Está em curso nova fase de precarização dos docentes. Ensino à distância, via plataformas, permitiu exploração massiva: turmas de centenas de alunos, controle algorítmico e roubo de tempo livre. Leia 1º texto de série sobre redução da jornada
Robert Leher e Amanda Moreira da Silva – OUTRAS PALAVRAS – 09/10/2025
Em parceria com o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (Cesit) da Unicamp, Outras Palavras inicia uma série de textos que abordará a redução da jornada de trabalho no Brasil. Essa agenda histórica ganhou novo fôlego no ano passado, quando trabalhadores foram às ruas, em diferentes ocasiões, com um lema contundente: “Há vida além do trabalho”. Ela mostrou enorme potencial de mobilização – não só de trabalhadores, mas também de suas famílias – e deu uma chacoalhada nos sindicatos e partidos progressistas, instando-os a se renovar, a reencantar o mundo do trabalho diante da precarização – mais que de empregos, da vida. Dois exemplos concretos ilustram essa força: a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da deputada Erika Hilton (Psol-SP) e o recente plebiscito popular pelo fim da escala 6×1, que reuniu mais de 1,5 milhão de assinaturas, evidenciando o forte apelo da causa.
Este artigo de abertura da série, cujo título original é Mercantilização financeirizada da educação, ensino superior a distância e jornadas de trabalho jamais vistas, expõe a engrenagem perversa da financeirização da educação e seus impactos sobre o trabalho docente no Ensino Superior privado. O ponto central é a explosão do ensino a distância (EaD) a partir de 2017, que ocorreu paralelamente à redução das matrículas presenciais. Trata-se de um lucrativo projeto de massificação do EaD, conduzido por corporações educacionais listadas na Bolsa de Valores e com ramificações em todo o país.
Os autores revelam dados que ilustram essa disparidade: professores, sem autonomia nas trocas e construção de saberes com os alunos, são reféns das plataformas e “enquanto nos cursos presenciais das instituições públicas a relação é de 12 estudantes por docente, nas privadas presenciais salta para 1:52 e, no EaD privado, chega a 1:168”. Nesse contexto, a “hora-aula” transformou-se na unidade básica de uma exploração sem precedentes. O trabalho, fragmentado por plataformas digitais, nunca tem fim. O controle algorítmico e a lógica do “tempo abstrato” invadem a vida privada, forjando uma subjetividade neoliberal digitalizada. Diante disso, a luta clássica pela redução da jornada de trabalho depara-se com uma nova realidade: a do cronômetro do capital que nunca para. (Rôney Rodrigues)
Introdução
O artigo examina o trabalho docente no Ensino Superior privado-mercantil, destacando o trabalho nos cursos a distância, ensino digital e ensino virtual, todos eles profundamente afetados pela intensificação e pela expropriação do trabalho. Atuam no Ensino Superior 328 mil docentes que atendem aproximadamente dez milhões de estudantes, sendo 79,3% nas instituições privadas. Entretanto, a rede pública, com apenas 20,7% das matrículas, possui 54% dos docentes em atividade no Ensino Superior, conforme o Censo do Ensino Superior de 2023 (Brasil, 2024). Em virtude das singularidades da forma de intensificação do tempo de trabalho na educação mercantilizada e financeirizada, notadamente na modalidade de cursos a distância, o tema é crucial para o debate político da redução da jornada de trabalho.
Em virtude da escala da intensificação do tempo de exploração do trabalho nas corporações educacionais, a luta pelo fim da jornada 6X1 e a discussão relativa ao tempo de trabalho assumem importância fulcral. Conhecer e explicar a exacerbação da jornada laboral no setor da Educação Superior privada-mercantil permite aprofundar a discussão sobre a jornada de trabalho, especialmente no contexto da plataformização e da financeirização da educação, tema que abrange, a rigor, toda a Educação. Este segmento de trabalhadores passa a vivenciar jornadas reais de trabalho jamais vistas na educação.
No caso do Ensino Superior, especialmente o privado-mercantil, os processos de exploração incidem diretamente sobre as condições de controle do tempo pelo trabalhador. A remuneração docente não se dá apenas pelos contratos de trabalho, mas, também, como em outras categorias, por meio de tarefas realizadas, no caso, aulas, correções de estudos, orientações, elaboração de materiais pedagógicos para uso (e incorporação sub-remunerada) nos sistemas de ensino e nas plataformas de trabalho das corporações. Desse modo, a consigna “existe vida após o trabalho” que orienta as lutas pelo fim da escala 6 x 1 não pode deixar de abarcar o labor de uma das categorias mais exploradas e que possuem as jornadas mais intensificadas, como a dos docentes das instituições privadas mercantis, especialmente aqueles que atuam na EaD. Como em milhões de outros trabalhadores, o tempo de trabalho não é expresso e regulado apenas na forma de jornada diária e semanal de trabalho.
A rápida expansão, nos últimos 15 anos, da economia de plataformas e do trabalho digital tem gerado desafios para a compreensão do mundo do trabalho no setor da educação mercantilizada. Nesse campo há um esforço crescente de pesquisas que têm contribuído para compreender o funcionamento das plataformas digitais e identificar suas conexões com as relações de trabalho, como as de Abílio, Amorim e Grohmann (2021); Antunes (2023); Fuchs (2014); Huws (2014); Machado e Zanoni (2022), Sagrado, Da Matta e Gil (2023), Scholz (2016).
A plataformização do trabalho e, particularmente, do trabalho docente, se caracteriza pela forte heterogeneidade, combinando, de diferentes formas, gestão algorítmica, intensificação, gamificação e controle de todo processo pedagógico. É notório o processo de precarização do trabalho docente no Ensino Superior e na Educação Básica (Silva, 2020). A plataformização do trabalho docente reproduz com novas características a heteronomia cultural própria do “capitalismo dependente” (Fernandes, 1981) que tem como bases as expropriações e brutais níveis de exploração, tema abordado por Marini (2000) em sua discussão sobre a “superexploração do trabalho”.
A reconfiguração do trabalho docente impulsionada pelas corporações educacionais estruturadas como sociedades anônimas e com ações nas bolsas de valores possui como foco principal a jornada de trabalho, combinando a sua intensificação (Dal Rosso, 2008) por meio da subordinação real do trabalho ao capital e por novas formas de controle do tempo (Thompson, 2011) dos professores através das plataformas digitais. A introdução dessas tecnologias intensifica a carga de trabalho docente e reforça os mecanismos de controle externo e, o que é crucial, de autocontrole interno contidos nas tecnologias digitais gerando uma “subjetividade neoliberal digitalizada” (Sagrado, Da Matta, Gil, 2023). Por isso, a problemática do controle do tempo de trabalho pela classe trabalhadora compõe a nervura central do presente artigo.
O artigo dedica uma seção para caracterizar o tema do tempo de trabalho como o fulcro das lutas de classes, abordando, em diálogo com E. P. Thompson, o significado das lutas pelo tempo; a seguir, caracteriza a relação entre a plataformização e a financeirização diante da mercantilização financeirizada na EaD, na terceira seção, a caracterização da intensificação da jornada em patamar inédito na História da Educação, realçando o problema da expropriação do trabalho. Nas conclusões, a partir da análise realizada, foram elaboradas proposições para fortalecer a luta contra a ofensiva do capital sobre o tempo que impossibilita a existência de uma vida plena de sentido imbricada aos processos de trabalho.
Tempo de trabalho, tempo a serviço da exploração, tempo como luta de classes na Educação
Leher (1998) ressalta que mesmo antes de Marx ter analisado o segredo da mercadoria, inúmeros movimentos proletários já haviam compreendido que, por trás da instituição da jornada de trabalho, estava uma forma do patrão aumentar a exploração do trabalho. Como assinalado por Thompson (2011), a luta pelo tempo está na própria origem da classe trabalhadora como classe que se forja em luta contra a burguesia. O autor faz um fascinante estudo do processo de internalização do tempo por parte das classes operárias inglesas, no qual argumenta que, nas sociedades camponesas, de pescadores e nas pequenas indústrias, o tempo era orientado para tarefas que, em grande parte, possuíam sentido como valores de uso. Este processo – que nada tem de homogêneo – levou, historicamente, após muitos embates e lutas, os trabalhadores pobres a interiorizar uma determinada disciplina de tempo.
Contudo, na Inglaterra, o país de capitalismo mais avançado no Século XIX, os trabalhadores resistiram à imposição do tempo burguês. A luta pelo dia livre “Saint Monday” motivou embates memoráveis e, como expresso na luta pelo fim da Jornada 6×1 segue impulsionando no Brasil as lutas do presente. Hobsbawm (1987) registra que a primeira manifestação internacional dos trabalhadores teve o tempo como bandeira: “O Primeiro de Maio foi planejado como uma única manifestação simultânea internacional pela jornada legal de oito horas de trabalho” (Hobsbawn, 1987, p. 112 apud Leher, 1998). O feriado do Dia do Trabalhador foi estabelecido pela luta dos trabalhadores: foi através da participação pública que o 1o de Maio se tornou um feriado tanto no sentido ritual, quanto no sentido festivo.
Apesar da resistência, os capitalistas tiveram vitórias expressivas. Enquanto as primeiras gerações de trabalhadores ingleses lutaram contra o relógio, isto é, contra as horas (de trabalho) em si mesmas, as gerações seguintes, admitindo o controle da jornada de trabalho, lutaram pela redução legal das horas de trabalho. Com isso, assinala Thompson (2011), a classe operária inglesa expressou a sua aceitação da organização da sociedade em termos de tempo abstrato (Leher, 1998), porém inserindo-o nas lutas de classes, posição discutida de modo original por Marx na Associação Internacional dos Trabalhadores. Como demonstrado empírica e teoricamente por Marx (2014) e Engels (2010), as lutas contra o aumento das jornadas, a intensificação e a expropriação do trabalho conformam uma situação de sofrimento laboral das classes trabalhadoras e, por conseguinte, devem compor uma nervura axial da estratégia de luta contra o morticínio do capital.
O tempo abstrato, precisamente o tempo de exploração do trabalho, possui imensas particularidades na educação. Nas lutas históricas das classes trabalhadoras, a garantia do acesso real das crianças, dos jovens e dos adultos à educação foi compreendida como uma dimensão da estratégia de ‘fazimento’ das classes trabalhadoras. E o trabalho de ensinar, nesses contextos, não se confunde com o tempo sob o jugo do capital. Para além do debate entre trabalho produtivo e improdutivo no âmbito do serviço público, em períodos em que as escolas estão auto-organizadas e dirigidas por educadores e estudantes a vivência do tempo é outra. Em processos revolucionários da segunda metade do Século XX, como a Revolução Cubana (1959), ou a Revolução dos Cravos (1974), a questão da jornada de trabalho docente foi percebida e mensurada pelos trabalhadores de modo totalmente distinto do tempo imposto nas fábricas estruturadas com base no maquinismo. A possibilidade de compartilhar experiências de educação de crianças, jovens e adultos, assim como os círculos de discussões e as práticas de teatro, música etc., tornavam o tempo na escola uma experiência plena de sentido (Varela et Al., 2022).
Essas experiências seguem práticas como as das escolas do campo do MST, em que o tempo igualmente não é uma forma de subordinação, intensificação e controle do trabalho, mas de compromisso com a Educação Popular. O trabalho não alienado não pode ser mensurado pelo cronômetro. No entanto, o trabalho não alienado é compreendido pelo estado maior da burguesia como um trabalho subversivo que precisa ser suprimido. Por isso, sempre as políticas que objetivam extirpar a soberania popular sobre os assuntos públicos incidem sobre o controle do tempo.
Com efeito, as ações da burguesia se deram no sentido de impor outra lógica de trabalho nas escolas, objetivando torná-las instituições afastadas do controle e da soberania popular. O próprio estado maior do capital logo compreendeu que o intento dos trabalhadores, expressos originalmente na Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), de que a defesa da Escola Pública não equivale a nomear o Estado (e os governos) como educadores do povo, levaria a uma perda dos meios de subordinação da educação ao capital. Por isso, a expropriação do conhecimento e a intensificação do trabalho docente tornaram-se objetivos estratégicos. No período de ascenso do neoliberalismo uma das manifestações mais explícitas desse propósito do capital pode ser encontrada na proposição de Labarca, consultor da CEPAL no contexto de implantação da neoliberalização da educação pública latino-americana nos anos 1990:
Os docentes deixam de ser os principais depositários do conhecimento e passam a ser consultores metodológicos e animadores de grupos de trabalho. Esta estratégia obriga a reformular os objetivos da educação. O desenvolvimento de competências-chave […] substitui a sólida formação disciplinar até então visada. O uso de novas tecnologias educativas leva ao apagamento dos limites entre as disciplinas, redefinindo ao mesmo tempo a função, a formação e o aperfeiçoamento dos docentes (Labarca, 1995, p. 175).
O processo de expropriação do conhecimento dos docentes é indissociável das contrarreformas que objetivam impor uma nova escala de subordinação real do trabalho ao capital, o que requer mudanças na composição orgânica do capital, via-de-regra pela exacerbação das tecnologias. E será por esta via que as corporações educacionais financeirizadas irão impor uma nova ordem de grandeza na escala da exploração do trabalho dos docentes que atuam na EaD.
Conforme é possível depreender da análise dos Censos do Ensino Superior do INEP, o crescimento exponencial das matrículas em EaD entre 2017 e 2023 é proporcional ao decréscimo das matrículas presenciais, o que confirma a opção do setor privado-mercantil pela massificação por meio desta modalidade. Na segunda coluna fica evidente que a expansão se dá no setor privado, liderada pelas corporações (Bielschowsky, 2020). O que frequentemente não é observado é o fato de que o crescimento dos ingressantes, matrículas e cursos na modalidade EaD das corporações não foi acompanhado pelo crescimento do número de professores. Em 2017, ingressaram 1,17 milhão de estudantes, em 2,1 mil cursos (o que já indicava a amplitude de tipos de cursos) somando então 1,8 milhão de estudantes; em 2023, ingressaram 2,94 milhões apenas nas instituições com fins lucrativos, agora em 10,5 mil cursos, totalizando 4,26 milhões de matrículas a maioria delas nas dez maiores corporações. Neste período, os docentes do setor privado (incluindo as ditas sem fins lucrativos) foram substancialmente reduzidos, passando de 186 mil (2017) para 150 mil (2023), situação agravada na modalidade a distância.
Enquanto nos cursos presenciais das instituições públicas o número de estudantes por docente é de 1:12, nas privadas presenciais é de 1:52 e nas privadas em EaD de 1:168. Analisando mais detidamente a intensificação do trabalho nas maiores corporações financeirizadas, é necessário destacar uma instituição privada-mercantil que oferta seus cursos perto de 100% em EaD. Esta corporação, não nomeada nos dados do Censo do Ensino Superior de 2023 (Brasil, 2024) possui 709 mil estudantes e escassíssimos 326 docentes, o que corresponde a 1 docente para 2,2 mil estudantes; outra instituição, também basicamente a distância, possui 771 mil estudantes (764 mil a distância) e igualmente irrisórios 524 docentes. Uma grande instituição pública, por sua vez, possui 62 mil estudantes, todos presenciais, e 5.597 professores (Brasil, 2024). O panorama do trabalho nas corporações que atuam na modalidade de cursos a distância é de inédita intensificação da jornada de trabalho, conformando um quadro adoecedor. Não pode haver dúvida de que a escala da exploração foi alterada.
Relação entre a plataformização e a financeirização na educação superior privada-mercantil
A rápida expansão das plataformas digitais nos holdings educacionais é impulsionada por uma lógica de hiperprodutividade para a maximização do lucro característica do capitalismo de hoje. A dinâmica dos circuitos capital, comércio de dinheiro e processos de extração de Mais-Valor foi redimensionada, e está transformando radicalmente o trabalho docente, aumentando sua jornada regulada e, ainda mais, o tempo de trabalho efetivamente realizado. Ademais, a mudança na composição orgânica gera novas formas de controle algorítmico, por meio de descritores de competência elaborados em conformidade com a pedagogia do capital. Essa combinação de fatores reconfigura a jornada de trabalho dos professores e está em conexão com a intrínseca relação entre a plataformização do trabalho no setor da educação superior privada-mercantil e o processo de financeirização da economia, exacerbando, em novos patamares, a exploração efetiva do trabalho.
A plataformização é, ao mesmo tempo, materialização e consequência de um processo histórico que mistura capitalismo rentista, ideologia do Vale do Silício, extração contínua de dados e gestão neoliberal. Uma das bases está na crescente responsabilização individual dos trabalhadores por tudo que envolve o trabalho, circunstância que Wendy Brown chama de “cidadania sacrificial”. Assim, os trabalhadores são obrigados a fazer a gestão das próprias sobrevivências com toda a sorte de vulnerabilidades, tendo de escutar que isso é um “privilégio”. Já os dados e metadados transformados em capital, somados à convergência de capital, auxiliam a dar forma às distintas possibilidades de extração do valor das plataformas, dependentes das mais variadas configurações de trabalho vivo (Grohmann, 2021, p. 14).
A plataformização é uma noção em movimento que compartilha um sentido comum de precariedade do trabalho e de triunfo de um modelo de negócio assimétrico, típico do capitalismo financeiro e com formas renovadas de exploração do trabalho (Fuchs, 2014; Huws, 2014; Scholz, 2016), como informalização, baixas remunerações, intensificação do trabalho, perda da identificação e insegurança generalizada para o trabalhador e generalização do modo de vida periférico (Abílio, 2020). Essas plataformas são catalisadoras das tendências e processos de transformações no mundo do trabalho, das quais derivam novas configurações organizacionais, novos tipos de controle, subordinação e terceirização do trabalho, e que também se associam às políticas neoliberais e ao processo de financeirização.
As plataformas podem também ter o poder de influenciar ou estipular diferentes aspectos do trabalho, seja por meio de regras explícitas ou por meio de estímulos e desestímulos via algoritmos – que possuem objetivos bem definidos voltados à otimização da plataforma para ganhar participação no mercado e/ou voltados à maximização do lucro. Podem fazer parte desses aspectos a remuneração (valores e condições), a jornada de trabalho (horas e horário), o modo de realização do trabalho, o modo de relação com as partes envolvidas, a forma de direcionamento do trabalho, a localidade de onde o trabalho deve ser realizada, o nível de liberdade para recusa, os sistemas de avaliação, entre outros (Machado e Zanoni, 2022, p. 57).
Ludmila Abílio (2020) argumenta que compreender as plataformas requer analisar suas inter-relações com a financeirização, que é um elemento central na compreensão da lógica por trás da expansão das plataformas digitais de trabalho, influenciando as estratégias das empresas, a organização do trabalho e as condições para os trabalhadores docentes que atuam nesse novo cenário.
Aspectos da realidade do trabalho intensificado na EaD
A base principal da exploração exacerbada e da intensificação do trabalho dos docentes que atuam em EaD é o regime de hora-aula, retomando, em novos padrões, as relações precárias de trabalho no setor mercantil. Em uma série de reportagens de autoria de Domenici, a Agência Pública mergulhou na situação laboral dos trabalhadores da Laureate, notadamente dos que atuavam em cursos de EaD. Os depoimentos de docentes com nomes fictícios, explicita a dura realidade do trabalho nessas corporações: “A palavra que melhor define meu momento é desespero”, conta Horácio*, professor da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, do grupo Laureate, referindo-se à redução de 75% das suas horas de trabalho no atual semestre letivo, situação dramática considerando ser seu único emprego. Não há salário, apenas tarefas, no caso, horas-aula. Enzo*, professor de outra universidade do grupo Laureate, a FMU, passou de 21 horas semanais no último semestre para apenas 3 horas. Ele diz que a maioria dos professores está nessa situação. “Nós estamos recebendo em média R$500,00 por mês.” Muitos docentes foram informados da demissão por um pop-up na tela do computador, ao acessarem o sistema.
Nesse quadro, o sofrimento laboral e o estresse são evidentemente exacerbados. Cabe registrar que o estudo das condições laborais dos trabalhadores em EaD é dificultada pela individualização das tarefas demandadas pela corporação e pelo assédio que impede a presença de sindicatos de professores nessas organizações. Em virtude da relação entre o número de estudantes e o de docentes, que, nessas instituições podem chegar a 2,2 mil estudantes por docente, a Laureate instaurou robôs para corrigir os trabalhos dos estudantes sem que estes soubessem da situação (Domenici, 2020a). Mesmo nas aulas síncronas, as turmas normalmente possuem 250 a 350 estudantes, inviabilizando as interações ensino e aprendizagem. Um dos principais articuladores das denúncias sobre as condições de trabalho, Gabriel Teixeira, organizador da Rede de Educadores do Ensino Superior em Luta, destaca que eles criaram uma Plataforma de Apoio Psicológico para Profissionais da Educação e receberam 300 inscrições em apenas cinco horas (Domenici, 2020b). Conforme Gemelli e Closs (2023), o principal indicador de precarização para os entrevistados, aferido por um survey realizado pelos autores, é a contratação com jornada ou definição de horas-aula muito abaixo das tarefas realizadas, corroborando a existência de intensificação do trabalho.
Esse cenário apresentado tende a se agravar com a complexificação da Inteligência Artificial. Funções como atendimento aos alunos por meio de monitoria ou tutoria nos polos de EaD, funções já altamente exploradas, podem ser amplamente substituídas por tutorias exclusivamente virtuais (Júnior e Schlesener, 2024).
“Os últimos avanços da Khan Academy3, incluem o ChatGPT-4 da OpenAI, que criou a figura do Khanmigo: um tutor de IA que conversa com estudantes em linguagem natural, recriando a experiência de um(a) professor(a) humano(a)” (Sagrado, Da Matta e Gil, 2023, p. 87, Tradução Nossa). Essas plataformas permitem também a implementação de assistentes que atuam junto aos professores, sob a alegação de facilitar o trabalho docente.
Delegar às plataformas, por meio de assistentes virtuais, atividades como a sumarização de pontos de um texto para serem usados em aulas, elaboração de sínteses, criação de questões para trabalhos e avaliações, sugestões de temas e exemplos, correção de atividades e, como já mencionado anteriormente, o atendimento e interação com os alunos, podem endossar argumentos para reduzir o já escasso tempo de trabalho remunerado destinado aos professores para atividades fora da sala de aula (Júnior e Schlesener, 2024, p. 150).
Inexiste publicidade sobre as condições de trabalho nos 47 mil polos de EaD, 46% deles terceirizados, ou seja, desvinculados das instituições que formalmente os instauraram. Todo um complexo de relações de trabalho precarizadas move a reprodução do capital nessas organizações que, simultaneamente, promovem um apartheid formativo, afetando, inclusive, os formadores dos novos docentes, propagando a segregação da formação dos 47 milhões de crianças e jovens que cursam a Educação Básica.
Considerações finais
Diante da mudança na composição orgânica do capital, do mercado de ações, da dissociação entre propriedade do capital e a direção dos negócios e, ainda, da conversão dos grupos educacionais em sociedades anônimas, há um redimensionamento, em níveis inéditos, da jornada de trabalho dos professores. A intensificação do trabalho no âmbito da jornada regulada e remunerada envolve estratégias sutis e menos visíveis de exploração, como o número de estudantes com os quais o sujeito docente trabalha que, como visto, pode ser mais de 160 vezes a razão encontrada nos cursos presenciais das instituições públicas.
A necessária consigna “Pelo fim da jornada 6X1” que consubstancia a Proposta de Emenda à Constituição – PEC no 8/2025 reduz a jornada semanal para 36h a serem distribuídas de modo a assegurar três dias de descanso. Entretanto, será necessário buscar formas de coibir a intensificação do trabalho “dentro da jornada regular”, pois, sem isso, os três dias de descanso seguirão sendo três dias de trabalho adicional não remunerado – afinal, um docente plataformizado que possui centenas e até milhares de estudantes dificilmente poderá ignorar demandas legítimas dos estudantes por um mínimo de conexão com seus professores. Será necessário incorporar na regulamentação da referida PEC o problema dos precarizados plataformizados. Os milhares de tutores e monitores, grande parte deles terceirizados, que atuam nos polos e mesmo no atendimento cotidiano aos cinco milhões de estudantes que estudam na modalidade EaD, com a nova legislação poderão ter uma referência de direito à uma vida fora do trabalho alienado e explorado, o que favorece a organização e as lutas. No entanto, como não se trata do tempo linear da jornada de trabalho, mas de uma inteira mudança no manejo do tempo pelo capital, a resistência e as lutas requerem um ambiente de crítica às formas de exploração no âmbito das plataformas e dos sistemas de ensino. O estranhamento dessas formas sub-reptícias de exploração é estratégico e somente ganhará força política nas lutas de classes se forem movimentos de amplas frações das classes trabalhadoras igualmente expropriadas e exploradas.
Conforme destacado, a primeira manifestação internacional dos trabalhadores teve o tempo como bandeira, um aspecto que nunca saiu de cena. No Século XXI, a luta pela abolição da escala 6×1 no Brasil unificou de modo original segmentos expressivos da classe trabalhadora, ganhou amplo apoio da sociedade e se tornou um objetivo central do Primeiro de Maio de 2025, que reuniu milhares de pessoas nas ruas em torno da pauta. Além disso, dias antes também houve uma importante manifestação, a greve nacional dos entregadores, conhecido como o “breque dos apps”, caracterizada como a maior mobilização nacional dos entregadores desde 2020. De fato, em 2020, pela primeira vez, esses trabalhadores fizeram uma greve contra as condições de trabalho impostas pelas plataformas. Partindo destes exemplos recentes é possível propugnar que há movimentos originais surgindo a partir das novas facetas da superexploração, incluindo a criação de sindicatos e associações que representam os trabalhadores mais precarizados.
Está evidente que é necessário ousadia estratégica para retomar a constituição de organizações autônomas dos trabalhadores, com pautas que sejam capazes de unificar as lutas em curso nos movimentos contestatórios. Afinal, a história é, de distintas formas, a história da luta de classes. As possibilidades de resistência estão abertas no Século XXI. O trabalho é sempre um elemento vivo e o tempo condensa os grandes embates e lutas da sociedade, gerando conflitos e oposições permanentes.
O contexto atual, marcado, entre outros aspectos, pela ampliação das formas de contratação precárias, pelas tentativas de esfacelamento dos coletivos de lutas e pelas políticas de cerceamento à liberdade de cátedra das professoras e professores nas instituições educacionais, exigem amplo debate, permanente reflexão e resistências em direção à defesa dos direitos sociais que, no capitalismo dependente, necessitam ser fortemente universalizados Urge, no Brasil, lutas pela desmercantilização radical da Educação. Isso requer urgentemente proibir a massificação do Ensino Superior a distância, tema que deve ser tratado como exceção para situações específicas; é imperioso proibir grupos educacionais com a participação de fundos de investimentos, organizados como sociedades anônimas e com ações nas bolsas; as lutas precisam combater o uso do fundo público que alavancou esses holdings, assegurando o princípio de verbas públicas exclusivamente para as instituições públicas. A partir dessas bases, articular a luta em prol da consigna “existe vida após o trabalho”, assegurando, em todo país, nas instituições públicas e privadas, da Educação Básica e da Educação Superior, o regime de dedicação exclusiva como padrão básico para o exercício do Magistério, objetivando forjar uma educação a altura dos desafios do tempo histórico.
Referências
ABÍLIO, L. C. Plataformas digitais e uberização: a globalização de um Sul administrado? Contracampo, v. 39, n. 1, pp. 12-26, 2020.
ABÍLIO, L. C.; AMORIM, H.; GROHMANN, R. Uberização e plataformização do trabalho no Brasil: conceitos, processos e formas. Sociologias, v. 23, n. 57, pp. 26-56, 2021.
ANTUNES, R. Icebergs à deriva: o trabalho em plataformas digitais. São Paulo: Boitempo, 2023.
BIELSCHOWSKY, C. E. Tendências de precarização do ensino superior privado no Brasil. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação -Periódico científico editado pela ANPAE, v. 36, n. 1, pp. 241-271, 2020.
BRASIL. Censo da Educação Superior 2023: notas estatísticas. Brasília: INEP, 2024.
FUCHS, C. Digital Labour and Karl Marx. New York: Routledge, 2014.
GEMELLI, C. E.; CLOSS, L. Precariousness of Higher Education Teaching Work in Brazilian Private HEIs. BBR. Brazilian Business Review, v. 20, n. 3, pp. 339-361, 2023.
HOBSBAWM, E. Mundos do trabalho: novos estudos sobre história operária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
HUWS, U. Labor in the global digital economy: the cybertariat comes of age. Londres: Merlin, 2014.
DAL ROSSO, S. Mais trabalho! A intensificação do labor na sociedade contemporânea. São Paulo: Boitempo, 2008.
DOMENICI, T. Após uso de robôs, Laureate agora demite professores de EaD. Agência Pública, 13 de maio de 2020a. Disponível em: https://apublica.org/2020/05/apos-uso-de-robos-laureate-agora-demite-professo-res-de-ead/.
DOMENICI, T. “É cruel”: professores relatam de aulas on-line com 300 alunos a demissões por pop-up. Agência Pública, 13 de setembro de 2020b. Disponível em: https://apublica.org/2020/11/laureate-o-raio-x-de-uma-fraude-para-reconhecer-uma-graduacao-no-mec
ENGELS, F. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2010.
FERNANDES, F. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
GROHMANN, R. Os laboratórios do trabalho digital: entrevistas. São Paulo: Boitempo, 2021.
JÚNIOR, V. D.; SCHLESENER, A. H. Inteligências artificais e capitalismo digital: as armadilhas da ideologia da técnica. Dossiê Germinal: marxismo e educação em debate, v. 16, n. 3, pp. 132-153, 2024.
LABARCA, G. Cuánto se puede gastar en educación? Revista de la CEPAL, n. 56, pp. 163-178, 1995.
LEHER, R. Da ideologia do desenvolvimento à ideologia da globalização: a educação como estratégia do Banco Mundial para “alívio” da pobreza. [Tese de Doutorado]. São Paulo: USP, 1998.
MACHADO, S.; ZANONI, A. P. (Orgs.). O trabalho controlado por plataformas digitais no Brasil: dimensões, perfis e direitos. Curitiba: UFPR, 2022.
MARINI, R. M. Dialética da dependência. Uma antologia da obra de Ruy Mauro Marini. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: CLASCO, 2000.
MARX, K. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2014.
SAGRADO, A. L; DA MATTA, A. A.; GIL, E. P. Las corporaciones tecnológicas y la reconfiguración docente. Viento Sur, n. 188, pp. 83-90, 2023.
SCHOLZ, T. Cooperativismo de plataforma: contestando a economia do compartilhamento corporativa. São Paulo: Elefante, 2016.
SILVA, A. M. Formas e tendências de precarização do trabalho docente: o precariado professoral e o professorado estável-formal nas redes públicas brasileiras. Curitiba: CRV, 2020.
THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
VARELA, R.; Et AL. (Orgs.). Do entusiasmo ao burnout? A situação social e laboral dos professores em Portugal hoje. Portugal: Edições Húmus, 2022.