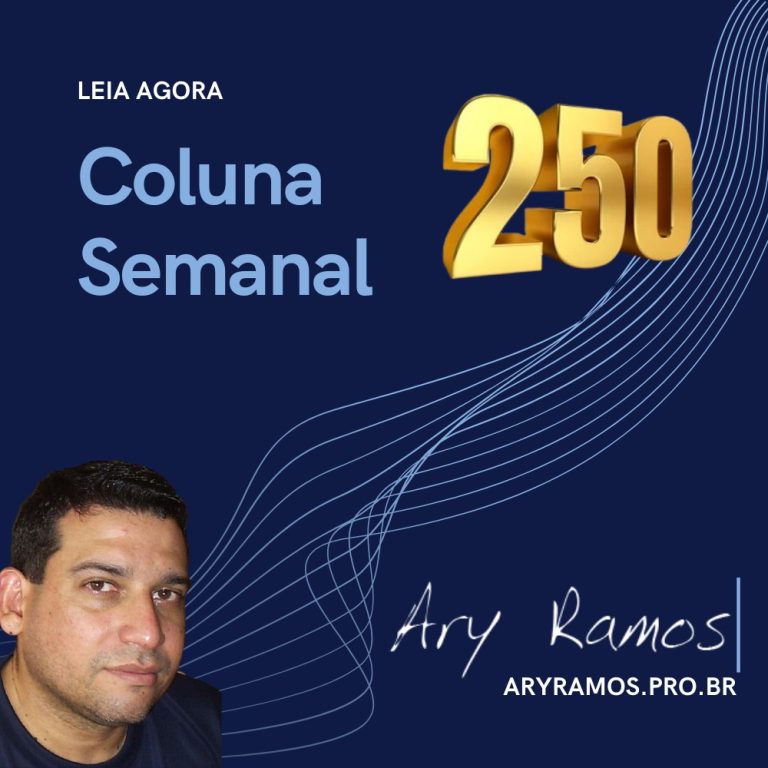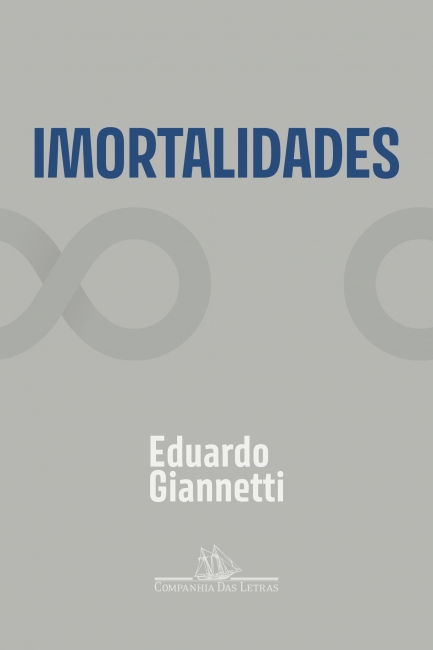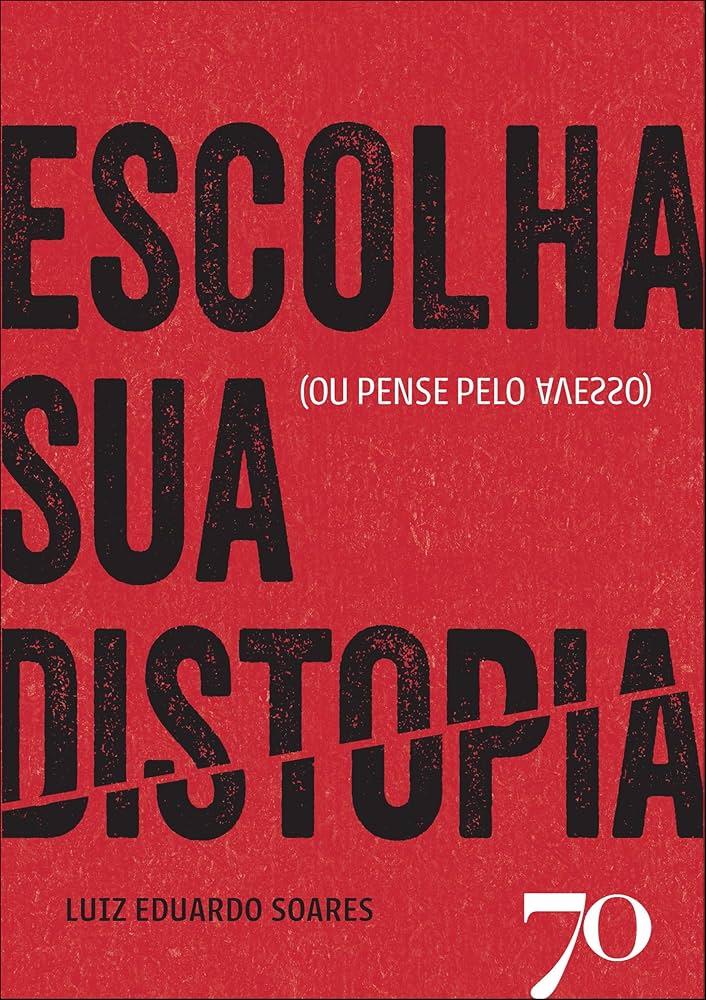Reflexões desde o Orkut como fenômeno cultural até as novas formas de existir no mundo hiperconectado atual. Hoje, a tecnologia é integrada ao corpo. E o sujeito é um curador de narrativas e imagens para a apreciação alheia, autopromoção, pertencimento e validação.
Por José Alberto Roza, na Cult – OUTRAS MÍDIAS – 19/09/2025
Do Orkut à hiperconectividade: o nascer da subjetividade digital
Há um eco recorrente nas redes sociais brasileiras: o burburinho sobre a possível volta do Orkut, marcado por nostalgia de uma era digital de comunidades vibrantes e autodescoberta. Para mim, esse tema tem um significado especial. Em 2009, quando o Orkut começava seu declínio frente ao Facebook, ele foi objeto central da minha dissertação de mestrado em Psicologia, que buscava entender as inter-relações adolescentes daquele tempo. Observei ali, mais que dinâmicas de uma rede social, o início de novas formas de existir e se relacionar que hoje são a essência da nossa hiperconectividade, ou dos tempos apressados e hipermodernos
propostos por Lipovetsky.
O Orkut foi, para o Brasil, mais que um site de relacionamentos – foi um fenômeno cultural inédito, reunindo cerca de 35 milhões de usuários e oferecendo aos adolescentes um palco para definir a própria identidade, colecionar validações, expressar sentimentos e pertencer a comunidades. Era uma experimentação em massa da vida mediada por telas, que à época dependia dos computadores de mesa, antes da onipresença dos celulares. Naquele ambiente efervescente, era possível perceber ainda restavam certos limites entre identidade digital e offline, mas já se notava a tendência à fusão. Atualmente, esses limites praticamente desapareceram: o real e o virtual se mesclam de forma quase indissociável, com o “estar conectado” tornando-se condição permanente da subjetividade contemporânea.
Minha pesquisa aconteceu nesse cenário de transição, centrada na adolescência imersa no ciberespaço nascente. Não era uma análise tecnológica, mas sim um esforço para desvendar como a presença crescente das redes e dispositivos poderia reconfigurar a psique humana. O Orkut serviu de laboratório aberto, onde pude testemunhar as primeiras manifestações do que hoje é comum: a ansiedade da desconexão, a curadoria da imagem e a fluidez dos relacionamentos.
A Psicanálise acompanhou-me ao longo dessas duas décadas de mudanças. Três adolescentes, protagonistas da minha pesquisa, forneceram as primeiras pistas das subjetividades emergentes: uma conectada e ansiosa, outra indiferente aos ditames digitais, uma terceira adaptando-se com leveza surpreendente. Suas vozes, angústias e esperanças, revisitadas hoje, convidam a uma reflexão mais humana e psicanalítica sobre nossa relação com o mundo conectado.
Máquina In-corporada: Tecnologia, Corpo e Vínculos
Com o passar dos anos, já era visível que a tecnologia deixava de ser apenas uma ferramenta externa, passando a se integrar ao próprio ser humano. O que antes era um simples artefato se transformava em uma extensão quase orgânica do corpo. Em meus estudos daquele período, propunha-se que a tecnologia não estivesse mais “diante” do homem, mas se situasse “dentro” do corpo contemporâneo. O conceito de “máquina in-corporada” — aprofundado sob o olhar psicanalítico — sugere que o dispositivo, ao ser internalizado, transforma nossa percepção, desejos e corporalidade, dissolvendo fronteiras entre o “eu” e a tecnologia. Ela deixa de ser algo externo e passa a moldar profundamente nossas formas de sentir, relacionar-se e existir.
O imperativo de “estar conectado” deixava de ser mera escolha social e tornava-se o início de uma simbiose. Comunidades, “scraps” e depoimentos operavam como mecanismos de validação e demandavam a curadoria de identidades digitais cada vez mais relevantes que a pessoa offline. Cada atualização e interação era direcionada a um público amplo, exigindo performance contínua e auto-observação intensa, antecipando o ciclo de validação social que hoje nos atravessa.
Além disso, nos últimos anos, a inteligência artificial passou a influenciar fortemente as redes sociais, otimizando a criação de conteúdo e a análise de dados do comportamento dos usuários. Ferramentas automatizadas ajudam desde a sugestão de temas à edição de imagens, moldando novas formas de interação e autoexpressão.
Nos relatos dos jovens, a urgência da conexão digital se manifestava nitidamente. Uma frase emblemática: “Eu tô incomunicável, daí dá desespero, parece que você não faz parte do mundo, sabe?”. Isso revela o medo profundo de exclusão e esquecimento: a tecnologia, que antes era meio, havia sido elevada a condição fundamental de pertencimento, quase uma prótese existencial. Para alguns, desconectar equivalia a perder uma parte de si, uma ameaça à integridade psíquica e social.
Hoje, o smartphone representa o ápice da máquina in-corporada. Nossas “próteses cognitivas” nos acompanham o tempo todo e já não estão restritas ao celular: relógios inteligentes e outros wearables monitoram e notificam em tempo real, tornando-se “extensões biométricas e comunicacionais”. O celular, antes posse, agora compõe um ecossistema de dispositivos que nos mantém constantemente conectados, inclusive em momentos antes reservados à introspecção ou à interação direta. A ansiedade da desconexão, que antes parecia traço isolado de alguns jovens, agora é uma neurose global, conhecida como FOMO (Fear of Missing Out). A vida sem celular soa inimaginável; a falta de internet pode desencadear angústia comparável a grandes perdas.
As consequências psíquicas dessa incorporação ainda estão sendo desvendadas. O tempo se fragmenta em microinterações, induzindo imediatismo. O espaço se desloca prioritariamente para o virtual, enquanto o entorno físico pode perder sentido. A linha entre “eu” físico e digital dissolve-se: autoestima frequentemente atrelada a números de curtidas e seguidores, performance que nunca cessa, e crescente dificuldade de aceitar vulnerabilidades. A máquina in-corporada não é só avanço técnico, mas agente reformador do psiquismo, dos laços sociais e da própria concepção do que é ser humano.
Ilha de Edição e Disfarce: A Curadoria e Performance da Identidade Digital
A profunda integração da tecnologia deu origem à “ilha de edição”, conceito que pode representar o indivíduo como curador de imagens e narrativas cuidadosamente selecionadas para apreciação alheia. Mais que espaço virtual, a ilha de edição é a sala de controle onde cada um edita sua própria presença. O
fenômeno antes restrito às celebridades agora se generalizou: redes sociais transformam todos em editores e promotores da própria imagem, tornando rotineira — e muitas vezes exaustiva — a prática da autopromoção.
Na época do Orkut, esse processo já se desenhava, embora de modo mais rudimentar. Perfis funcionavam como vitrines: exibiam as melhores fotos, textos idealizados e depoimentos estrategicamente selecionados. Os adolescentes, atentos aos mínimos detalhes desses espaços, buscavam pertencimento e validação pelo pertencimento a comunidades e pela curadoria quase instintiva de si mesmos. Esse exercício antecipava o que seria mais tarde necessidade existencial na hiperconectividade: a montagem de uma versão “aprimorada” do eu, em contínua busca por aceitação digital.
A “ilha de edição” é, portanto, um processo dinâmico, impulsionado por feedbacks constantes e novas tendências. Ela exige permanente vigilância sobre a própria performance, submetendo a pessoa a um ciclo de remodelação da identidade guiado pelo olhar externo. Tal liberdade de expressão, paradoxalmente, aprisiona na busca por perfeição, gerando divergência entre realidade e imagem digital, e pode acentuar a fragilidade do eu real por trás da tela.
O conceito de “Paixão do Disfarce”, trabalhado por Fábio Herrmann, torna-se central nesse contexto. O disfarce não é mera enganação, mas um comportamento social necessário: seguimos códigos implícitos de relacionamento, adaptando-nos e experimentando papéis diversos. No ambiente digital, a necessidade de disfarce se intensifica, tornando-se estratégia quase obrigatória para aceitação social. O palco digital potencializa a maleabilidade das identidades: o indivíduo adapta suas subjetividades conforme o ambiente e o público, não como falsidade, mas em resposta às demandas de adaptação e reconhecimento.
Além de aprimorar a exposição, o disfarce digital também serve como proteção diante da constante exposição e da busca por aprovação. Herrmann considera que o “eu” é em si uma “máscara inventada”, trabalhada ao longo da vida — e as redes são o espaço primordial dessa construção e revisão. A circulação da imagem de si torna-se permanente, impulsionada pelo imperativo de pertencer e de manter-se visível, instaurando um ideal de “autenticidade performada” que pode ser insustentável a longo prazo.
Conexão versus Vínculo: Relações, Mal-estar e Cultura Digital
A incorporação tecnológica não impactou apenas o modo como nos apresentamos, mas reformulou profundamente as formas de nos relacionarmos. A passagem do século XX para a era digital abriu espaço à “conexão”, que suplantou o vínculo como modelo dominante das interações. Profundidade e permanência foram substituídas pela instantaneidade e funcionalidade, alterando inclusive o significado dos próprios termos: “amigos” e “relacionamentos” passaram a dar lugar a “conexões”, “seguidores” e “contatos”. Essa incorporação pode ser pensada a partir Sherry Turkle, que analisa a fusão entre os dois mundos desde “Alone Together” e outros escritos sobre “vida nas telas”.
O padrão de descartabilidade, antes restrito ao ambiente virtual, agora influencia expectativas sobre relações offline, tornando o compromisso menos valorizado. Bloqueio, unfollow ou ghosting são práticas comuns, evidenciando a preferência por conveniência e menor exposição à vulnerabilidade. Relações caracterizadas pela busca de satisfação imediata, alimentadas pela ilusão de infinitas possibilidades, promovem impermanência e evitam investimento emocional profundo — menos investimento, menos insegurança.
Paradoxalmente, tal hiperconectividade intensifica a solidão: o volume de interações não garante qualidade, e a constante disponibilidade raramente se traduz em apoio significativo. A superficialidade dos contatos — mediada por telas, sem entonação ou contato humano direto — resulta em vazio relacional e dificulta a construção de laços autênticos. O resultado é uma solidão mascarada por notificações e conversas instantâneas, que estimula um ciclo vicioso de mais conexões em busca de preenchimento.
O espaço social também é redefinido: fronteiras entre físico e virtual se diluem, com conversas migrando para aplicativos e redes, onde predominam trocas utilitárias sobre o aprofundamento do diálogo. O custo da praticidade é ignorar recursos essenciais da comunicação — voz, olhar, presença corpórea— tornando o outro mais facilmente descartável e adaptável à nossa própria “edição” digital.
Essa lógica algorítmica permite hoje uma personalização cada vez maior das experiências digitais, aproximando conteúdos e pessoas segundo interesse compartilhados. Ainda que essa segmentação prometa conexões mais genuínas, ela reforça tanto comunidades quanto bolhas de convivência limitadas.
O fenômeno pode ser compreendido a partir dos pressupostos freudianos sobre o “mal-estar na civilização”. Freud observa que as exigências, normas e interdições culturais sempre entram em conflito com os desejos e impulsos individuais, gerando tensões constantes entre desejo, frustração e adaptação. Na era digital, essa dinâmica se potencializa: as redes sociais promovem uma promessa de felicidade e reconhecimento coletivo, que é rapidamente frustrada pela comparação contínua, busca de aprovação imediata e exposição a padrões inalcançáveis de sucesso e felicidade.
Esse fenômeno expande a repressão, já apontada por Freud como um dos “preços” da civilização: reprime-se, nas redes, não apenas o inaceitável socialmente, mas também tudo aquilo que diverge do ideal de felicidade e produtividade incessantes. Essa constante exposição e necessidade de validação levam muitos ao sofrimento psíquico, ansiedade e até quadros depressivos. O sujeito, submetido à aprovação social medida por curtidas, seguidores e comentários, muitas vezes renuncia aos próprios desejos e necessidades para se encaixar nas demandas externas.
Freud, ademais, definiu o desamparo psíquico como uma condição universal humana. Na contemporaneidade digital, esse sentimento é radicalizado: vivemos conectados, em permanente exposição, na fronteira cada vez mais difusa entre realidade e virtualidade. O excesso de estímulos, os “laços” frágeis e transitórios e o imperativo de pertencimento ampliam tanto a experiência de solidão quanto o desamparo, potencializando o mal-estar e a sensação de insuficiência diante dos padrões impostos pelas plataformas sociais.
Bauman aponta que essa liquidez dos vínculos —relações rápidas e potentes, porém frágeis e prontas para o descarte — é amplificada pelas mídias digitais. Goffman, por sua vez, poderia entender as redes como palcos de encenações múltiplas, onde a gestão da impressão se torna exaustiva e central.
Assim, o mal-estar na civilização adquire contornos digitais: as novas formas de sofrimento emergem do choque entre o ideal de plenitude produzido pela cultura das redes e a impossibilidade de sua realização concreta. O sintoma social contemporâneo manifesta-se no ciclo de performance, ansiedade, solidão e busca incessante por reconhecimento.
A era digital exige reflexão: ampliar conexões não significa qualidade relacional. A valorização da superfície em detrimento da profundidade, o medo constante de perder o lugar no ciclo de visibilidade digital, e o predomínio do disfarce como instrumento de relação impõem desafios inéditos à saúde mental e à construção do eu. O desafio hoje é cultivar vínculos genuínos num universo que estimula a circulação veloz de imagens e a performance exaustiva, afetando perigosamente aquilo que realmente somos.
O Eco Digital na Psique e Caminhos para (Re)Humanização
A profunda remodelação de nosso psiquismo pelas “máquinas in-corporadas” e “ilhas de edição” produz efeitos complexos na saúde mental. O ideal de performance ininterrupta nas redes sociais, sustentado pelo desejo de validação, impõe ansiedade crescente, dependência de aprovação externa e um ciclo de autocrítica e comparação constante. O eu digital, ao buscar aceitação, pode se aprisionar em narrativas editadas, minando espontaneidade e autenticidade.
Neste ambiente de hiperconectividade, a solidão se manifesta paradoxalmente: ampliam-se as possibilidades de comunicação, mas a qualidade das interações se dilui. Relações intermediadas por telas — sem contato direto, sem o corpo, sem a tridimensionalidade das trocas — facilitam vínculos frágeis e dificultam o suporte emocional real, agravando a sensação de desamparo e o medo do esquecimento ou do isolamento. Pesquisas recentes apontam que essa “neurose de ansiedade digital” apresenta sintomas próprios: preocupação crônica com avaliação social, medo constante de exclusão e manutenção de uma vigilância inquieta sobre a própria imagem digital.
Recentemente, os vídeos curtos e dinâmicos tornaram-se o formato dominante, favorecendo a busca por engajamento emocional imediato. Plataformas priorizam conteúdos visuais rápidos, ampliando tanto o potencial criativo quanto a superficialidade das trocas. Comparar-se continuamente a vidas editadas intensifica sentimentos de inadequação, especialmente entre jovens, cuja identidade está em construção e que buscam aprovação para consolidar autoestima e autovalor. O tédio, antes estímulo para criatividade e reflexão, se torna experiência aversiva — combatida com mais estímulos digitais, reforçando o ciclo de superficialidade e fuga da própria interioridade.
Diante desse quadro, a (re)humanização da experiência digital é imperativa. A Psicanálise propõe autoconhecimento crítico: podemos reconhecer a “ilha de edição” e o papel do disfarce como construções sociais, e não verdades sobre o eu; estabelecer limites de uso, cultivar interações presenciais, valorizar vínculos autênticos e a escuta mútua. O autocuidado digital, que inclui o “detox”, a contemplação do presente e a priorização da vida “não editada”, é cada vez mais essencial para o bem-estar psíquico.
A liberdade na era digital exige agência. O desafio não está em negar a tecnologia, mas utilizá-la como aliada, não como ditadora de nossa subjetividade. Cabe-nos buscar autenticidade e profundidade nos vínculos, discernir entre performance e verdade e encontrar espaços de silêncio para que a psique floresça além do algoritmo e do ruído. Mesmo diante da predominância da edição e da performance digital, cresce o discurso da valorização da autenticidade. Os usuários e influenciadores buscam se mostrar ‘reais’, expondo vulnerabilidades e cotidiano, numa tentativa de criar laços mais sinceros e diferenciados no meio virtual. Neste cenário, uma engenharia do eu consciente e crítica é essencial: optar pela qualidade do vínculo em vez da quantidade de conexões, reconhecer limites, acolher vulnerabilidades e cultivar a riqueza de experiências reais — restaurando, assim, o valor do humano diante da máquina e das imagens.