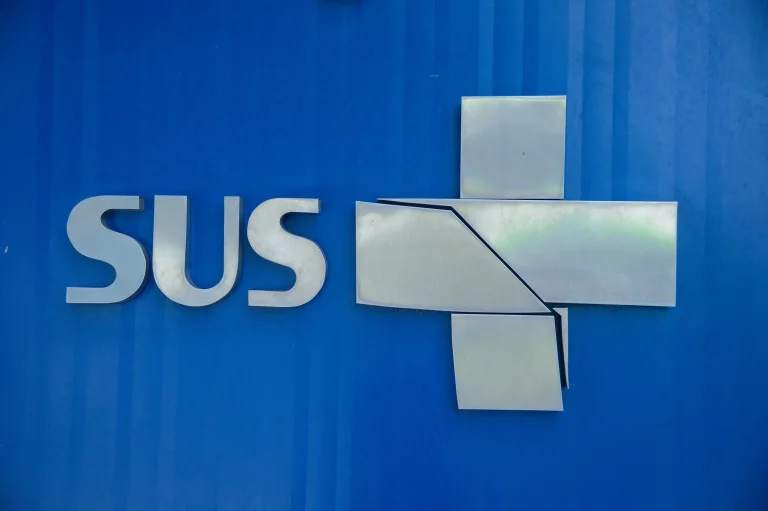Tadeu Valadares – A Terra é Redonda – 08/09/2025
Anotações sobre soberania ameaçada, ordem mundial em transição e tarifaço trumpiano contra o Brasil e o mundo
Numa tentativa de vincular os três temas, começarei pelo círculo mais amplo: a ideia de soberania e sua relação com o capitalismo histórico. Em seguida passarei ao segundo círculo, o da ordem mundial em plena crise de transição. Só então analisarei o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil e o mundo.
1.
Com relação à soberania, crucial sublinhar que essa noção e as práticas dela derivadas são tão antigas quanto o capitalismo histórico, ambos nascidos na Europa do século 13. Desde então, mas sobretudo a partir do século 16, a soberania se elabora e refina no âmbito do direito internacional público, sempre em constante parceria com o desenvolvimento do capitalismo, o que nada tem de circunstancial ou acidental.
De fato, essas trocas entre um modo de produção e uma concepção de mundo jurídico-política foram decisivas para que a transição do feudalismo para o protocapitalismo e daí para o capitalismo propriamente dito se haja tornado história. Bem sabemos, o capitalismo pleno só se estruturou no plano político com as revoluções burguesas do século 18, a americana e a francesa. No plano econômico, com a primeira revolução industrial, ocorrida na virada do 18 para o 19.
O capitalismo obviamente assumiu várias encarnações desde o século 16. O mesmo ocorreu com a noção, ideia ou conceito de soberania, assim como as práticas estatais e sociais derivadas. O leque dessas transformações internas ao registro jurídico-político da soberania pode ser concebido de maneira simplificada como se originando no absolutismo de Bodin e Hobbes, passando pelo democratismo de Rousseau e desaguando nas sofisticadas formulações de direito internacional público construídas desde o término da segunda guerra mundial.
Hoje, o capitalismo é mundial, dominante, bifronte. Capitalismo com duas faces. Uma delas, a que remete à predominância das finanças, isto é, ao capitalismo financeiro ‘ocidental’ às voltas com graves problemas de reprodução e expansão. A outra emerge como poderoso capitalismo de estado centrado na dimensão produtiva, na produção de mercadorias tangíveis, regime não apenas ou maiormente fixado nas finanças, na financeirização, na criação do que é intangível. Esse dinâmico capitalismo de estado também atende pelo simpático nome de ‘socialismo à maneira chinesa’.
Grosso modo, sua trajetória, em especial desde o início do século, é simplesmente espetacular. Não há memória de que algo similar haja acontecido desde quando o capitalismo se tornou mundo. Mencionar a espetacularidade da ascensão chinesa é sublinhar que vivemos todos, em termos de ordem mundial, uma época de crise que também é tempo de transição de hegemonia. Algo que tomará seu tempo longo para se completar, mas que conforma a realidade que se tornou nosso cotidiano. O que hoje é flagrante há muito está em construção, em particular se nos damos conta da trajetória da ordem criada em Bretton Woods (1944) e São Francisco (1945), de seus altos e baixos.
Essa ordem se encontra em processo de desfazimento desde mais ou menos 50 anos. Seu mais recente avatar, ele próprio uma forma de adaptação da ordem originária às mudanças ocorridas em termos planetários, é o que o Ocidente chama de ‘ordem internacional baseada em regras’. Assinalável: o período que os historiadores liberais e conservadores denominam ‘os trinta gloriosos’ é passado encerrado. Noutras palavras, desde meados dos anos 70 a variante ‘ocidental’ de capitalismo declina.
Donald Trump e o trumpismo surgem como imensa surpresa porque, desesperados com o declínio incessante, partiram para o escandaloso antes inimaginável: o criador abandonou a criatura à sua sorte. Desse abandono resulta que 2025 se tornou desde 20 de janeiro passado sinônimo de ‘annus horribilis’. Instaurou-se um tempo de prodígios no significado bíblico, diriam uns. Outros afirmariam que vivemos tempos interessantes. Interessantes no significado que essa expressão tem para os chineses. Tempos interessantes, tempos muito negativos para o Ocidente expandido.
2.
Nesse contexto, como pensar o tarifaço imposto ao Brasil? Fomos sancionados com a tarifa mais alta, 50%, mas analiticamente decisivo é destacar que o tarifaço não é contra o Brasil, é contra o mundo. Dos 192 países com os quais os Estados Unidos interagem na Assembleia Geral da ONU, dessa demonstração de autoritarismo primário apenas 8 escaparam. Não sei seus nomes. Provavelmente são microestados que se situam na periferia da periferia do sistema.
Outro dado relevante: as tarifas aplicadas a 184 estados formam uma espécie de escada com 12 degraus. Na base, a tarifa mínima, 10%. No ápice, a tarifa de 50% aplicada até agora tão somente ao Brasil e à Índia. Entre o degrau 10% e o degrau 50% há tarifas de 15%, 18%, 19%, 20%, 25%, 30%, 35%, 39%, 40% e 41%. No degrau dos 10% se amontoam 98 países, entre eles o Reino Unido, Cuba e Rússia; no degrau dos 15%, 62 padecem, 27 deles pertencentes à União Europeia; no de 19% estão apenas 5 países: Camboja, Indonésia, Malásia, Paquistão e Filipinas.
A tarifa de 20% é imposta tão somente a Bangladesh e Sri Lanka. A de 25% vale para Brunei, Cazaquistão, Moldova e Tunísia. A de 30% contempla apenas três estados: Argélia, Líbia e África do Sul. De ressaltar que essa tarifa deveria ser aplicada à China. Se concebermos a tarifa de 35% como uma espécie de divisor de águas, olhando para o alto da escada teremos o seguinte quadro: a tarifa de 35% só vale para a Sérvia; a de 39%, apenas para a Suíça; a de 40%, para Laos e Mianmar. A de 41%, para a Síria. No mais alto, a que compartilhamos com os indianos, 50%.
Lida superficialmente, essa escada proclama que Donald Trump, o trumpismo e o governo americano se puseram em conflito comercial com o mundo. Mas na verdade esse conflito não se reduz à dimensão tarifária nem é simplesmente comercial. Funciona como elemento estratégico, relevante e até mesmo decisivo como pressão geopolítica. Pesa negativamente, em grau extremo, sobre o futuro imediato da política internacional. Não deixa de ser, em sua brutalidade, uma das manifestações mais escancaradas da ‘húbris’ americana.
Assombroso: em meio a sua persistente decadência relativa, Washington se ilude e pensa ter poder suficiente para parar o grande jogo de poder planetário, o da transição de hegemonia. Pensa que pode refazer o baralho, redistribuir as cartas e dar início a uma nova era. Em sua desmedida, pretende criar enigmática ordem planetária no seio da qual exerça hegemonia absoluta, algo absolutamente contraditório porque é ordem unidimensional, pura coerção, zero consenso. Portanto, a ordem impossível é caos como projeto.
Cristalino: inviável conformá-la; impossível sustentar o projeto. No curto prazo essa ‘grande estratégia’ depende totalmente de Donald Trump fazer seu sucessor e manter o controle de ao menos uma das casas do congresso. No longo prazo, os Estados Unidos, como resultado das tensões e fraturas internas antigas, e da belicosidade tarifária e de outras ordens, ambas turbinadas pelo governo de Donald Trump, arriscam mergulharem difusa anarquia interno-externa. Crise completa.
3.
Agora sim, vejamos o que nos mostra o tarifaço de 50% a nós imposto. O gesto tresloucado ao menos sinaliza que: (a) não havia déficit comercial dos Estados Unidos conosco que pudesse servir de base para a aplicação das medidas autoritariamente adotadas; (b) Donald Trump na verdade e sem o saber nos impôs algo tipicamente russo-imperial. Baixou um ukase. Recorreu ao estilo absolutista que os Romanov empregavam para submeter povos que integravam o império tsarista; e (c) as exigências constantes da Ordem executiva e da carta a Lula são de impossível aceitação pelo Brasil. Aceitá-las nos reduziria à situação colonial que foi a nossa até 1822.
Tanto a Ordem quanto a carta são explícitas. Ambas sublinham que se o Brasil se curvar a Donald Trump estaria talvez quem sabe disposto a rever as medidas imperialmente impostas. Até o Brasil se curvar, as práticas e as ações do governo brasileiro ‘ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos’. Nunca havia me dado conta de quão poderosos somos.
Ambos os textos à brutalidade agregam insulto: se o Brasil se alinhar suficientemente – sublinhar o suficientemente – aos Estados Unidos no relativo a segurança nacional, assuntos econômicos e temas de política externa, Donald Trump poderá modificar sua posição. Em suma, o que Washington espera de nós é uma variante pós-moderna da servidão voluntária decifrada por Etienne de la Boétie 500 anos atrás. No desnorteamento engendrado por sua decadência, a república imperial exige sejamos voluntariamente servis.
Para completar a exposição desse delírio do ‘hegemon’ declinante, na Sessão 2, letra b, da Ordem executiva damos com grave ameaça explícita: se o governo do Brasil retaliar contra os Estados Unidos em resposta às medidas adotadas, elas serão modificadas ‘para assegurar a eficácia das ações nela contempladas’. E para que não restem dúvidas, o governo americano ainda tem o desplante de explicar tintim por tintim: ‘Por exemplo, se o Governo do Brasil retaliar, aumentando tarifas sobre exportações de produtos americanos, eu (no caso, ele, Donald Trump) aumentarei as tarifas no montante correspondente’.
4.
Diante dessa agressão ao Brasil, dessa ameaça à nossa soberania, dessa insana vontade de poder que no plano institucional e também no político-eleitoral quer impor ao executivo e ao STF um veredito que só cabe à nossa mais alta corte, o governo de coalizão vem reagindo como esperado.
No fundo, Lula sabe que no essencial a manobra americana quer incidir decisivamente nos resultados das eleições do ano que vem, aproveitando-se da fragilidade histórica que marca a democracia brasileira e do peso aumentado do extremismo neofascista desde o início da década passada. Ano que vem seremos submetidos a outro teste crucial. De seu resultado dependerá se o Brasil permanecerá ou não fragilmente democrático.
Diante do desafio lançado por Washington, o governo vem agindo bem, sabedor de que não há como negociar porque a plataforma que os Estados Unidos nos oferecem é sinônimo de absoluta sujeição. No plano bilateral estrito, refiro-me ao relacionamento Brasília-Washington, pouco ou quase nada a fazer. Mas em outros planos o governo se mostra ativo: busca aproximação com os BRICs e com outros grupos e países que, todos atacados pelos Estados Unidos, ainda que em graus variáveis, reagem desviando comércio e tudo o mais que se possa para parceiros confiáveis.
No plano interno, o governo vem conseguindo, como indica o ‘Brasil Soberano’, conferir um caráter socialdemocrata, frágil como a nossa democracia, ao esforço voltado para proteger o nível de emprego e, num primeiro momento, priorizar a pequena e a média empresa. Do ponto de vista político-eleitoral, o governo e seus apoiadores procuram mobilizar a sociedade em geral, o povo como totalidade, com vistas a eleitoralmente derrotar o antipovo nas vindouras eleições.
O essencial no curto prazo do atual ciclo eleitoral é bater nas urnas a direita neofascista e seu leque de sócios na barbárie, no atraso ou numa modernização que apenas extrai recursos da base da sociedade para seus píncaros. Essa, a direita que, no caso brasileiro, é voluntária e apaixonadamente servil a Washington.
Difícil que o governo possa ir muito além. Para se ir além, o que fazer é historicamente bem conhecido, por impossível ou improvável que seja sua concretização imediata: há que pressionar o governo nas ruas com manifestações gigantescas. Caso isso venha a ocorrer, o que começou na dimensão relativamente pequena que é a do ‘Brasil Soberano’ poderá se transmutar em algo que, séculos de distância mediante, remete à vontade geral explicitada por Jean-Jacques Rousseau: a soberania é do povo e só do povo. É intransferível ou não é soberania.
Tadeu Valadares é embaixador aposentado.