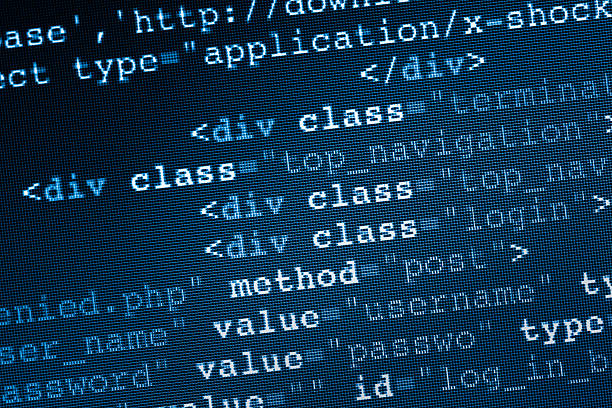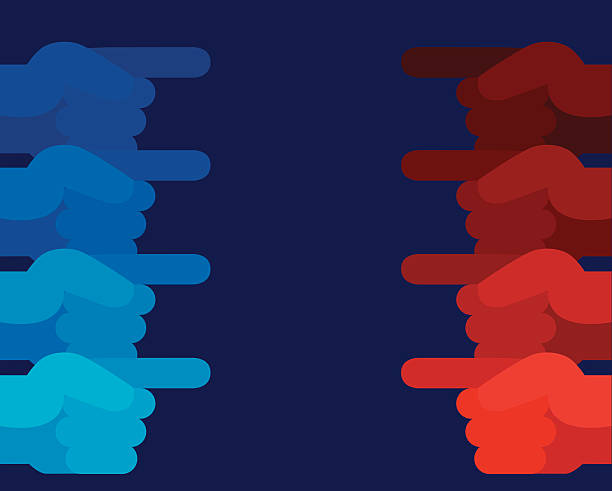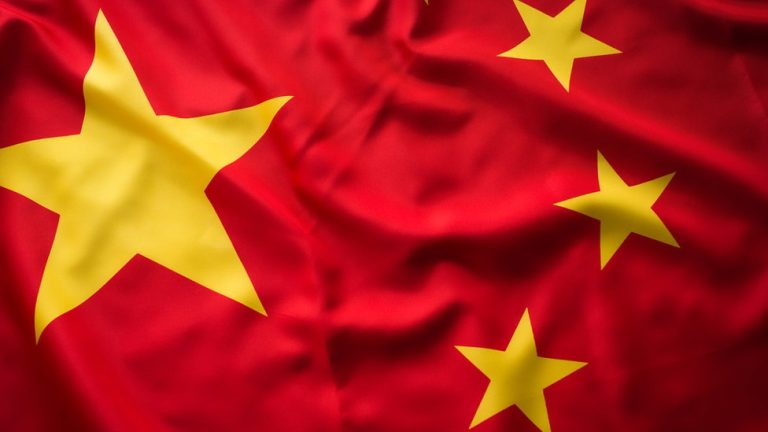Daniel Afonso da Silva – A Terra é Redonda -16/08/2024
Nem clichê nem ilusão: a passagem de Antônio Delfim Netto (1928-2024) de par com a passagem de Maria da Conceição Tavares (1930-2024) causou um vazio imenso na vida nacional brasileira. Foi um choque, sinceramente, sem precedentes. Um sinistro, evidentemente, de difícil remediação. A ausência deles dois, por ser assim, inaugura um mal-estar que nada parece conseguir conter nem superar.
Conceição Tavares e Delfim Netto, cada um com o seu jeitão, deixaram marcas profundas,
indeléveis, positivas e superlativas na história do país e na vida de quem conviveu, muito ou pouco, com eles. Marcas tão perenes e constitutivas que, seguramente, quase ninguém, nos últimos cinquenta, sessenta ou setenta anos, conseguiu comparar. Marcas que, portanto, vão ficar. Como patrimônio imaterial do Brasil. Feito de vivência singular. Paradigma de savoir faire. Modelo.
Muitos observadores – não raramente envenenados por ideologias confusas e rasteiras – tentam afastá-los, Conceição Tavares e Delfim Netto, um do outro. Mas isso, por lógica e verdade, é impossível. Eles sempre foram complementares. E todos sabem.
Os, hoje em dia, autodeclarados analistas, tentam reduzi-los, Conceição Tavares e Delfim Netto, à condição de economistas. Sim, eles atuaram nessa nobre área, a economia. Mas, claramente, não foram convencionais. Foram, em contrário, sempre e em tudo, outiliers. Fora da cursa, excepcionais, extraordinários. Geralmente emulando os clássicos. Sendo, assim, antes de tudo, filósofos. Filósofos morais.
Como foram seus mestres atemporais Adam Smith, David Ricardo, Karl
Marx, Joseph Schumpeter e o próprio John Maynard Keynes. Praticantes, portanto, de Political Economy. Sem, nesses termos, jamais se render às simplificações da Economics.
Faziam, desse modo, Conceição Tavares e Delfim Netto, assim porque sabiam que o mundo é real independentemente das ilusões manifestas sobre ele. E, fazendo dessa maneira, eram, para além de tudo, humanistas no sentido mais agudo da expressão. Eram, portanto, verdadeiros eruditos. Mestres em seu ofício. Mas profundos entendedores do fluxo da vida.
De modo que eram práticos por devoção, pragmáticos por convicção e realistas por vocação. Isso, neles, era sempre líquido e certo.
E, vendo assim, poucos de verdadeiros seus pares – dos quais, entre os brasileiros, por idade e geração, talvez apenas Eugênio Gudin (1886-1986), Roberto Campos (1917-2001), Celso Furtado (1920-2004), Mário Henrique Simonsen (1935-1997) e Luiz Carlos Bresser-Pereira (nascido em 1934 e vivo entre nós) mereçam menção – foram, assim, tão dignos, fidedignos e completos.
Com acertos e erros. Mas sempre envoltos em honestidade e convicção.
Honestidade e convicção que impuseram a Conceição Tavares e Delfim Netto o imperativo da transmissão.
Pois eles, intimamente, sabiam que o verão necessita de muitas andorinhas. Não feitas em seguidores nem discípulos. Mas, continuadores. Gente competente para receber, carregar e legar o bastão. E, visto assim e recompondo todos os seus tempos, é possível dizer que eles dois, Conceição Tavares e Delfim Netto, foram, antes de tudo, professores/transmissores. E, por serem quem eram, dos melhores. E, salvo melhor juízo, foi nessa condição e persona que mais cada um deles mais gostou de estar e ser. De modo que, não ao acaso, a história da consolidação da universidade brasileira se confunde com a trajetória pessoal e profissional deles dois: professor Antônio Delfim Netto e professora Maria da Conceição Tavares.
Digam o que quiser dizer, mas, sim: esses dois professores, Conceição Tavares e Delfim Netto, foram, ao longo da vida, sobretudo, construtores e formadores. Construtores de instituições e formadores de quadros.
E, justamente por isso, a USP, a Unicamp e a UFRJ, onde Conceição Tavares e Delfim Netto estiveram mais longa, duradoura e diretamente, lamentaram e lamentam tanto a ausência de seus mestres. Uma ausência que, para muito além da USP, a Unicamp e a UFRJ, deixou tudo muito triste e muito gris.
Triste e gris porque, ao fim das contas, Conceição Tavares e Delfim Netto eram, em si, instituições. Instituições que, curiosamente, retroalimentavam o ethos de um tempo que, por variadas razões, parece, naturalmente, não existir mais. Um tempo que mesclava inteligência, honestidade intelectual, ideias e elegância somadas a sinceridade, honestidade pessoal e convicções. Um tempo em que, claro, os idiotas, dos quais tanto Nelson Rodrigues (1912-1980) se referia, ainda possuíam alguma modéstia e estavam longe, muito de dominar o mundo, a sociedade no Brasil e a universidade brasileira.
Dito assim e sem pudor, Conceição e Delfim eram, por assim dizer, um obstáculo moral à afirmação da indigência cultural e intelectual no país. Tanto que todas as suas manifestações públicas – em gestos, palavras, presenças e olhares –, mesmo quando controversas e imperfeitas, sempre foram convictas e rigorosas. Sempre ensejando conscientemente impedir o espraiamento do asqueroso vale tudo que, pouco a pouco, foi tomando conta dos espaços de produção e difusão de conhecimento e saber no Brasil – sendo universidade o maior alvo – nos últimos vinte, trinta ou quarenta anos.
Mas, agora, com a sua ausência, a ausência de Conceição e Delfim, esse sustentáculo – desde muito, esmaecido e cansado de guerra – tende a ficar ainda mais frágil. E frágil sim porque, sem Conceição e sem Delfim, uma certa ideia de compromisso moral com o trabalho intelectual vai perdendo a sua condição de existir. Consequentemente, a produção de conhecimento e saber tende a singrar inocuamente irrelevante. E a universidade – especialmente a pública – tende a seguir estagnada, estrangulada e esmagada.
A idiotia moral, todos sabem, galopa por todas as frentes. A indigência intelectual, todos veem, avança para conquistar a sua plenitude. E a sinergia desses dois fenômenos – o da cretinice moral e da indigência intelectual – acentua a conhecida entropia do cotidiano intramuros das universidades no Brasil de modo a acelerar a sua deformação rumo à sua destruição.
E, sobre isso, Darcy Ribeiro (1922-1997) já disse muito. Em seu entender, trata-se de algo que vem de longe. Que foi bem pensado e bem cosido. E, com o tempo, foi se revelando no nefando projeto de se fazer do atraso da universidade (e da educação em geral) uma missão.
O problema geral é que esse projeto – inaugurado no regime militar, acelerado depois dele e afirmado neste quarto de século XXI – foi escancarado greve dos docentes das federais deste ano de 2024 e afirmado como uma cruel e inequívoca realidade. Basta lembrar pra ver. Mas quem desejar, de fato, tudo comprovar, que retorne à ambiência da paralisação deste ano.
Fazendo isso, desde que feito com paciência e sem parti pris, o cético observador vai rápido notar que, no frigir das questões, pelo menos, três reflexos alimentaram as discussões e inundaram os espíritos.
Um primeiro, de cunha afoita e majoritariamente sindical, em defesa da greve. Um segundo, de franca mistura governista, em recusa e negação da greve. E um terceiro, assentado em questões de ordem e princípios, sugerindo o caminho do meio; ou seja, o caminho da reflexão e da meditação sobre o sentido da universidade, a natureza da atuação de seus frequentadores e o lugar dessa instituição multissecular no interior da sociedade brasileira.
Foi isso e não mais que isso o que se teve. A saber, posições a favor, contra e nem a favor nem contra a greve. E, sendo assim, esses três reflexos produziram uma massa crítica e analítica impressionantemente inédita e rica. Parte disso, é válido reconhecer, pelo papel decisivo exercido pelo site A Terra é redonda.
Observando todo o debate com calma, publicou-se, nos mais de oitenta dias da greve, perto de duas centenas de artigos sobre o assunto. E, sinceramente, não foram quaisquer artigos. Foram artigos, em geral, muito bem informados e intencionados. Produzidos por docentes de todas as regiões e sub-regiões do Brasil. Das mais remotas às mais centralmente situadas. Reunindo-se, assim, impressões e sensibilidades oriundas de praticamente todas as realidades universitárias.
Das instituições federais, universidades e institutos, mais antigas às mais recentes e às novíssimas. E, realizando-se, assim, a melhor e mais densa fotografia do ofício docente nas federais hoje.
De minha parte, inaugurei uma modesta colaboração com um singelo artigo, muito gentilmente publicado aqui, no início da greve, no dia 15 de abril, dia 1 da paralização, sob o título de “A greve dos professores das universidades federais”, onde se podia ler que, em minha compreensão,
“Não vem, assim, ao caso defender ou não a greve dos professores das federais por merecidas, constitucionais e morais reposições salariais. O fundamental é se recobrar nas forças para se reconhecer com honestidade a brutalidade do peso derrota de cunho existencial dos últimos anos e enfim voltar a meditar com seriedade sobre pra quê todos nós professores das federais e das demais universidades brasileiras efetivamente servimos”.
Adiante, como desdobramentos de reafirmação de minha convicção, apareceriam “Muito além das relvas verdejantes dos vizinhos” e “Navegando a contravento”. Dois artigos produzidos em diálogo, sempre sincero e respeitoso, com argumentos contrários aos meus. Onde pude ressaltar que “A greve dos docentes das federais enseja decorrer de desconforto muito mais profundo, fundamental e quase existencial”.
E, de modo mais detalhado, ainda acentuar que “Afinando o debate nesse tom do diapasão, apoiar ou denegar a greve vira uma estranha navegação. Navegação a contravento. Sem bússolas e sem direção. O que, por certo, não retira a legitimidade de todas as ações de paralisação ou de negação da paralisação nas federais. Entretanto, infelizmente, simplesmente, sinceramente, indireta, mas insistentemente, vai jogando água nos moinhos daqueles, notadamente extramuros, que consideram que ‘A universidade brasileira, salvo raros quadros, é inofensiva, inócua. Mesmo assim, alguns estão debatendo o que a greve poderá fazer com o governo (desgoverno) Lula’”.
Essas singelas manifestações – em linha com um artigo anterior, “Alicerces desertificados” –, como se pode, de saída, notar advogavam pelo caminho do meio. Aquele da meditação e da reflexão.
Um caminho, sinceramente, perigoso. Sobretudo quando se circula sem armaduras pelo interior do sistema. Um sistema, como bem sabido, preenchido de armadilhas e eivado de terrenos movediços que, não raramente, mostram a sua face na forma de represálias e admoestações. Esse habitat, todos sabem, detesta divergentes.
Mas, desta vez, não singrei sozinho tampouco arei o mar. Bem do contrário. Tão logo a greve foi se afirmando, vários docentes da mais alta qualidade intelectual, competência técnica e valores morais e espirituais adentraram a trincheira em comum e, sinceramente, sofisticaram a globalidade dos argumentos que impõe a todos o caminho do meio.
Para ficar apenas em alguns, vale fortemente acentuar que a professora Marilena Chaui subiu indelevelmente o nível da discussão com o seu precioso “A universidade operacional”. Em seguida, o antigo reitor da UFBA, João Carlos Salles, alargou a senda guiada de sua colega de ofício da USP com o seu sugestivo “Mão de Oza”. Mais à frente, foi a vez do professor Roberto Leher, antigo reitor da UFRJ, ampliar ainda mais a complexidade cognitiva do debate mobilizando evidências contundentes que quase ninguém sabiam ou, ao menos, ainda não tinha observado em perspectiva.
Desse modo, eles três – para ficar apenas neles, Chaui, Salles e Leher – estraçalharam a mesquinhez da discussão varejista sobre apoiar ou não a greve dos docentes em 2024 e lançavam a discussão em um, verdadeiro, outro patamar. Um patamar que, sinceramente, teve o mérito de avivar o único debate urgente, necessário e válido sobre a universidade brasileira que diz respeito à permanente perquirição de seu sentido, natureza e dignidade. Trocando em miúdos, qual universidade, universidade pra quê e universidade pra quem.
É curioso, mas foi assim. E fazendo assim eles se reataram ao elo perdido das batalhas de Conceição Tavares e Delfim Netto, que sempre foi a educação.
Conceição Tavares e Delfim Netto sempre singraram os mares agitados e controversos da excelência do ensino superior brasileiro. E, nesse sentido, eles sempre foram defensores implacáveis de uma universidade pública, digna e honesta. Um espaço intelectualmente decente, culturalmente relevante e politicamente engajado no aperfeiçoamento da sociedade brasileira – leia-se: na redução de suas aporias, desigualdades e injustiças. E, portanto, uma universidade avessa ao atraso, à estagnação, à indigência, ao ensimesmamento e à mediocrização.
Conceição Tavares e Delfim Netto, nesse propósito, foram, sim, teóricos, mas também práticos. Veja-se, como exemplos, os departamentos de Economia que eles, com seu suor, criaram. Mas, no plano mais geral, foi no início da redemocratização, na viragem dos anos de 1970 para os de 1980, que eles – e todos – começaram a notar que a deriva da universidade brasileira em geral ao encontro do atraso era grave, crônica e acelerada. Mas, depois do Muro e sob a mondialisation heureuse, essa primeira apreensão virou pesadelo.
Os ingênuos dilemas que envolviam provincianismo versus cosmopolitismo tornaram-se mais acentuados. As inconsequentes reações que aplacavam complexos de interioridade versus receios dos grandes centros, com o início da expansão da interiorização da malha universitária pelos interiores do país, produziram verdadeiras deformações e dramas – alguns deles, ainda hoje, não superados. Mas, pior que tudo isso, os ventos daqueles tempos depois do Muro inebriaram os olhares, taparam os ouvidos e soterraram a quase totalidade do ensino superior público brasileiro nas ilusões do utilitarismo técnico frente aos imperativos do pensamento complexo.
Como resultado, como bem notou Marilena Chaui, abriu-se caminhos para o surgimento dessa excrescência denominada “universidade operacional.”
De todo modo, vale bem marcar, por aqueles tempos, in real time, sob as tormentas dos anos de 1990, Conceição Tavares e Delfim Netto militavam em outras paragens. Estavam no Parlamento. Eram deputados. Acreditavam na política e entendiam-na como salvação.
Enquanto isso, no chão de terra do cotidiano intramuros das universidades, vozes inquietas vocalizavam o mal-estar. Mas uma delas, francamente, destoou e desconcertou. Destoou pela força, pela presença e pela estridência. E desconcertou pelo seu tom, visto hoje e em perspectiva, macabramente profético.
Tratava-se da voz de um brasileiro peculiar, de inteligência superior, conhecido e afamado – como seus pares Florestan Fernandes (1920-1995), César Lattes (1924-2005) e Mário Schenberg (1914-1990) – no mundo inteiro. Era a voz de um sujeito baiano, crescido em Brotas, formado, inicialmente, em Salvador e que atendia pelo nome de Milton de Almeida Santos (1926-2001). Mestre incontornável e inesquecível de todos nós.
Milton Santos, como tantos outros brasileiros ilustres, foi cassado, perseguido, preso, humilhado e maltratado pelos militares após 1964. Mas, diferente de muitos, jamais perdeu a esperança tampouco a dignidade. Milton Santos não se vendeu nem abandonou as suas convicções.
E, talvez, também por isso, o seu retorno ao Brasil e a sua reintegração – após martírios – ao sistema universitário brasileiro foram, para dizer pouco, experiências, nitidamente, complexas, ruidosas e tortuosas.
Para fazer curto, ele não foi aceito no arranjo CEBRAP, teve dificuldades na UFRJ e viveu uma rude novela para ser integrado à USP.
Mas, uma vez integrado à mais importante universidade do país, ele expandiu a sua diferença.
Não é o caso de aqui se esmiuçar o impacto político, moral, intelectual e estético de obras suas como Por uma Geografia Nova (1978), O trabalho do geógrafo no terceiro mundo (1978), O espaço dividido (1978), O espaço do cidadão (1987), A natureza do espaço (1996) e Por uma outra globalização (2000). Qualquer geógrafo – ou qualquer pessoa minimamente academicamente bem formada – sabe do se trata.
Também não é o caso de muito se rememorar nem de muito se acentuar que esse ilustre baiano e cidadão de Brotas recebeu o Prêmio Vautrin Lud, espécie de prêmio Nobel em sua área exclusiva de atuação, em 1994. Mas, para quem alimenta dúvidas ou, quem sabe, complexos de vira-lata ao encontro da genialidade desse distinto brasileiro, vale simplesmente ressaltar que os mundialmente conhecidos e afamados David Harvey, Paul Claval, Yves Lacoste e Edward Soja – para ficar apenas em alguns dos mais célebres de métier comum – receberiam o mesmo prêmio só tempos depois ou bem depois.
Dito, portanto, assim e sem pudor, Milton Santos foi, sim, genial e singular.
E, por tudo isso, os seus pares na USP decidiram conceder-lhe, em 1997, o honroso título de Professor Emérito da USP. Ao que, Milton Santos recebeu, por claro, com muito gosto.
Mas, diferente de muitos de seus pares em situação similar, ele usou o momento para realizar uma alentada denúncia sobre a situação da universidade brasileira.
Quem viveu, pode lembrar. Quem simplesmente ouvir falar, que acredite: a sua manifestação não foi nada amena.
O intelectual e a universidade estagnada era o seu título. O ano era 1997. O mês, agosto. O dia, o 28.
Milton Santos iniciou a sua manifestação com uma curiosa ode aos obstáculos e derrotas vida intelectual acentuando que “um homem que pensa, e que por isso mesmo quase sempre se encontra isolado no seu pensar, deve saber que os chamados obstáculos e derrotas são a única rota para as possíveis vitórias, porque as ideias, quando genuínas, unicamente triunfam após um caminho espinhoso”.
Mas, logo adiante, chamou a atenção para o fato desse “caminho espinhoso” estar sendo solapado pelo carreirismo universitário imposto pelo modelo de universidade em vigência. Um carreirismo, ao seu ver, só podia conduzir ao conformismo e ao silenciamento do pensar. E, ao fim, fazia entender que, claro: uma universidade que não pensa nem deixa pensar não é bem uma universidade.
E seguia o discurso. Onde, adiante, vaticinou que “acreditar no futuro é também estar seguro de que o papel de uma Faculdade de Filosofia é o papel da crítica, isto é, da construção de uma visão abrangente e dinâmica do que é o mundo, do que é o país, do que é o lugar e o papel de denúncia, isto é, de proclamação clara do que é o mundo, o país e o lugar, dizendo tudo isso em voz alta”.
E continuou dizendo que “essa crítica é o próprio trabalho do intelectual”.
Um trabalho, anteriormente, praticado, genuinamente, por filósofos. Mas, em tempos hodiernos, depositário dos artífices das Humanidades. Ou seja, da gente que, por ofício, vai metida seriamente com Artes, Filosofia, Geografia, História, Letras e afins. Gente que, ao fim das contas, possui formação e disposição para navegar pelas encruzilhadas da incomensurabilidade da complexidade da transversalidade do processo de construção do conhecimento. Gente sem a qual, fazia novamente entender, a universidade simplesmente não existe. Ou, quando insistem em subsistir, na melhor das hipóteses, vai fadada à indigência.
Sim: duro assim. Mas contundente e veraz. E, sinceramente por isso, O intelectual e a universidade estagnada, merece ser lido e relido, meditado e entendido.
Seguramente ninguém foi mais direto, honesto e preciso no diagnóstico sobre o sinistro da universidade brasileira que Milton Santos. Lá atrás, em 1997 e até a sua morte em 2001, ele chamava a atenção para essa crise crônica. Que, ao fim e ao cabo, era uma de sentido e de identidade. Crise essa que, com o passar dos anos, só fez piorar.
E vem sendo assim, sobretudo, porque a indigência intelectual, cultural e moral tomou, efetivamente, de tudo conta. De modo que, hoje em dia, parte majoritária dos frequentadores das universidades se tornou indiferente ao problema. Parte por não dispor de competência cognitiva para adentrar a discussão. Parte por, sinceramente, nem saber do que se trata.
Desse modo, sim: leia-se Milton Santos. E, ao se fazer, vai-se perceber o óbvio: não existe universidade sem Humanidades. Mas, como tudo na vida, pode-se apreender isso de modo diferente e contemporizador. Quem saber numa fórmula mais amena que sugere, simplesmente, que o destino da universidade depende do destino que se der às Humanidades.
Quando Milton Santos clarificou essa compreensão, vivia-se, no Brasil, o imediatamente após o regime militar, Muro de Berlim, fim do bloco soviético e início da ubiquidade da globalização. Pois, depois disso e século XXI adentro, todo esse quadro ficou mais complexo e, com ele, a situação da universidade.
Ocorreu, de saída, uma desbragada expansão da malha de instituições de ensino superior no país.
O que, por claro, gerou uma ampliação do número de instituições. Mas, ao mesmo, curiosamente, não aumentou o número de universidades. Do contrário, quem sabe, até diminuiu. E diminuiu porque, aos poucos, o que se entendia por universidade foi virando outra coisa, que, sinceramente, não se sabe muito bem o que é.
Mas as razões, depois de se ler Milton Santos, ficam clarividentes. Basta-se retomar com calma o processo de aceleração da expansão de instituições de ensino superior desde o início do século.
Quem fizer isso vai rápido notar que, por mais incrível que se possa parecer, houve, em geral, pouco ou nenhum verdadeiro interesse em se valorar o lugar das Humanidades no interior das novas instituições. E isso, quer-se crer, não foi simples descuido nem mera desatenção. Trata-se do atraso como projeto. E, visto assim, virou o féretro da universidade como missão. Pois, claramente, as instituições que saíram do zero ou se emanciparam de outras a partir do ano 2003-2005 foram sendo, em geral, forjadas sem nenhum interesse na criação de cursos realmente consistentes e relevantes em campos essenciais do conhecimento e do saber como artes, filosofia, geografia, história, letras e afins.
Esse imperdoável despautério, levado às últimas consequências, violentou o próprio sentido da universidade no Brasil. Isso porque, sem a latência das Humanidades no interior dessas novas e novíssimas instituições, a formação de uma ou duas gerações de brasileiros foi integralmente deformada a ponto de se comprometer a “construção de uma visão abrangente e dinâmica do que é o mundo” no interior da sociedade.
Consequentemente, não adiante negar, a indigência intelectual virou norma em todas as partes e ajudou a pavimentar um caminho seguro para a ascensão de um verdadeiro estúpido à presidência da República. O leite foi derramado. Todos viram e todos sabem.
As agonias das noites de junho de 2013 ao 8 de janeiro de 2023 foram imensas. Mas, assim, não sem razão. E a greve dos docentes das federais em 2024 veio simplesmente ampliar a convicção do sinistro e evidenciar que a situação virou muito pior que a que Milton Santos imaginou.
O lapso de vinte ou vinte e cinco anos de expansão/deformação universitária brasileira, produziu entre os acadêmicos uma maioria sem nenhuma aptidão nem sensibilidade para notar as infinitas sutilidades no interior da variedade de campos de conhecimento e saber. Dito sem nenhum pudor, perdeu-se a noção de coisas básicas, como a distinção entre humanidades e ciências (humanas ou naturais).
Diante disso, sinceramente, o melhor é se calar. Mas com o silêncio, a universidade – sem as Humanidades – vai morrendo. Pois como vaticinou Milton Santos “A universidade, aliás, é, talvez, a única instituição que pode sobreviver apenas se aceitar críticas, de dentro dela própria de uma ou de outra forma. Se a universidade pede aos seus participantes que calem, ela está se condenando ao silêncio, isto é, à morte, pois seu destino é falar.”
Tudo, portanto, além de muito triste, é muito grave.
E, talvez, agora, vendo-se, assim, a gravidade de todo o quadro, perceba-se o quanto Conceição Tavares e Delfim Netto, sem clichê nem ilusão, fazem falta.
Conceição Tavares e Delfim Netto eram obsessivos no falar. Não no falar por falar. Mas no falar – agora, talvez, entenda-se – para adiar o silêncio do fim. Do fim da universidade e do fim do devir.
*Daniel Afonso da Silva é professor de história na Universidade Federal da Grande Dourados. Autor de Muito além dos olhos azuis e outros escritos sobre relações internacionais contemporâneas (APGIQ)