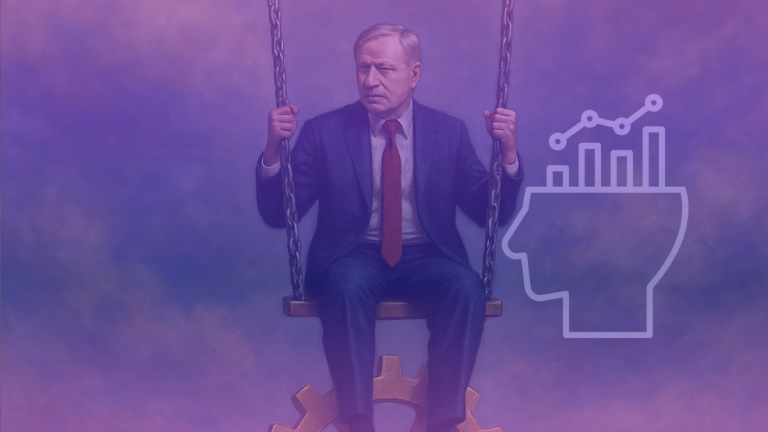Rodolfo Furlan Damiano – A Terra é Redonda – 09/05/2025
Estamos presenciando uma revolução silenciosa na forma como a sociedade brasileira enxerga a saúde mental
1.
Em 2024, o Brasil registrou um número alarmante de 472.328 afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho, representando um aumento expressivo de 68% em relação ao ano anterior. Este dado não é apenas uma estatística fria, mas o reflexo de uma crise real enfrentada diariamente por milhares de trabalhadores brasileiros.
Como psiquiatra, observo cotidianamente em meus atendimentos o impacto profundo que o ambiente laboral exerce sobre a saúde mental das pessoas. Entretanto, esse aumento nos afastamentos possui uma dupla leitura: por um lado, indica o agravamento das condições de trabalho; por outro, revela um avanço importante na conscientização social sobre a importância da saúde mental, com pessoas mais dispostas a reconhecer seus limites e buscar ajuda profissional.
O crescimento dos afastamentos por razões psicológicas não se restringe ao Brasil. Os afastamentos por transtornos mentais aumentaram 134% nos últimos dois anos, passando de 201 mil casos em 2022 para 472 mil em 2024. Entre os casos relacionados à saúde mental, destacam-se afastamentos por reações ao estresse (28,6%), ansiedade (27,4%), episódios depressivos (25,1%) e depressão recorrente (8,46%).
Na América Latina, a situação é igualmente preocupante, com países como Argentina e Chile registrando aumentos significativos nos casos de afastamento por transtornos mentais nos últimos três anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade, custando à economia global quase um trilhão de dólares.
Este aumento expressivo pode ser compreendido a partir de duas perspectivas complementares. A primeira refere-se ao agravamento real das condições laborais, especialmente após a pandemia de Covid-19. Muitos trabalhadores passaram a enfrentar insegurança financeira, medo do desemprego e sobrecarga devido à adaptação forçada ao trabalho remoto sem o suporte adequado. A fronteira entre vida profissional e pessoal tornou-se cada vez mais tênue, levando ao que especialistas chamam de “disponibilidade permanente” – a sensação de estar sempre de plantão, sempre conectado.
Vivemos hoje em um mundo hiperconectado, onde as tecnologias digitais que deveriam facilitar nossas vidas acabaram criando uma extensão infinita do ambiente de trabalho. Mensagens de whatsapp de chefes e colegas chegam a qualquer hora do dia e da noite, e-mails são checados durante fins de semana e férias, transformando nossos lares em verdadeiros escritórios sem horário de fechamento. Essa conectividade permanente criou a expectativa implícita de disponibilidade constante, eliminando os espaços de descanso e recuperação tão essenciais para nossa saúde mental.
Essa realidade afetou particularmente as mulheres, que frequentemente acumulam responsabilidades profissionais e domésticas. Não por acaso, elas representam 64% dos casos de afastamento por transtornos mentais no Brasil. O perfil médio dos trabalhadores afastados é de 41 anos, justamente o período em que as demandas familiares e profissionais tendem a ser mais intensas.
2.
A segunda perspectiva aponta para uma mudança cultural positiva: estamos presenciando uma revolução silenciosa na forma como a sociedade brasileira enxerga a saúde mental. O que antes era tabu, hoje é tema de conversas abertas. Condições como ansiedade, depressão e burnout saíram das sombras, permitindo que as pessoas reconheçam seus sintomas e busquem ajuda sem o estigma que antes acompanhava esses diagnósticos.
Do ponto de vista médico, o estresse crônico no trabalho vai muito além do simples cansaço ou irritabilidade. Estudos realizados pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos demonstram que a exposição prolongada a ambientes laborais estressantes altera literalmente a bioquímica cerebral, afetando áreas responsáveis pela regulação emocional e tomada de decisões.
Quando uma pessoa está constantemente sob pressão, seu organismo mantém níveis elevados de cortisol, o chamado “hormônio do estresse”, que em excesso pode danificar estruturas cerebrais como o hipocampo e o córtex pré-frontal. Essa alteração biológica diminui nossa resiliência emocional e capacidade de enfrentar novos desafios, criando um ciclo vicioso prejudicial.
Tenho observado em minha prática clínica um fenômeno particularmente preocupante entre os profissionais mais jovens. As novas gerações que ingressam agora no mercado de trabalho parecem apresentar limiares mais baixos de tolerância ao estresse laboral, adoecendo mais rapidamente quando expostas a pressões que gerações anteriores suportavam por períodos mais longos. Isso não significa, como alguns erroneamente apontam, que sejam “mais frágeis” ou “menos comprometidas” – trata-se de uma geração que cresceu em contextos sociais e educacionais distintos, com menos exposição a frustrações e mais consciente de seus direitos e limites pessoais.
O Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, vinculado ao Ministério do Trabalho, identificou que profissionais de saúde, educação e segurança pública apresentam os maiores índices de afastamento por transtornos mentais no Brasil. Em particular, enfermeiros e técnicos de enfermagem lideram o ranking, seguidos por professores da educação básica e atendentes de call center.
As características desses ambientes incluem alta demanda emocional, baixa autonomia e frequentemente recursos insuficientes para a realização adequada do trabalho. Como observado por profissionais da área, “os advogados são treinados para ‘pensar’ como advogados e não a ‘sentir’. Isso propicia um distanciamento das suas próprias emoções e valores, gerando quadros de ansiedade, insatisfação e desequilíbrio emocional”. São ambientes propícios ao desenvolvimento de quadros como a Síndrome de Burnout – o esgotamento profissional caracterizado por exaustão, cinismo e redução da eficácia.
3.
Na minha prática clínica, percebo que o tratamento eficaz dos transtornos mentais relacionados ao trabalho requer uma abordagem multidisciplinar. O primeiro e mais importante passo é a avaliação especializada, realizada por profissionais de saúde mental qualificados, como psicólogos e/ou psiquiatras. Somente um diagnóstico preciso pode orientar corretamente o plano terapêutico, determinando a necessidade ou não de medicação, psicoterapia e até mesmo o afastamento temporário do ambiente laboral.
Quando identificado um transtorno mental, é fundamental instituir um tratamento individualizado. A medicação psiquiátrica pode ser necessária nos casos moderados a graves, mas raramente deve ser a única intervenção. A psicoterapia, em especial a terapia cognitivo-comportamental, tem demonstrado excelentes resultados no manejo dos sintomas relacionados ao estresse laboral, auxiliando os pacientes a modificarem padrões de pensamento disfuncionais e a desenvolverem estratégias mais eficazes de enfrentamento.
Paralelamente, as intervenções psicossociais desempenham papel crucial na recuperação e prevenção. A implementação de mudanças nos hábitos de vida – como a prática regular de atividade física, alimentação equilibrada, higiene do sono e técnicas de relaxamento – contribui significativamente para a melhora do quadro. Técnicas de mindfulness e meditação têm se mostrado ferramentas valiosas, ajudando os pacientes a desenvolver maior resiliência emocional e capacidade de autorregulação.
É essencial também promover mudanças no próprio ambiente de trabalho, com a adoção de práticas organizacionais mais saudáveis: pausas regulares, definição clara de prioridades, estabelecimento de limites para a jornada de trabalho e para a disponibilidade fora do expediente. A exposição gradual a estressores laborais, sob orientação profissional, permite a ressensibilização controlada e o desenvolvimento de recursos adaptativos.
O retorno ao trabalho após um afastamento representa outro momento crítico que demanda atenção especializada. Este processo deve ser gradual e cuidadosamente monitorado, idealmente com adaptações no ambiente laboral para evitar recaídas. Aqui, a parceria entre o profissional de saúde mental, o médico do trabalho e os gestores da empresa é fundamental para garantir uma reintegração bem-sucedida. Infelizmente, muitas organizações ainda carecem de protocolos adequados para este momento delicado, o que frequentemente resulta em novos afastamentos e cronificação dos quadros.
Por fim, não podemos esquecer o papel da prevenção primária. Programas de educação em saúde mental no ambiente corporativo, identificação precoce de fatores de risco, suporte psicológico preventivo e desenvolvimento de competências em gestão do estresse são iniciativas essenciais para reduzir a incidência desses transtornos e promover ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos.
O enfrentamento desse problema exige uma resposta articulada entre diversos setores da sociedade. As empresas precisam ir além dos discursos sobre bem-estar e implementar mudanças concretas em suas culturas organizacionais, como o estabelecimento de limites claros para o trabalho fora do expediente, capacitação de líderes para identificar sinais precoces de sofrimento psíquico e a criação de canais seguros para que funcionários possam expressar suas dificuldades sem medo de retaliação.
O poder público também tem papel fundamental, fortalecendo a fiscalização das condições de trabalho e ampliando o acesso a serviços de saúde mental no Sistema Único de Saúde. Uma nova regra que entrará em vigor em 2025, através da atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, exigirá que empresas avaliem riscos à saúde mental dos seus colaboradores. Esta normativa prevê a inclusão da avaliação de riscos psicossociais no processo de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, representando um avanço importante no reconhecimento do nexo causal entre determinadas condições de trabalho e o adoecimento mental.
*Rodolfo Furlan Damiano é médico, pós-doutorando em psiquiatria pela USP.
Autor, entre outros livros, de Compreendendoo suicídio (Editora Manole).
Referências
Agência Brasil. Saúde mental: afastamentos dobram em dez anos e chegam a 440 mil. março de 2025.
Brasil 61. Afastamento do trabalho por transtornos mentais ultrapassaram 400 mil em 2024. Fevereiro de 2025.
International Labour Organization. Série SmartLab de Trabalho Decente 2025: apenas 46% dos municípios brasileiros possuem políticas ou programas de atendimento a pessoas com transtornos mentais. 2025.
Ministério do Trabalho e Emprego. Saúde mental do trabalhador é o foco da Canpat 2023. Maio de 2023.
Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Estatísticas sobre afastamentos laborais no Brasil. 2024.
Portal CNJ. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho preocupam. Maio de 2023.
Terra. Saúde mental no trabalho piora em 2023: afastamentos aumentaram quase 40%. Janeiro de 2024.
Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região – Paraíba. Transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento do trabalho no Brasil. Janeiro de 2023