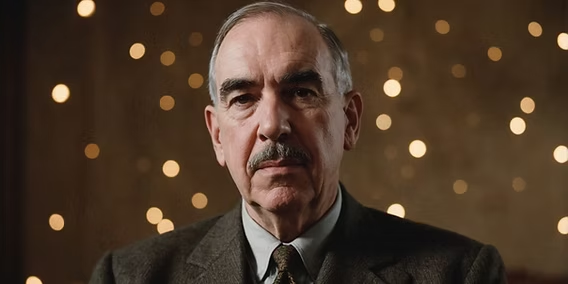Gilberto Maringoni – A Terra é Redonda – 15/04/2025
Há chances mínimas do governo Lula assumir bandeiras claramente de esquerda no que lhe resta de mandato, depois de quase 30 meses de opção neoliberal na economia
No início de março, em evento na sede do BTG Pactual, Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores, debateu a situação do país e do governo Lula com representantes do sistema financeiro. Em meio à defesa de maior aproximação da administração federal com o mercado, o petista enfatizou: “Com a polarização não há racionalidade, com a polarização não se concebe (…) uma agenda de unidade para o país, independentemente de divergências partidárias”.
A “polarização”, tida como grande mal da vida política, tem aparecido em editoriais, artigos de opinião e declarações de líderes políticos e intelectuais brasileiros com ênfase crescente. O que significa acabar com a polarização num dos países mais desiguais do mundo?
Convergências na economia
A defesa do “fim da polarização”, da maneira como colocada pelo dirigente petista, aparenta ter grande contraste com a extrema-direita, mas revela o seu contrário quando o debate chega à economia. A pregação de Edinho Silva tem como meta resolver um problema de médio prazo – articular uma frente eleitoral que se oponha ao neofascismo em 2026 – e não realizar mudanças profundas na estrutura institucional do país. Deveria haver uma continuidade lógica entre as duas iniciativas – eleições e mudanças –, mas não é o que ocorre.
Ao mesmo tempo, ver a polarização com o maior dos males da Terra pode embutir um misto de ilusão, oportunismo e tergiversação diante de um quadro de riscos colocados para a democracia brasileira. Se raciocinarmos que as propostas da extrema-direita são incompatíveis com a institucionalidade, a polarização torna-se necessidade vital. É algo a ser acentuado – e não lamentado – para que a população tenha clareza do que está em jogo e possa fazer escolhas com clareza. A experiência do governo Bolsonaro mostra o caráter golpista, autoritário, elitista, negacionista, excludente e submisso ao imperialismo da extrema direita. Como não polarizar com um regime desses?
A visão de que a polarização deve ser evitada coloca na mesa pelo menos três problemas.
O primeiro denota que apesar de todas as tentativas de se encontrar diferenças na condução econômica entre as principais forças políticas do país, o que se percebe é o contrário. Há grande convergência – num arco que vai do centro à extrema direita – sobre a necessidade de um ajuste fiscal permanente e redentor, que submeta a ação do Estado à alta-finança.
O segundo problema reside no fato de os contrários à polarização não deixarem claras as bases para a construção de uma hipotética unidade de forças. Da parte da grande mídia e da direita, parece haver certo saudosismo dos tempos do chamado “pensamento único”, utopia neoliberal derivada da famosa frase da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, “Não há alternativa”.
O terceiro é que “polarização” não é algo ou alguém dotado de vontade própria, capaz de impor pontos de vista, como se fosse um ser racional. Reclamar da “polarização” é como lamentar “a briga”, “o desentendimento” ou a “falta de amor” entre as pessoas. “Polarização” é uma relação de oposição entre dois polos, dois pontos de vista, duas condutas.
Com base nesses três pontos, vale perguntar: existe essa oposição real no que interessa – nos projetos econômicos – entre a frente liderada pelo PT e as forças aglutinadas em torno de Jair Bolsonaro? Ambas têm como pedra de toque, em maior ou menor grau, políticas de austeridade.
O consenso neoliberal
A fabricação do consenso neoliberal na sociedade é condição essencial para sua aplicação. Se pensarmos friamente, não é fácil convencer o eleitorado de que cortes em verbas de Educação e Saúde, venda de empresas públicas eficientes e perdas de direitos sociais representam vantagens para as maiorias. Não se trata de uma convergência à qual se chega pelo livre curso de ideias e debates públicos, mas através de uma sólida unidade entre diversos setores do grande capital (o que inclui a mídia e as big techs).
Essa coalizão tem como tarefa principal repetir num uníssono um conjunto de meias verdades e valores duvidosos sem contrapontos. Não falta o uso desmedido da força para sua imposição. Vozes dissonantes foram desqualificadas, ridicularizadas e até eliminadas para a fabricação do grande consenso, que ganhou ares de novo valor civilizatório.
A atual hegemonia neoliberal foi alcançada através da adesão de parte significativa da esquerda. Não nos esqueçamos do papel que tiveram o Partido Trabalhista britânico, o Partido Socialista Operário Espanhol, os Partidos Socialistas francês, italiano e chileno e o peronismo nos anos 1980-90. No caso brasileiro, o modelo neoliberal foi imposto à sociedade a partir do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), tido à época como progressista, e jamais teve suas medidas contestadas na prática pelas administrações do Partido dos Trabalhadores.
O neoliberalismo foi implantado em boa parte do mundo nos anos 1980-90 e vive uma segunda e mais agressiva fase a partir de crise de 2008. Novas modalidades de golpes começaram a surgir na América Latina, através de instâncias do Judiciário e do Legislativo, com auras de legalidade incontestes, como em Honduras (2009), Paraguai (2012) e Brasil (2016). A articulação para a deflagração do impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff envolveu múltiplos atores no campo dos três Poderes e a nata do capital financeiro e do agronegócio. Foi a famosa frente “com o Supremo e com tudo”, como bem sintetizou o ex-senador Romero Jucá.
A ponte ampla
Meses antes do golpe, no final de outubro de 2015, a direita brasileira colocou na rua sua síntese programática, centrada na pauta econômica. Apesar de Dilma ter entregue quase todas as exigências do mundo financeiro, como um ajuste fiscal que elevou a taxa de desemprego de 6,6% em dezembro de 2014 para 11,3, em março de 2016 (IBGE), o topo da pirâmide social queria mais. Esse “mais” ficou conhecido sob o título de “Uma ponte para o futuro”.
Embalado num livreto de 20 páginas, seu texto resumia um agressivo programa ortodoxo, que compreendia, entre outras coisas, o seguinte: “É necessário em primeiro lugar acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde e com educação. (p. 9) (…) Outro elemento para o novo orçamento tem que ser o fim de todas as indexações, seja para salários, benefícios previdenciários e tudo o mais. (p. 10) (…)
“O primeiro objetivo de uma política de equilíbrio fiscal é interromper o crescimento da dívida pública, para, em seguida, iniciar o processo de sua redução como porcentagem do PIB. O instrumento normal para isso é a obtenção de um superávit primário capaz de cobrir as despesas de juros menos o crescimento do próprio PIB. (p. 13) (…) [Será preciso] executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, por meio de transferências de ativos que se fizerem necessárias, concessões amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura, parcerias para complementar a oferta de serviços públicos e retorno a regime anterior de concessões na área de petróleo, dando-se a Petrobras o direito de preferência”.
O “Ponte para o futuro” é uma formulação programática, cujos limites não deveriam ser desrespeitados por governo algum. O arrazoado apresentado pelo PMDB, elaborado por alguns dos melhores cérebros do mundo do dinheiro, funcionou como uma espécie de projeto de constituinte financeira para a reestruturação do Estado brasileiro. É uma obra em andamento, que não admite retrocessos nas medidas adotadas.
Baliza para reformas regressivas
O documento se constituiu na baliza para as reformas trabalhista e previdenciária, o teto de gastos e o arcabouço fiscal, as privatizações da Eletrobrás, da BR Distribuidora, do saneamento, das parcerias público-privadas (PPPs), dos programas de parcerias de investimento (PPIs), das concessões de infraestrutura (portos, aeroportos e estradas), da autonomia do Banco Central etc. São alterações para subordinar o poder público às dinâmicas do mercado financeiro e da agroeconomia de exportação.
A ministra Simone Tebet, do Planejamento, em entrevista à jornalista Míriam Leitão no último 12 de março, mostrou a rota do consenso pretendido para os próximos anos: “Em 2027, seja quem for o próximo presidente, ele não governa com esse arcabouço fiscal sem gerar inflação, dívida pública e detonar a economia. Então nós temos uma janela de oportunidade, que não é agora e nem às vésperas das eleições de 2026”, pois ninguém quer tratar disso às vésperas da disputa, afirma a ministra.
A janela de oportunidade, segundo ela, virá após o pleito, “seja o presidente Lula candidato, seja outro candidato, [a tarefa é] fazer o dever fiscal, cortar gastos, (…) fazer um arcabouço mais rigoroso, que não mate o paciente, mas que garanta sustentabilidade para baixar a dívida, os juros, a inflação e faça a economia crescer”.
Seja qual for o governo eleito, a condução econômica deve permanecer intocada, como se opções de investimentos e alocações de recursos públicos fossem realizadas a partir de obscuras diretrizes “técnicas”, a exemplo do que propagam operadores de mercado e membros da área econômica do governo.
Vale sempre perguntar “Técnicas em favor de quem?”, como observou o cientista político Wanderley Guilherme dos Santos (1935-2019), num pequeno e profético livro intitulado Quem dará o golpe no Brasil?, lançado em 1962. Simone Tebet na prática propõe um golpe consensual entre as grandes forças políticas com representação parlamentar, para engessar a próxima administração.
Diante dessa abrangente somatória de pressões, esforços, consentimentos e concordâncias na aplicação do programa que embalou o golpe contra Dilma, como se pode falar que o traço principal da vida brasileira seja uma “polarização” que não se revela na política econômica?
Grandes interesses intocados
O consenso – e não a polarização – resulta de escolhas feitas para não se colocarem em risco interesses seculares. Em maior ou menor grau, todas elas, nos últimos 30 anos, aprofundaram medidas liberalizantes, enfraqueceram estruturas de Estado nas áreas sociais e de promoção do desenvolvimento.
Ao mesmo tempo, o consenso pela austeridade fiscal é um gerador de tensões e instabilidades, pois implica a sobreposição dos interesses de uma minoria abastada sobre os da maioria da população. Mais do que tudo, sua imposição acima de orientações partidárias geralmente leva governos eleitos com grande expectativa popular a frustrarem suas bases sociais, contribuindo para o senso comum de que “políticos são todos iguais”.
O terceiro governo Lula é resultado da constituição de uma ampla frente política entre contrários, foi essencial para se derrotar a extrema direita, numa situação delicada da vida nacional. Embora a face visível dessa coalizão seja marcada pela presença de lideranças conservadoras, a convergência real envolveu fatia considerável do PIB brasileiro, um amplo espectro partidário, da esquerda à direita tradicional, passando por golpistas de 2016 e setores desgarrados da extrema direita.
No entanto, ao longo do primeiro ano de gestão, ficou claro que a ampla frente tinha como amálgama unificador um severo programa de cortes de gastos, que se aproxima do “Ponte para o futuro”. Embora o governo seja tomado por interesses privados, em especial no Ministério da Educação, que existam compromissos de não se tocar em setores como Forças Armadas, ou em concessões na área de infraestrutura, que sua política externa seja errática e que a política de comunicação siga priorizando relações com a mídia tradicional, com destaque para a Rede Globo, entre outras iniciativas, o governo Lula tem marcadas diferenças com a gestão Bolsonaro, na esfera política. No que toca à democracia, a gestão petista busca se colocar em terreno oposto ao do ex-capitão.
O golpe como ameaça real
Não se podem minimizar as ameaças que rondam o país, desde a tentativa golpista de 8 de janeiro de 2023, até a permanente presença da extrema direita como fenômeno de massas na sociedade. A vitória de Norte a Sul do reacionarismo radical nas eleições municipais de 2024 é expressão desse enraizamento.
Se a polarização não é estrutural nas disputas, qual o motivo da disseminação do ódio e da ameaça autoritária na sociedade? Tudo indica existir uma espécie de briga de torcidas eleitorais nas redes e nas ruas, estimulada e fortalecida por cúpulas partidárias que buscam a todo custo despolitizar as eleições de 2026, tirando de cena uma real disputa de rumos. O confronto entre o que se pode chamar de neoliberalismo progressista e a extrema-direita é uma disputa para se ver quem aplica de forma mais eficiente e com menos conflito social o programa do financismo.
Diante desse dilema, vem a clássica pergunta: o que fazer? Vale destacar que o presidente Lula – como constata com grande apuro o ex-ministro José Dirceu – comanda um governo de centrodireita, sem qualquer expectativa de transformação da estrutura social brasileira. Ainda assim, para a maioria da população, o atual governo é de esquerda e seus principais oponentes estão na direita. É muito difícil que uma candidatura nucleada pelo lulismo seja ultrapassada pela esquerda, tendência de reduzida expressão na sociedade e nos partidos com representação no Congresso.
O enfrentamento eleitoral de 2026, embalado por inteligência artificial, jogo bruto das big techs e tiktoquização programática se dará no terreno da baixaria, das fake news, das pautas carolas, moralistas e repleta de ataques pessoais. É pouco provável que a política esteja no posto de comando das grandes candidaturas. Ao mesmo tempo, há chances mínimas do governo Lula assumir bandeiras claramente de esquerda no que lhe resta de mandato, depois de quase 30 meses de opção neoliberal na economia.
Apesar disso, se a desaceleração planejada pela equipe econômica não sair do controle e se for ampliado algum tipo de alívio material na base da sociedade, será possível enfrentar com chances a extrema direita. Há dois anos havia condições de mudança e o presente poderia ser diferente, mesmo com o crescimento do neofascismo pelo mundo. Antes de 2026 há que se disputar os dias que correm.
Gilberto Maringoni é jornalista e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC (UFABC).