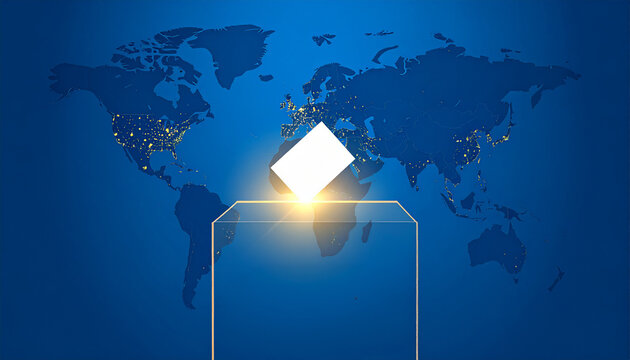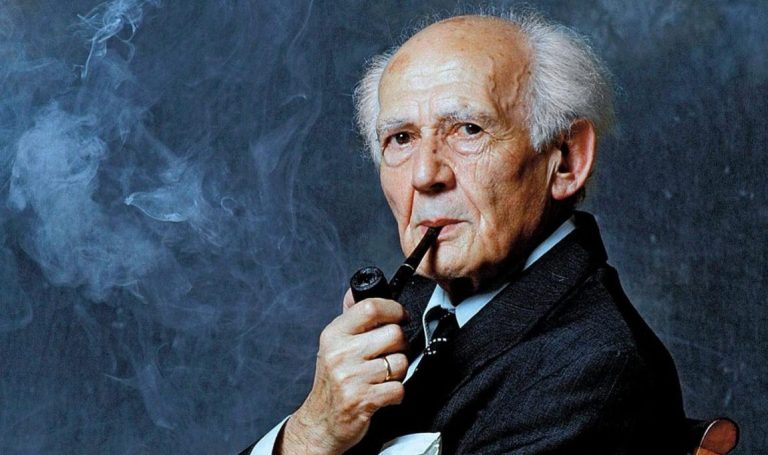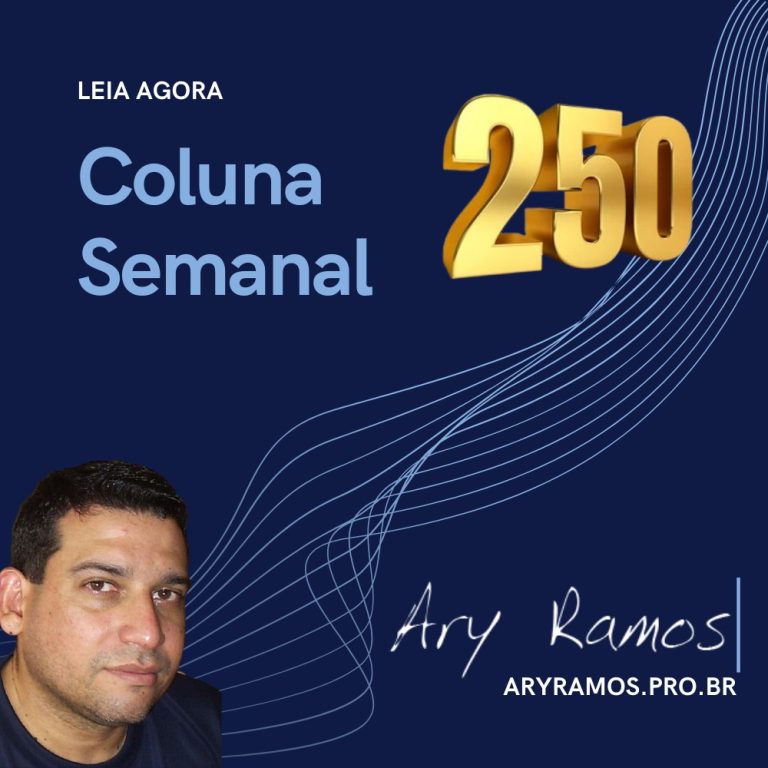O que o terá levado a reconhecer os déficits da esquerda? Uma súbita visão sobre as transmutações do PT? Os rumos que imprimiu a seu governo, há três meses? Examinar a fala pode ser essencial para enfrentar a ultradireita – em 2026 e depois.
Luiz Filgueiras – OUTRAS PALAVRAS – 02/10/2025
No último dia 24/09 o presidente Lula participou na sede da ONU, em Nova York, em uma agenda paralela à Assembleia Geral das Nações Unidas, da segunda edição do evento “Em Defesa da Democracia e Contra o Extremismo”, fórum que busca uma articulação internacional em defesa das instituições democráticas e contra a desinformação, o discurso de ódio e a desigualdade social. Com a participação de 30 países, Brasil, Chile, Espanha, Colômbia e Uruguai estiveram na mesa principal. Nenhum dos organizadores cogitou chamar os EUA, como em 2024, e tampouco a atual administração de Donald Trump demonstrou interesse.
Nessa reunião, Lula fez uma breve fala que me pareceu muito importante, apesar de não ter tido repercussão maior na mídia, nem tampouco nas esquerdas. Ele fez uma autocrítica do que chamou de erros da esquerda, que propiciaram e facilitaram a ascensão da extrema-direita em todo o mundo. E mais especificamente, de forma pouco clara, fez uma autocrítica, não declarada enquanto tal, dos seus governos e dos governos de esquerda mundo afora.
Após elogiar a democracia e o multilateralismo, recuperou um aspecto de sua trajetória política, explicando o que o levou da antipolítica à política, com a criação do Partido dos Trabalhadores. Contou ter constatado, quando de uma visita ao Congresso Nacional, a ausência de trabalhadores nessa instituição democrática. Além disso, recuperou os resultados das eleições de 1989 a 2022, evidenciando o crescimento eleitoral do PT e a possibilidade concreta de chegar ao governo.
Mas é a partir daí que a sua fala se torna realmente importante, quando relembra a criação do Fórum de São Paulo, que reuniu as esquerdas latino-americanas e no qual chamou a atenção para a importância fundamental da organização dos trabalhadores. Esse foi “o gancho” para questionar “o que fazer para defender a democracia, em crise em todo o mundo, e a sua difusão nas massas”; e indagar “onde os democratas e a esquerda erraram e por que a extrema direita cresceu”. Segundo ele, antes de procurar as virtudes do extremismo de direita é preciso identificar os erros que a democracia cometeu.
A sua resposta começa enfatizando que o Partido dos Trabalhadores era organizado (no passado mesmo) em núcleos por local de trabalho, moradia e estudo. Não analisa o porquê disso ter sido abandonado pelo partido, posteriormente, mas pergunta: “o que eu fiz na Presidência da República; o que eu fiz para fortalecer a organização popular e social?”. A sua resposta genérica e sintética, estendida para a esquerda latino-americana: “abandonamos a organização dos trabalhadores e do povo”.
Avançando em sua autocrítica, Lula pergunta: “o que fazemos hoje, como estamos exercendo a democracia em nossos países”? E responde explicitamente que “a gente ganha as eleições com discurso de esquerda e quando começa a governar atende muito mais os interesses de nossos inimigos do que dos nossos amigos”. A preocupação maior é com “a cobrança do mercado e a necessidade de contentar o mercado e os adversários”, além de “dar resposta ao que a imprensa publica sobre nós”.
E surpreendentemente, destaca que “os nossos eleitores, que foram para ruas e apanharam, são considerados por nós como sectários e radicais”; “a gente não dá atenção a eles e dá atenção àqueles que falam mal da gente”. A sua conclusão é clara e direta: o fracasso da democracia se deve ao que “nós deixamos de fazer, aos erros que a democracia cometeu na sua relação com a sociedade civil”. Segundo Lula, reconhecer isso é crucial para não superestimarmos as virtudes do extremismo de direita e termos condições de derrotá-lo.
Nesse curto discurso, ao fazer uma espécie de mea-culpa, Lula resume uma questão essencial para entendermos a ascensão do neofascismo em todo mundo: o “transformismo” dos Partidos Socialistas, Social-democratas e Trabalhistas, iniciado a partir da década de 1980, após a ascensão e hegemonia do neoliberalismo -– primeiro nos países imperialistas, depois nos países periféricos, de capitalismo dependente. A adesão ativa ao ideário do adversário (a direita neoliberal), ou a sua aceitação passiva, criaram um vácuo político na representação dos trabalhadores e do povo. A incapacidade (por várias razões) das correntes mais à esquerda de o preencherem abriu as portas para a ascensão da extrema direita neofascista.
As consequências das reformas e políticas neoliberais, efetivadas em todo mundo durante mais de 30 anos, foram nefastas para a maioria da população: desemprego, precarização do trabalho, pobreza, concentração de renda, instabilidade, insegurança, desânimo e desesperança, crises reiteradas etc. A alternância de governos neoliberais e social-democratas, executando as mesmas políticas e reformas regressivas — e portanto, sem nenhuma diferença substantiva — concomitante ao abandono da crítica ao capitalismo e do projeto socialista pela esquerda, permitiram à extrema direita preencher o vácuo político e se apresentar como “antissistema”: contra a democracia liberal (e suas instituições) e a “globalização”, ambas culpadas por todos os males e o mal-estar generalizado.
E a resposta oferecida pelo neofascismo não é, evidentemente, a superação do “sistema capitalista”. Muito pelo contrário, ele faz a defesa explícita da exploração e dos valores capitalistas, no limite assumindo a ideologia e perspectiva do chamado anarcocapitalismo. Os seus objetivos mais gerais podem ser resumidos a:
- No âmbito dos distintos Estados nacionais, corromper a democracia “por dentro” e, num segundo momento, instalar um regime autoritário de natureza fascista. Para isso, sua ação política, em especial através da chamada “guerra cultural” que instila e difunde pânico político e moral entre as massas, elege diversos inimigos, reais ou imaginários: comunistas, imigrantes, terroristas, feministas (“ideologia de gênero”), comunidade LGBT, petistas, movimento negro, pedófilos, corruptos, ateus, pobres etc.
- No plano internacional, o combate à “globalização” expressa a nova etapa do imperialismo dos EUA e sua crise de hegemonia, convergindo e apoiando o seu ataque ao multilateralismo e às instituições internacionais – criadas e comandadas, a partir do pós-II Guerra Mundial, por esse mesmo imperialismo. Essa convergência, no interior dos países dependentes, dá origem, como no caso brasileiro, à defesa bizarra dos ataques do imperialismo à soberania do Estado nacional.
Há razões objetivas que explicam, parcialmente, o processo de transformismo e o abandono da utopia socialista. São, em especial, a derrota do “socialismo real” no Leste Europeu e a reestruturação produtiva capitalista, alicerçada nas novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) e nas novas formas de organização do processo de trabalho, que reduziram a massa de trabalhadores assalariados industriais e fragmentaram o conjunto da classe trabalhadora, fragilizando os sindicatos e suas demais representações. Mas não se pode constatar e compreender esses fenômenos a partir de uma visão determinista/economicista. A razão fundamental do transformismo deve ser buscada na hegemonia da ideologia neoliberal, que adentrou todas as esferas e instituições das sociedades, submetendo “corações e mentes” e, em particular, capturando a vanguarda e as direções (lideranças) de partidos de esquerda e demais representações dos trabalhadores. Estas passaram a considerar, na prática, as reformas e políticas do neoliberalismo como inevitáveis, o único caminho possível pós-derrota do “socialismo real”.
No Brasil, os anos 1990 marcam a vitória do neoliberalismo (fomos o último país da América Latina a assumi-lo) e, ao mesmo tempo, o início do processo de transformismo do Partido dos Trabalhadores. Ele involuiu de um partido socialista atuando na ordem mas contra ela para um partido da ordem. Assumiu, paulatinamente, todas as características dos partidos tradicionais, abandonando os núcleos como forma de organização (substituídos pelos enclaves corporativos de comitês de parlamentares), fazendo da atuação institucional (em especial as eleições) o centro de suas preocupações e da vida partidária, estreitando laços com o capital para o financiamento das campanhas eleitorais, descartando os seus objetivos estratégicos (de mudanças estruturais) e abandonando a crítica do capitalismo (mesmo que apenas no discurso). Esta foi substituída pela ideologia desenvolvimentista (na prática um arremedo do antigo nacional-desenvolvimentismo dos anos 1930-1950 e, posteriormente, o desenvolvimentismo associado ao imperialismo). O resultado disso tudo foi a burocratização das instâncias partidárias, a mudança de composição de seus quadros, a perda de capacidade de mobilização popular e, por fim, o surgimento do “lulismo” – tão bem identificado e explicado por André Singer como uma espécie de bonapartismo que substituiu a oposição capitalversustrabalho pela oposição ricos versus pobres. Estes últimos com tendências conservadoras e sem capacidade de representação própria, a ponto de projetarem no Bonaparte a defesa de seus interesses.
Penso que essa fala de Lula foi influenciada pela ameaça do retorno ao governo da extrema direita (a eleição do próximo ano) e, principalmente, pela mudança da correlação de forças iniciada há três meses. Foi então que o governo trouxe para a sociedade – tirando a exclusividade do Parlamento –, o debate sobre a questão tributária (isenção do Imposto de Renda para os que ganham até R$ 5 mil e aumento da taxação dos mais ricos e das grandes fortunas) e a questão da jornada de trabalho (a adesão e apoio à campanha pelo fim da escala 6X1) – com forte utilização das redes sociais. Posteriormente, com a agressão de Trump ao Brasil, em especial contra o Supremo Tribunal Federal (exigindo a suspensão do processo contra Bolsonaro, como condição para retirar a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros importados pelos EUA), a conjuntura tornou-se ainda mais favorável ao governo Lula e às esquerdas. Possibilitou-lhes assumir a linha de frente da defesa da democracia e da soberania nacional, empurrando a extrema-direita para a defensiva.
Mais recentemente, as grandes mobilizações ocorridas em todo país, contra a PEC da bandidagem aprovada pela Câmara de Deputados e a proposta de anistia aos golpistas condenados pelo STF, expressaram de forma cabal a mudança da conjuntura. Ela alcançou também o parlamento, com a Comissão de Constituição de Justiça do Senado arquivando por unanimidade essa PEC e, ao mesmo tempo, evidenciando também uma correlação de forças desfavorável à aprovação de qualquer tipo de anistia aos golpistas. Fatores que, por sua vez, reforçam a necessidade de as forças políticas de esquerda e democráticas continuarem vigilantes e mobilizadas, para que se possa impor mais uma derrota à extrema direita.
E culminando todo esse processo de mudança da correção de forças, a Câmara de Deputados aprovou em 1º/10, por unanimidade, a isenção do Imposto de Renda para os que ganham até 5 mil reais por mês, além de uma isenção parcial para os que ganham entre 5 e 7,35 mil reais (16 milhões de brasileiros). Como compensação pela redução da receita do governo, haverá aumento da taxação dos mais ricos, que ganham a partir de 600 mil reais por ano. Com isso, além de se dar início a uma maior justiça tributária, o famigerado “ajuste fiscal” não será feito – pela primeira vez há muitos anos – por meio da redução dos gastos sociais e nem onerando os segmentos sociais de menor renda.
Em suma, o governo saiu das cordas e passou à ofensiva. O discurso de Lula não alterará, no fundamental, o caráter do PT no curto prazo, nem resolverá as contradições do terceiro governo do presidente. Mas o importante é que ele rema a favor da conjuntura mais favorável e sinaliza que há uma compreensão, que tende a disseminar-se, de que as esquerdas e o governo têm que voltar a defender as suas pautas/bandeiras estruturais e a organizar e mobilizar suas bases sociais, como condição de sobrevivência. A renúncia à crítica do capitalismo e o enclausuramento da disputa política exclusivamente no Parlamento e no Judiciário não são caminhos para derrotar o neofascismo neoliberal (ou o neoliberalismo neofascista). Foi preciso “o nível da água chegar ao pescoço” para essa obviedade ficar evidente.
Por fim, está cada vez mais claro que a prioridade do combate à extrema direita não pode se descolar do combate ao neoliberalismo, pois estão ambos cada vez mais unidos contra a democracia, a destruição dos direitos sociais-trabalhistas e a subordinação ao imperialismo. A natureza autoritária do neoliberalismo, já anunciada em 1944 por Hayek em seu livro O caminho da servidão (ao defender a prioridade da “liberdade” do capital em relação à democracia) e no seu apoio, na década de 1970, ao regime fascista e à ditadura de Pinochet no Chile, escancarou-se de vez na nova fase do capitalismo e do imperialismo: um regime de acumulação mundial sob a dominância financeira. A democracia tornou-se, definitivamente, um estorvo para o capitalismo financeirizado. A sua defesa e permanência, com um caráter cada vez mais favorável às classes trabalhadoras e à maioria da população, passou a ser responsabilidade, essencialmente, das forças de esquerda e democráticas.