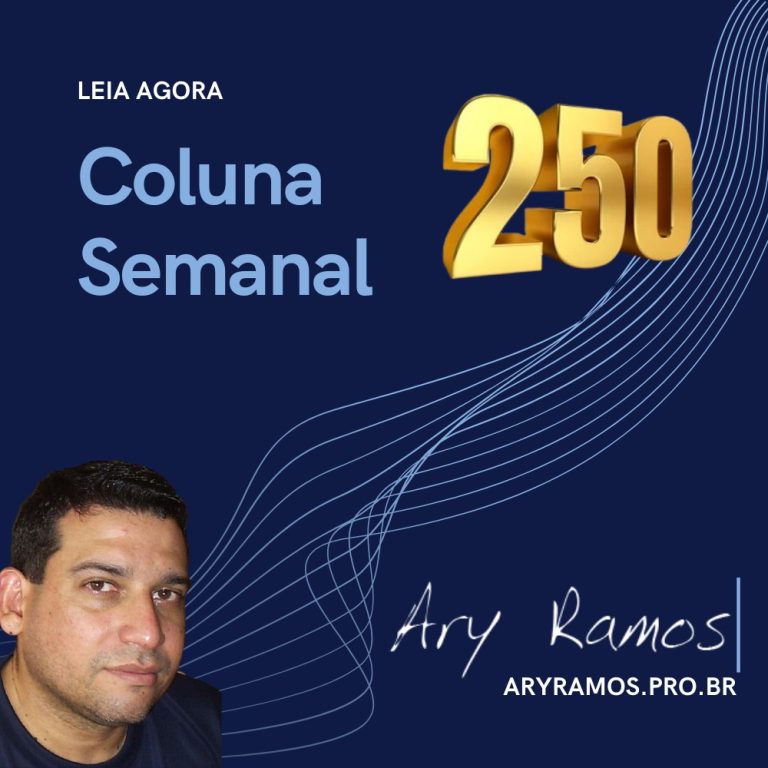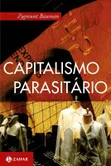Sérgio Botton Barcellos – A Terra é Redonda – 06/09/2025
A reforma administrativa não é apenas uma questão de gestão tecnocrática ou de ajuste fiscal, mas um projeto que toca diretamente na estrutura do Estado brasileiro e o modo como ele pode garantir direitos sociais
O debate sobre a reforma administrativa (PEC 32/2020) que estava em voga, em um período histórico mais recente, entre os anos de 2019 e 2022, voltou com força em 2025, por meio de um grupo de trabalho (GT) no Congresso que avança com baixa clareza, diálogo público restrito e indefinições sobre vínculos, estabilidade e carreiras.
Conforme noticiado amplamente na mídia no dia 25 de agosto é anunciado que a reforma administrativa entra na pauta prioritária da Câmara, afirma Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, é reforçado o status central dessa agenda política no Congresso e sinaliza um avanço pressionado, mesmo diante das diversas críticas na atual conjuntura vivida no Brasil, o que agrava os riscos de avanços legislativos de caráter austero e tecnobutrocrático, apressados e feitos sem a discussão apropriada e igualitária com todos os atores envolvidos.
Não nos enganemos, sobretudo a reforma administrativa, sob a ótica do mercado e da iniciativa privada, representa um esforço para reconfigurar o Estado brasileiro em função de interesses econômicos dominantes. Digamos que é uma entrega que determinados setores da elite vinculados ao setor empresarial e financeiro estão pedindo ao governo e ao congresso.
A proposta de reduzir a presença do Estado como executor direto de políticas sociais e aumentar a sua função reguladora mínima está em consonância com a lógica neoliberal consolidada desde os anos 1990. Bresser-Pereira, ao discutir a Reforma Gerencial do Estado, já apontava que a noção de eficiência e a ideia de administração pública orientada por resultados se tornaram centrais em um momento de ajuste estrutural e de pressão de organismos internacionais como Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI) etc.
Essa lógica de eficiência, no entanto, se traduziu em redução da estrutura estatal, flexibilização de vínculos de trabalho e abertura de espaços de mercado para empresas privadas em setores tradicionalmente públicos como a educação, saúde, ambiente etc.
David Harvey, em sua análise sobre o neoliberalismo destacou que esse modelo não se limita a um conjunto de medidas econômicas, mas corresponde a um projeto político de redistribuição de poder e de riqueza em favor de elites políticas e econômicas. A reforma administrativa brasileira está sendo construída porque, ao flexibilizar – o quê na verdade é precarizar – a estabilidade e as formas de acesso ao serviço público, amplia as condições de captura do Estado por interesses privados e reduz a autonomia técnica de servidores(as). Esse movimento tem como fim, apesar dos discursos e malabarismos semânticos, o enfraquecimento da capacidade estatal de regular mercados, manter e fiscalizar atividades estratégicas e garantir direitos universais a sociedade.
Em Souza (2017) há uma dimensão sociológica a ser considerada nessa discussão que é o pacto das elites brasileiras em torno da manutenção de privilégios e da reprodução de desigualdades históricas e estruturais. Supostas reformas como a administrativa não atacam os privilégios localizados no topo do funcionalismo e nos mecanismos de reprodução das classes dominantes, nem mesmo os(as) servidores(as) que não cumprem suas responsabilidades e obrigações funcionais.
Se concentram na base, onde estão a maioria dos(as) servidores(as) que garantem direitos sociais fundamentais. Assim, a narrativa da modernização e do combate a supostos privilégios se revela, na prática, um mecanismo de precarização do serviço público e de transferência de funções para o setor privado, reforçando a desigualdade e aprofundando a dependência do Estado em relação a interesses empresariais e alheios ao conjunto da sociedade que mais necessita de serviços públicos.
O mercado e a iniciativa privada objetivam na reforma administrativa uma oportunidade de expandir a terceirização e as parcerias público-privadas, capturar fatias do orçamento público e obter maior influência sobre políticas e regulações. A estabilidade e os concursos, que funcionam como barreiras republicanas contra o clientelismo, são mais enfraquecidos, abrindo caminho para contratações temporárias para as carreiras que não são consideradas típicas de Estado.
Isso tornará nomeações e seleções no serviço público tendencialmente mais suscetíveis a pressões políticas e econômicas. Nesse cenário, o Estado se torna menos capaz de coordenar políticas de longo prazo, mais vulnerável a ciclos eleitorais, interesses de famílias tradicionais na política para nomeação em cargos e a interesses privados nacionais e internacionais de curto prazo, e mais dependente de soluções privadas que, longe de serem universais, são orientadas pela lógica da lucratividade, eficiência alheia aos interesses da maioria da sociedade e a manutenção da desigualdade estrutural.
Ou seja, a reforma administrativa que está em pauta no Congresso não é algo apenas de interesse do funcionalismo público, mas da sociedade brasileira no que tange a acesso e garantia a direitos sociais básicos e a construção de direitos universais.
Notas técnicas de sindicatos, organizações e movimentos sociais
Além disso, de imediato o que se percebe é que a justificativa para fazer a reforma o ponto de vista fiscal, a promessa de “economia estrutural”, que está alicerçado no projeto do governo Lula 3 que é o arcabouço fiscal, carece de base consistente: a Nota Técnica n° 69/2021 da Consultoria de Orçamento do Senado apontou que os efeitos da PEC 32 eram, na melhor das hipóteses, incertos e limitados, e sugeriu medidas alternativas mais eficazes para qualificar os gastos com pessoal.
A ANFIP reforçou à crítica, alertando que a proposta poderia agravar o panorama fiscal ao desorganizar capacidades essenciais de arrecadação, fiscalização e planejamento.
As análises do DIEESE apontam que a reforma desloca o foco da gestão pública consolidada para a precarização dos vínculos e o enfraquecimento de garantias republicanas. A Nota Técnica número 254/2021 demonstrou que a combinação de novas contratações, instabilidade e discricionariedade em carreiras compromete acesso e qualidade dos serviços, sobretudo nas áreas de saúde, educação e assistência.
Dois artigos recentes aprofundam essa crítica. Primeiro, o texto “A quem interessa a Reforma Administrativa?” expõe que o discurso de que o serviço público seria “inchado” e ineficiente é um mito que, repetido insistentemente, legitima cortes e flexibilizações, embora os desperdícios de fato estejam em segmentos mais privilegiados e não na base do funcionalismo. No outro artigo “Os riscos da Reforma Administrativa” ainda há o alerta “A reforma de que o Brasil precisa é aquela que serve à maioria da população, especialmente às pessoas que dependem de bens e serviços públicos de qualidade. Em outras palavras, o Brasil necessita de um Estado de bem-estar social, uma economia verde e digital e uma democracia resiliente.”
Um outro vetor de preocupação está no uso da remuneração por produtividade como solução simplista. Em outra análise alerta-se que, ao tentar medir produtividade em serviços públicos complexos, incentiva-se o “jogo de indicadores”, priorizam-se tarefas mensuráveis em detrimento do essencial, corroem-se as cooperações e fomentam-se práticas de curto prazo. Essas medidas tendem a deslocar prioridades públicas, aprofundar desigualdades territoriais e prejudicar a eficácia do serviço público.
Ou seja, somando-se esses elementos, a contradição se torna clara: a proposta de reforma reflete um ideal de eficiência e economia, mas destrói capacidades estatais, sem enfrentar privilégios factuais, históricos e estruturais, oferecendo na prática um Estado desmantelado e menos capaz de coordenar políticas de longo prazo em um momento em que o país carece de planejamento para enfrentar crises geopolíticas, sociais, econômicas e climáticas.
Isto é, não faz sentido para a maioria da sociedade brasileira uma reforma administrativa que não seja no sentido de fortalecer o Estado em suas diretrizes para promover práticas de gestão administrativa e de pessoas com foco na resolução de gargalos reais como políticas públicas orientadas por dados e indicadores sociais públicos, não por interesses de deputados(as) e senadores(as) via emendas, por investimento em tecnologia, nos processos, na execução orçamentária, coordenação e na gestão com base na soberania popular.
O governo Lula 3 diante da Reforma administrativa
A posição do governo Lula 3 diante da reforma administrativa é marcada por ambiguidade e contradições, o que pode ser visto na recente entrevista concedida por Esther Dweck, ministra do MGI. Desde a transição em 2023, o governo adotou um discurso de que não retomaria a PEC 32 apresentada no governo anterior, considerada uma proposta abertamente hostil ao serviço público.
O discurso oficial afirmava que qualquer debate sobre modernização da gestão pública deveria ser construído com diálogo e com foco na valorização do servidor. No entanto, com o avanço das negociações no Congresso em 2025, o Planalto não se colocou frontalmente contra a retomada da reforma e, em diferentes momentos, ministros da área econômica e da Casa Civil sinalizaram disposição em negociar pontos com a base congressual.
Esse movimento revela uma tática para demonstrar compromisso com o projeto de governo que é o arcabouço fiscal e com a agenda de responsabilidade exigida pelo mercado, mas cria uma posição ambígua: de um lado, o governo nega a reforma nos termos originais da PEC 32, de outro aceita discuti-la para atender pressões políticas e fiscais.
Essa postura coloca em evidência a contradição entre a base social e a base política do governo. Os sindicatos, as centrais e os movimentos sociais que foram pilares históricos de apoio a Lula se manifestam de forma contundente contra a reforma, denunciando riscos de precarização do serviço público. Por outro lado, os partidos que compõem o centrão e setores empresariais, fundamentais para a carcomida governabilidade, pressionam pela aprovação de uma pauta de modernização do Estado e tratam a reforma administrativa como prioridade.
Essa tensão revela o dilema do governo que já está em modo campanha eleitoral: se assumir a defesa plena de sua base social pode enfrentar custos no Congresso, mas se ceder à pressão congressual corre o risco de se distanciar de sindicatos e movimentos.
O discurso oficial de modernização busca suavizar o debate, enfatizando termos como digitalização de processos, carreiras mais atrativas e racionalização administrativa. A ambivalência atual repete contradições já observadas em outras agendas do Lula 3, como na política ambiental, na questão agrária e na política fiscal, com a promessa de priorizar direitos sociais ao mesmo tempo em que se mantém um arcabouço fiscal restritivo que engessa o orçamento.
As consequências dessa postura podem ser múltiplas. Para os(as) servidores(as) públicos(as), o governo pode perder legitimidade relativa ao assumir posturas ambíguas e contraditórias ao não ter um projeto estratégico de país, inclusive para o serviço público, além do arcabouço fiscal.
Para a governabilidade, a concessão a pressões do centrão pode garantir vitórias momentâneas, tende a enfraquecer o capital político diante de sua base social tradicional. Para o nosso esboço de democracia, há o risco de que um governo eleito com a promessa de recompor o Estado, após o desmonte bolsonarista, acabe por entregar uma agenda que mantém e amplia a lógica neoliberal de austeridade e desmonte institucional.
Chama-se atenção que os aspectos que têm respaldo da sociedade para mudanças, como as assimetrias de remuneração entre os três poderes e a aposentadoria dos militares não são pautados por parte do discurso oficial do governo e muito menos na relatoria da PEC.
Bom, a ver os próximos desdobramentos das articulações do governo Lula 3 junto as bancadas do Congresso Nacional, com a Faria Lima e demais setores privados interessados na reforma administrativa.
As centrais sindicais
Um aspecto fundamental do atual debate até o momento pode ser a mobilização sindical. A oportunidade e o espaço estão aí para serem ocupados. Diferentes entidades têm se articulado debates e formas de barrar a reforma administrativa. O Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe), a Conferência dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), entre outros, têm organizado agendas para discutir a proposta.
Além da mobilização de base, os sindicatos têm investido em pressão parlamentar. Centrais sindicais como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e a Intersindical têm promovido campanhas, a seu jeito e com suas limitações conjunturais e políticas, debatendo os mitos de que o Estado brasileiro estaria “inchado” ou que os servidores “ganham muito”. Dados sistematizados mostram que o número de servidores no Brasil é proporcionalmente menor que a média da OCDE e que a maioria das carreiras de base recebe salários abaixo da média das ocupações de nível superior.
O desafio de construir mobilizações de grande lastro, contudo, permanece no sentido de: (i) superar a fragmentação e as contradições internas entre categorias e entidades sindicais devido à proximidade ou distanciamento político e partidário com o governo; (ii) disputar a opinião pública contra o discurso de modernização e privilégios generalizados propagado pela mídia hegemônica; e (iii) enfrentar a pressão de setores privados que colocam a reforma como prioridade imediata no Congresso.
O que fazer?
Parece que a conjuntura impõe que precisamos nos mobilizar o quanto antes diante da reforma administrativa porque o processo legislativo relativo a essa proposta tende a ser rápido, marcado por negociações intensas no Congresso e com baixo nível de participação popular. A experiência recente com outras reformas estruturais, como a previdenciária em 2019 e a trabalhista em 2017, mostra que, quando a mobilização social ocorre apenas depois do avanço do texto, as possibilidades de barrar retrocessos ou de introduzir mudanças significativas e de interesse popular ficam muito reduzidas.
Fora que nos processos de votação nos plenários os textos são alterados e podem ser colocados “jabutis” passando por cima do acúmulo de discussões feitas anteriormente. Por isso da necessidade de constante articulação e vigilância popular junto ao Congresso antes que decisões de grande impacto nessa reforma sejam tomadas a portas fechadas.
A reforma administrativa não é apenas uma questão de gestão tecnocrática ou de ajuste fiscal, mas um projeto que toca diretamente na estrutura do Estado brasileiro e o modo como ele pode garantir direitos sociais. Até porque, diante da desigualdade social estrutural brutal que temos no Brasil, a máquina pública brasileira necessita ser ampliada para assegurar dignidade à população e direitos universais como educação, saúde, ambiente, moradia, transporte público etc.
Parece que o quanto antes sindicatos, movimentos sociais, entidades acadêmicas e organizações da sociedade civil se articularem, maior será a capacidade de disputar narrativas, de esclarecer a população sobre os efeitos concretos da reforma, de pressionar parlamentares e mobilizar manifestações de peso para que haja um amplo debate na sociedade sobre a reforma administrativa e os seus efeitos.
Sérgio Botton Barcellos é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).