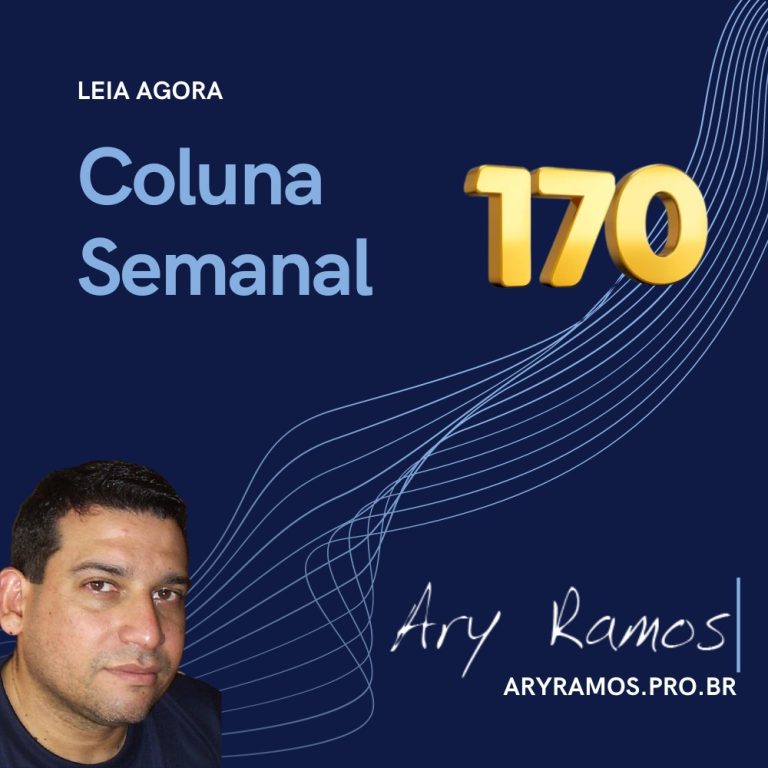Fernando Nogueira da Costa – A Terra é Redonda – 03/06/2024
O neofascismo é mais velado em suas expressões de racismo e autoritarismo, utilizando as mídias sociais para difundir suas mensagens e conectar seguidores globalmente
fascismo italiano e o nazismo alemão emergiram e se consolidaram em repúblicas democráticas, aproveitando-se contextos de graves crises econômicas, sociais e políticas. Essas crises criaram um ambiente propício para movimentos autoritários ganharem apoio eleitoral e tomarem o poder. Depois, destruíram a democracia.
Valer recordar, sinteticamente, os fatores específicos para o sucesso eleitoral e subsequente consolidação de poder por parte do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. O neofascismo ameaça em vários Estados contemporâneos, onde a extrema direita se organizou por meio de rede sociais, religiosas e policiais-militares, inclusive no Brasil: temos de aprender com a lamentável história.
A Itália, apesar de ter ficado do lado vitorioso na Primeira Guerra Mundial, sofreu grandes perdas humanas e materiais. O país sentiu-se traído pelo Tratado de Versalhes, porque não atendeu plenamente às suas aspirações territoriais.
A economia italiana estava em ruínas, com alta inflação, desemprego em massa e agitação social, incluindo greves e ocupações de fábricas por trabalhadores. O sistema político italiano era frágil, com uma série de governos de coalizão ascendendo e colapsando rapidamente. A incapacidade dos governos democráticos de lidar com os problemas econômicos e sociais aumentou o descontentamento popular.
Benito Mussolini e seu Partido Nacional Fascista usaram táticas de intimidação e violência paramilitar (por meio dos “camisas negras”) para criar um clima de medo e desordem. Em outubro de 1922, Benito Mussolini organizou a Marcha sobre Roma, uma demonstração de força para pressionar o rei Vítor Emanuel III a nomeá-lo como primeiro-ministro.
Uma vez no poder, Benito Mussolini rapidamente tomou medidas para consolidar seu controle. Ele obteve poderes de emergência, suprimindo a oposição e transformando a Itália em um Estado de partido único. A propaganda fascista e a repressão violenta de adversários políticos garantiram Mussolini manter-se no poder até a Segunda Guerra Mundial.
A Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, foi severamente punida pelo Tratado de Versalhes, resultando em perdas territoriais, desmilitarização e pesadas reparações de guerra. Isso gerou um profundo ressentimento entre a população alemã.
A humilhação nacional e a percepção de traição (“a lenda da punhalada nas costas”) foram exploradas por grupos nacionalistas em ambiente econômico propício à sublevação. A hiperinflação no início dos anos 1920 e a Grande Depressão a partir de 1929 devastaram a economia alemã, causando desemprego em massa, pobreza e desespero generalizado.
A incapacidade da República de Weimar de lidar eficazmente com a crise econômica e a instabilidade política levou a uma perda de confiança nas instituições democráticas. Temia-se uma rebelião em massa, dada a revolta popular.
O Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP), liderado por Adolf Hitler, capitalizou o descontentamento popular com promessas de restauração da grandeza alemã, revogação do Tratado de Versalhes e recuperação econômica.
Em eleição realizada em 1932, o NSDAP se tornou o maior partido no Reichstag, mas não obteve a maioria absoluta. Em janeiro de 1933, após uma série de manobras políticas e pressão das elites conservadoras, Adolf Hitler foi nomeado chanceler pelo presidente Paul von Hindenburg.
Após o incêndio do Reichstag, em fevereiro de 1933, Hitler usou o evento como pretexto para suspender liberdades civis e prender opositores políticos. A Lei de Plenos Poderes, aprovada em março de 1933, permitiu a Hitler governar por decreto, efetivamente estabelecendo uma ditadura.
A repressão violenta de adversários, a criação de um Estado policial e a propaganda intensa consolidaram o controle nazista sobre a Alemanha.
Tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão emergiram em contextos de crise extrema, onde as instituições democráticas eram vistas como incapazes de resolver os problemas da sociedade.
Em ambos os casos, líderes carismáticos utilizaram táticas de intimidação, violência e propaganda para obter apoio popular.
Porém, uma vez no poder, rapidamente desmantelaram as estruturas democráticas para estabelecer regimes autoritários. A combinação de desespero econômico, instabilidade política e ressentimento nacional criou as condições para a ascensão desses movimentos autoritários.
O nazifascismo e o neofascismo contemporâneo compartilham algumas semelhanças ideológicas e táticas, mas também apresentam diferenças significativas, devido às mudanças nos contextos históricos, sociais e políticos. Apresento abaixo uma análise esquemática das semelhanças e diferenças entre esses movimentos.
(i) Nacionalismo extremado: ambos os movimentos enfatizam um forte nacionalismo, frequentemente acompanhado por um sentimento de superioridade nacional e xenofobia. (ii) Autoritarismo: tanto o nazifascismo quanto o neofascismo advogam por um governo autoritário, rejeitando o liberalismo, a democracia representativa e as liberdades civis. (iii) Culto à personalidade: os dois movimentos promovem líderes carismáticos vistos como “salvadores da pátria”, necessitando de poder quase absoluto para realizar suas visões.
(iv) Uso da violência e intimidação: a violência e a intimidação contra opositores políticos, minorias e outras comunidades marginalizadas são comuns em ambos os movimentos com uso de grupos paramilitares e milícias para esses fins. (v) Propaganda e controle da mídia: no uso da propaganda para manipular a opinião pública e controlar a narrativa política, a mídia é atacada e desacreditada.
Mas há diferenças entre Nazifascismo e Neofascismo Contemporâneo: (a) Contexto histórico: o nazifascismo surgiu na Europa no período entre as duas guerras mundiais, em um contexto de crise econômica, instabilidade política e ressentimento pós-Primeira Guerra Mundial; o neofascismo emergiu após a Segunda Guerra Mundial e, especialmente nos últimos anos, em resposta a crises econômicas, globalização, imigração em massa e mudanças sociais rápidas.
(b) Foco ideológico: o nazismo, em particular, era centrado no racismo biológico e no antissemitismo extremo, promovendo a ideia de uma “raça superior ariana”, mas o fascismo italiano também era nacionalista e imperialista, embora com menor ênfase racial diante do nazismo; o neofascismo contemporâneo, ainda xenófobo, expressa sua islamofobia e racismo, na oposição à imigração e em um nacionalismo cultural, além de usar a retórica da “defesa da civilização ocidental” contra o multiculturalismo.
(c) Estratégias e táticas: o nazifascismo tomou o poder através de golpes de estado ou manipulação de sistemas democráticos e rapidamente estabeleceu regimes totalitários com controle total sobre o Estado; o neofascismo usa mais táticas de infiltração dentro dos sistemas democráticos existentes, tentando influenciar políticas através de partido(s) político(s), movimentos sociais e meios de comunicação, sendo mais adaptável às leis democráticas ao operar dentro das fronteiras da legalidade para evitar repressões enquanto não ascende ao poder – depois altera seu comportamento.
(d) Tecnologia e comunicação: o nazifascismo utilizava os meios de comunicação de massa disponíveis na época, como rádio, cinema e imprensa; o neofascismo explora a internet e as redes sociais para disseminar sua ideologia, recrutar membros e organizar ações, tornando-se muito mais eficaz em termos de alcance e mobilização rápida.
Portanto, o nazifascismo, incluindo tanto o fascismo italiano de Benito Mussolini quanto o nazismo alemão de Adolf Hitler, e o neofascismo contemporâneo compartilham algumas semelhanças ideológicas e de estilo. Mas também apresentam diferenças significativas devido a mudanças históricas, sociais e políticas.
O neofascismo mantém um forte nacionalismo com foco na identidade nacional e na oposição à imigração e à globalização. Sua xenofobia e racismo transparece de forma mais velada.
Promove ideias autoritárias, como a centralização do poder, restrição das liberdades civis, e uma ênfase na lei e ordem. De maneira anacrônica, expressa sua ideologia de extrema-direita ao se opor à esquerda como ela ainda fosse adepta do comunismo (ou socialismo real), utilizando a retórica da ultrapassada Guerra Fria para mobilizar apoio.
O neofascismo continua a adotar estratégias populistas, apresentando-se como “a voz do povo comum” contra as elites corruptas. Defende o armamentismo e políticas demagógicas, em suposto benefício de sua base de apoio, insustentáveis em longo prazo.
As maiores diferenças entre nazifascismo e neofascismo dizem respeito aos distintos contextos históricos e sociais. O neofascismo surge em um contexto de globalização, crises econômicas contemporâneas, imigração em massa, e a ascensão das mídias sociais. As ameaças percebidas e as questões centrais são diferentes das do período entreguerras.
Embora inclua elementos de racismo e xenofobia, tenta evitar a retórica explicitamente racista e antissemita do nazismo por ela ser considerada crime em países atentas para seu mal. Em lugar dela, foca em retórica anti-imigração e islamofóbica, disfarçada de preocupações culturais e de segurança.
Como estratégias de comunicação, o nazifascismo utilizou propaganda estatal centralizada, rádio, jornais e eventos públicos para mobilizar apoio. O neofascismo utiliza extensivamente as mídias sociais e a internet para espalhar suas ideias, mobilizar seguidores e organizar eventos. A descentralização e a natureza viral das mídias sociais permitem uma disseminação mais rápida e ampla das ideias neofascistas.
Ele se organiza de forma menos hierárquica e mais descentralizada, se comparado às milícias paramilitares como os SA e SS na Alemanha nazista. Brota de grupos informais, movimentos online e partidos políticos com negação de ser fascistas, embora adotem ideologia de extrema direita.
Embora se apresente como nacionalista, ele se conecta internacionalmente com essa extrema-direita através de redes online. Compartilha suas táticas e retóricas, mas sem as mesmas ambições imperialistas explícitas do nazifascismo.
Embora o neofascismo contemporâneo compartilhe várias características ideológicas e táticas com o nazifascismo histórico, ele opera em um contexto significativamente diferente. Por isso, adaptou suas estratégias de comunicação, organização e retórica para se ajustar às realidades políticas e sociais do século XXI.
O neofascismo tende a ser mais velado em suas expressões de racismo e autoritarismo, utilizando as mídias sociais para difundir suas mensagens e conectar seguidores globalmente. A evolução dos meios de comunicação e as mudanças nas condições socioeconômicas moldaram a maneira como essas ideologias são promovidas e percebidas hoje.
*Fernando Nogueira da Costa é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de Brasil dos bancos (EDUSP).