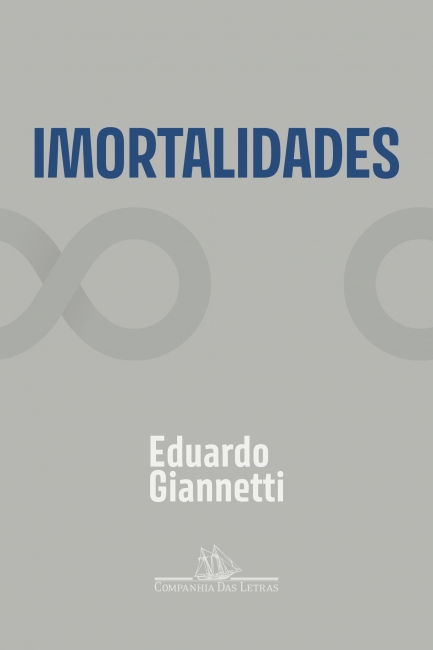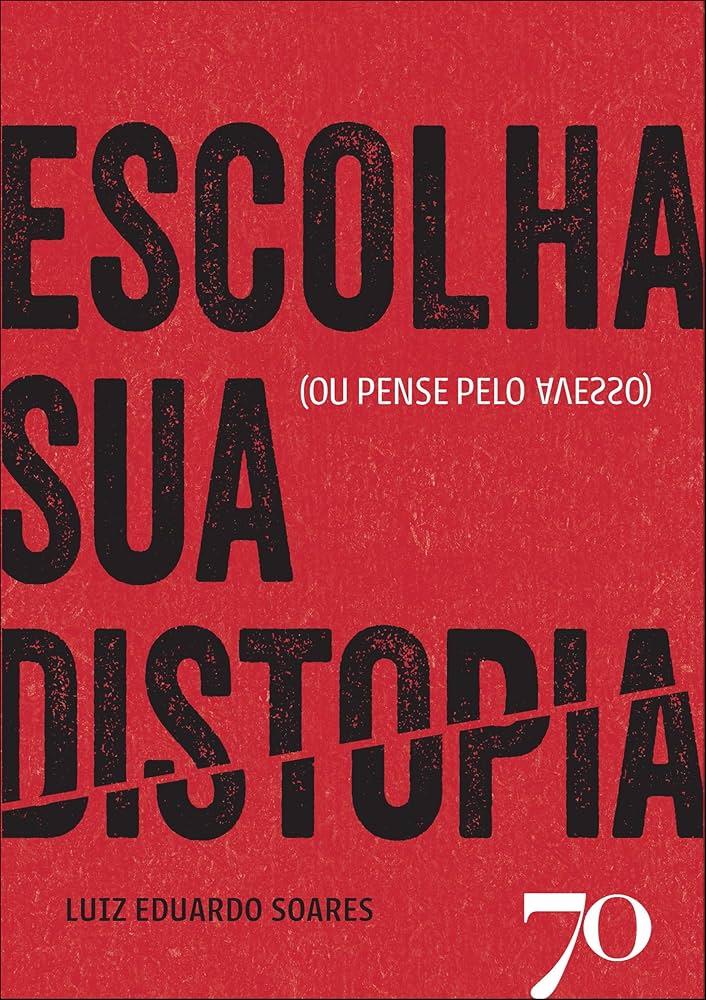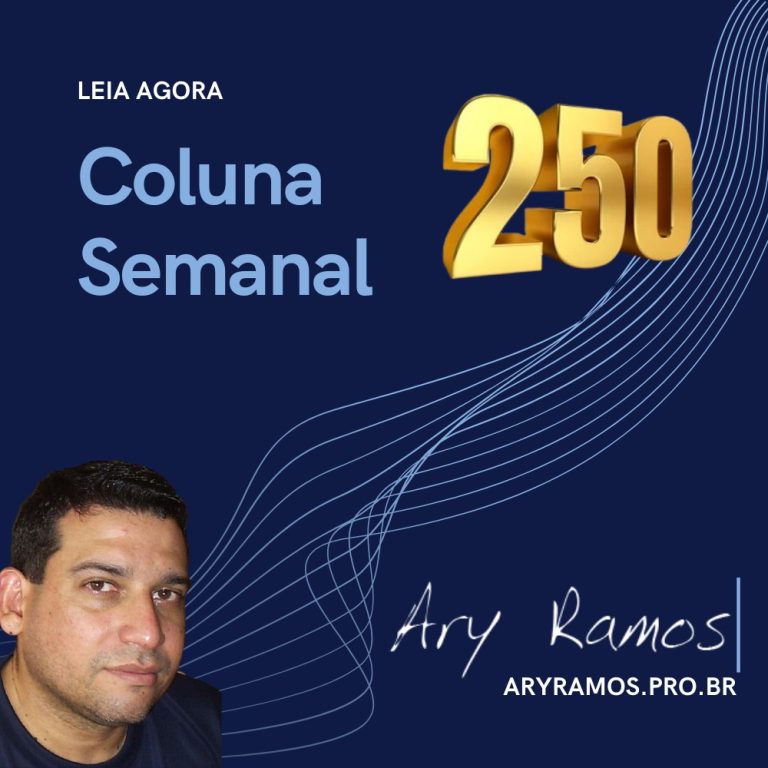Instituto Humanitas Unisinos – 28/08/2019
A vida nos Estados Unidos – o país mais rico da história mundial – não tem motivo para ser assim. As intermináveis guerras, mortes por desespero, taxas de mortalidade em aumento e violência armada fora de controle deste país não surgiram do nada.
Nesta transcrição exclusiva emitida por Alternative Radio, o intelectual público Noam Chomsky aborda as raízes da cultura das armas, o militarismo, a estagnação econômica e a crescente desigualdade nos Estados Unidos.
A entrevista é de David Barsamian Truthout, publicada por El Salto, 23-08-2019. A tradução é do Cepat.
Eis a entrevista.
Você conecta, em algum momento, a violência exterior dos Estados Unidos com o que está ocorrendo internamente com todos os tiroteios e matanças?
Os Estados Unidos são um país muito estranho. Do ponto de vista de sua infraestrutura, os Estados Unidos muitas vezes parecem um país do “Terceiro Mundo”… Não para todo mundo, claro. Há pessoas que dizem: “Bom, vale, irei em meu jato ou helicóptero particular”. Caminhe por qualquer cidade estadunidense. Estão caindo aos pedaços. A Sociedade Estadunidense de Engenheiros Civis confere aos Estados Unidos, periodicamente, um D – o ranking mais baixo – em infraestrutura.
Este é o país mais rico da história mundial. Possui enormes recursos. Tem vantagens que são simplesmente incomparáveis, recursos agrícolas, recursos minerais, um território enorme, homogêneo. Você pode voar 3.000 milhas [4.800 km] e pensar que está no mesmo lugar onde começou. Não há nada parecido em todo o mundo. De fato, há êxitos, como boa parte da economia de alta tecnologia, substancialmente baseada no Governo, mas real.
Por outro lado, é o único país no mundo desenvolvido em que a mortalidade, de fato, está aumentando. Isso é algo simplesmente desconhecido nas sociedades desenvolvidas. Nos últimos anos, a expectativa de vida caiu nos Estados Unidos. Há estudos de dois importantes economistas, Anne Case e Angus Deaton, que analisaram meticulosamente os números de mortalidade.
Resulta que no grupo de idade aproximadamente entre 25 e 50, o grupo de idade trabalhista dos brancos, a classe trabalhadora branca, há um aumento das mortes, o que chamam de “mortes por desespero”: suicídio, overdoses por opiáceos, etc. Estima-se cerca de 150.000 mortes ao ano. Não é algo trivial. O motivo, geralmente assumido, é a estagnação econômica, desde Reagan. De fato, este é o grupo que entrou no mercado de trabalho por volta do início dos anos 1980, quando os programas neoliberais começaram a ser instituídos.
Isto levou a um enfraquecimento do crescimento. O crescimento não é o que era antes. Há crescimento, mas altamente concentrado. A riqueza se tornou extremamente concentrada. Agora, segundo os últimos números, o 0,1% da população concentra 20% da riqueza nacional; o 1% mais alto controla aproximadamente 40%. A metade da população tem um ativo líquido negativo, o que significa que as dívidas superam os ativos. Em geral, houve estagnação em mão de obra durante todo o período neoliberal.
Esse é o grupo do qual estamos falando. Naturalmente, isto leva à raiva, ao ressentimento e desespero. Coisas parecidas estão acontecendo na Europa sob os programas de austeridade. Esse é o contexto que falaciosamente é chamado de “populismo”. Mas, nos Estados Unidos, é bastante surpreendente. O fenômeno das “mortes por desespero” parece ser uma característica específica estadunidense, sem igual em outros países.
Lembre-se, não há país no mundo que tenha algo como as vantagens dos Estados Unidos em relação à riqueza, poder e recursos. É um comentário impactante. Constantemente, se lê que a taxa de desemprego atingiu um nível maravilhoso, apenas 3% de desempregados. Mas, isso é bastante enganoso. Quando se utiliza as estatísticas do Departamento de Trabalho, resulta que a taxa de desemprego real está acima de 7%.
Quando se leva em conta o grande número de pessoas que simplesmente saíram do mercado de trabalho, a participação da mão de obra está consideravelmente abaixo do que estava cerca de 20-30 anos atrás. Há bons estudos de economistas sobre isso. Tem-se aproximadamente uma taxa de desemprego de 7,5% e estagnação dos salários reais, que apenas se movimentaram. Desde o ano 2000, houve um firme descenso na riqueza familiar média. Como disse, para cerca da metade da população, agora é negativo.
Em termos de armas, os Estados Unidos são um caso atípico. Temos 4% da população mundial com 40% das armas do planeta.
Há uma história interessante sobre isso, muito bem estudada. Há um livro recente de Pamela Haag chamado The Gunning of America: Business and the Making of American Gun Culture [O tiroteio dos Estados Unidos: negócios e a criação da cultura das armas estadunidenses]. É uma análise muito interessante. O que mostra é que, após a Guerra Civil, os fabricantes de armas realmente não tinham muito mercado. O mercado do Governo dos Estados Unidos havia caído, é claro, e os governos estrangeiros não eram um grande mercado. Era, então, uma sociedade agrícola, de finais do século XIX. Os fazendeiros tinham armas, mas eram como ferramentas, nada especial. Possuía-se uma boa e antiquada arma. Era suficiente para espantar os lobos. Não queriam as sofisticadas armas que os fabricantes de armas estavam produzindo.
Desse modo, o que ocorreu foi a primeira campanha de publicidade importante e enorme que foi uma espécie de modelo para outras posteriormente. Realizou-se uma enorme campanha para tentar criar uma cultura de armas. Inventaram um Oeste Selvagem, que nunca existiu, com o valente sheriff sacando a arma mais rápido que todo mundo e toda essa insensatez que existe nos filmes de cowboys.
Tudo foi inventado. Nada disso jamais ocorreu. Os cowboys eram algo assim como a escória da sociedade, gente que não podia conseguir um trabalho em outro lugar. Eram contratados para conduzir algumas vacas. Mas, passou a existir essa imagem do Oeste Selvagem e os grandes heróis. Junto a isso, vieram os anúncios, dizendo algo como: ‘Se seu filho não tem um rifle Winchester, não é um homem de verdade. Se sua filha não tem uma pequena pistola rosa, nunca será feliz’.
Foi um êxito tremendo. Suponho que foi um modelo para mais tarde, quando as empresas de tabaco desenvolveram o “homem Marlboro” e todo este tipo de negócio. Era fins do século XIX, inícios do século XX, o período em que se estava começando a desenvolver a enorme indústria de relações públicas. Foi tratado de forma brilhante por Thorstein Veblen, o grande economista político, que destacou que nessa fase da economia capitalista era necessário fabricar necessidades porque, caso contrário, não seria possível manter a economia que geraria grandes níveis de lucro. A propaganda das armas foi provavelmente o começo.
Na continuidade, avançando até o período recente de 2008, a decisão Heller da Suprema Corte. O que chamavam direitos da Segunda Emenda se converteram em uma escritura sagrada. São os mais importantes direitos que existem, nosso sagrado direito de portar armas, estabelecido pela Suprema Corte, revogando um século de precedentes.
Lance um olhar na Segunda Emenda. Diz: “Sendo necessária uma Milícia bem organizada para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de possuir e portar armas não será infringido”. Até 2008, isso era interpretado basicamente da forma como se lê. O sentido de portar armas era manter uma milícia. Scalia [ex-juiz da Suprema Corte], em sua decisão de 2008, fez uma guinada. Era um acadêmico muito bom. Supõe-se que era um ‘originalista’. Prestava atenção nas intenções dos fundadores. Quando se lê a decisão, é interessante. Há todos os tipos de referências para ocultar documentos do século XVII.
Surpreendentemente, não menciona nenhuma vez os motivos pelos quais os fundadores queriam que as pessoas portassem armas, que não estão ocultos. Um motivo era que os britânicos viriam. Os britânicos eram o grande inimigo, naquele momento. Eram do Estado mais poderoso do mundo. Os Estados Unidos tinham apenas um exército permanente. Se os britânicos retornassem, o que de fato fizeram, era preciso ter milícias para o combate. Desse modo, tínhamos que ter milícias bem organizadas.
O segundo motivo era que se tratava de uma sociedade escravista. Este era um período em que ocorriam rebeliões de escravos por todo o Caribe. A escravidão estava crescendo enormemente após a revolução. Havia profunda preocupação. Muitas vezes, os escravos negros superaram em número os brancos. Era preciso ter milícias bem armadas para mantê-los sob controle.
Ainda havia outra razão. Os Estados Unidos são talvez um dos raros países da história que virtualmente estiveram em guerra todos os anos, desde a sua fundação. É possível se deparar apenas com um ano em que os Estados Unidos não estiveram em guerra.
Quando se olha para a Revolução Estadunidense, a história dos livros de texto é “tributação, sem representação”, que não é falsa, mas está longe da história completa. Dois dos principais fatores na revolução foram que os britânicos estavam impondo uma restrição ao assentamento para além das montanhas Apalaches, que chamavam “país indiano”. Os britânicos estavam bloqueando isto. Os colonos queriam se expandir para o oeste. Não só pessoas que queriam terra, mas também grandes especuladores de terra, como George Washington, queriam ir para as zonas do oeste. “Do oeste” significava para além das montanhas. Os britânicos estavam bloqueando [essa possibilidade]. Ao final da guerra, os colonos puderam se expandir.
O outro fator era a escravidão. Em 1772, houve uma sentença muito importante e famosa de um importante jurista britânico, Lord Mansfield, de que a escravidão é tão “odiosa” que não era possível tolerar na Grã-Bretanha. As colônias estadunidenses eram essencialmente parte da Grã-Bretanha. Era uma sociedade escravista. Puderam ver os dias contados. Se os Estados Unidos permanecessem dentro do sistema britânico, seria uma ameaça real à escravidão. Isto terminou com a revolução.
Mas isto significava, voltando às armas, que eram necessárias para manter os britânicos na linha, que eram necessárias para controlar os escravos, para manter índios. Se você vai atacar as nações indígenas – eram nações, é claro –, vai atacar muitas nações ao oeste do país, terá que ter armas e milícias. Em última instância, se substituiu mais tarde por um exército permanente.
Mas veja os motivos pelos quais, para os fundadores, era preciso ter armas. Nenhum só se aplica no século XXI. Isto está completamente ausente não só da decisão de Scalia, como também do debate legal sobre isso. Há uma literatura legal que debate a decisão Heller, mas quase tudo é sobre a questão técnica de se a Segunda Emenda é um direito de milícia ou um direito individual. A redação da emenda é um pouco ambígua, desse modo, é possível debater sobre isso, mas é completamente irrelevante. A Segunda Emenda é totalmente irrelevante para o mundo moderno: não tem nada a ver com ele. Mas se converteu em escritura sagrada.
Então, existe esta enorme campanha de propaganda. Quando eu era uma criança, me atingiu. Wyatt Earp, armas, “matar índios”, tudo isso. Está estendida por todo o mundo. Na França, amam os filmes de cowboys. Um retrato do Oeste totalmente fabricado, mas teve muito êxito em criar uma cultura de armas. Sendo assim, sim, todo mundo deve ter uma arma…
Fala sobre a Primeira Emenda, a liberdade de imprensa e o jornalismo, um ofício que recebeu ataques do autodenominado “gênio extremamente estável”, na Casa Branca, como “o inimigo do povo”. Fala sobre isto e também sobre o caso Assange.
A Primeira Emenda é uma importante contribuição da democracia estadunidense. A Primeira Emenda, na realidade, não garante o direito à livre expressão. O que diz é que o Estado não pode tomar ação preventiva para impedir a expressão. Não diz que não possa puni-la. Sendo assim, sob a Primeira Emenda, literalmente, você pode ser punido por coisas que diz. Não impede isso.
Foi, não obstante, um avanço no ambiente da época, em que os Estados Unidos avançaram de muitas maneiras. Com todos os seus defeitos, a Revolução Estadunidense foi progressista em muitos aspectos para os padrões do momento, inclusive a frase: “Nós, o povo”. Deixando de lado os defeitos na implementação, a ideia em si foi um avanço. A Primeira Emenda foi um avanço.
No entanto, não foi realmente até o século XX que os temas da Primeira Emenda passaram à agenda, primeiro com as opiniões dissidentes de Oliver Wendell Holmes e Louis Brandeis [ambos juízes da Suprema Corte], em casos por volta da Primeira Guerra Mundial, um pouco depois. Vale a pena olhar como eram estreitos estes dissidentes. A primeira coisa importante, no caso Schenck de 1917, foi um caso de alguém que publicou um panfleto descrevendo a guerra como uma guerra imperialista e dizendo que não se deveria participar dela. O apoio à liberdade de expressão sob a Primeira Emenda era muito limitado, assim como a discrepância e, depois, o apoio à punição por parte de Holmes demonstrou isso. O caso foi todo um escândalo, mas inclusive Holmes aceitou.
De fato, os verdadeiros passos para o estabelecimento de uma forte proteção da liberdade de expressão foram, na realidade, nos anos 1960. Um caso importante foi Times v. Sullivan. O Estado do Alabama havia reivindicado o que se chama imunidade soberana, no qual não se pode atacar o Estado com palavras. Esse é um princípio que se mantém na maioria dos países: Grã-Bretanha, Canadá, outros. Houve um anúncio publicado pelo movimento de direitos civis, que denunciava a polícia de Montgomery (Alabama) por atividades racistas, e entraram com uma ação para o impedir. A questão foi à Suprema Corte. O anúncio estava no The New York Times. Por isso, se chama Times v. Sullivan. A Suprema Corte, pela primeira vez, basicamente, derrubou a doutrina da imunidade soberana. Disse que se pode atacar o Estado com palavras. É claro, já havia ocorrido, mas, agora, tornou-se legal.
Houve uma decisão mais forte alguns anos depois: Brandenburg v. Ohio, em 1969, em que a Corte determinou que a expressão deveria ser livre até a participação em uma ação criminosa iminente. Assim, por exemplo, se você e eu entramos em uma loja com a intenção de roubar, e você tem uma arma e eu digo “dispara”, isso não está resguardado. Mas, basicamente, essa é a doutrina. É uma proteção muito forte da liberdade de expressão. Não há nada parecido em lugar algum, pelo que eu sei.
Na prática, os Estados Unidos não têm um histórico estelar, mas um dos melhores (talvez, inclusive, o melhor histórico) é na proteção da liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Isso está, com efeito, sendo atacado quando se denuncia a imprensa como a “inimiga do povo” e se organiza sua fanática base de apoio para atacar a imprensa. Essa é uma séria ameaça.
E Julian Assange?
A verdadeira ameaça para Assange desde o princípio, a razão pela qual se refugiou na embaixada equatoriana, era a ameaça de extradição para os Estados Unidos, agora implementada. Já foi acusado de violações da Lei de Espionagem. Teoricamente, inclusive, pode receber uma condenação à morte por isso. O crime de Assange foi expor documentos secretos que são muito embaraçosos para o poder do Estado. Um dos principais foi a exposição do vídeo de pilotos de helicópteros estadunidenses matando pessoas.
Em Bagdá.
Sim. Contudo, depois houve muitos outros, alguns deles muito interessantes. A imprensa informou sobre eles. Então, ele está realizando a responsabilidade jornalística de informar o público sobre coisas que o poder do Estado preferiria manter em sigilo.
Parece ser a essência do que deveria estar fazendo um bom jornalista.
É o que fazem os bons jornalistas. Como quando [Seymour] Hersh mostrou a história do massacre de My Lai [no Vietnã, onde o Exército dos Estados Unidos matou cerca de 400 pessoas], e quando Woodward e Bernstein mostraram os crimes de Nixon, o que se considerou muito louvável. O Times publicou fragmentos dos Papéis do Pentágono [documentos secretos sobre a participação dos Estados Unidos no Vietnã]. Sendo assim, em essência, ele está fazendo isso. Você pode questionar seu julgamento – deveria ter feito isto neste momento, deveria ter feito algo mais; pode fazer muitas críticas –, mas a história básica é que o WikiLeaks estava produzindo materiais que o poder do Estado queria suprimir, mas que o público deveria conhecer.