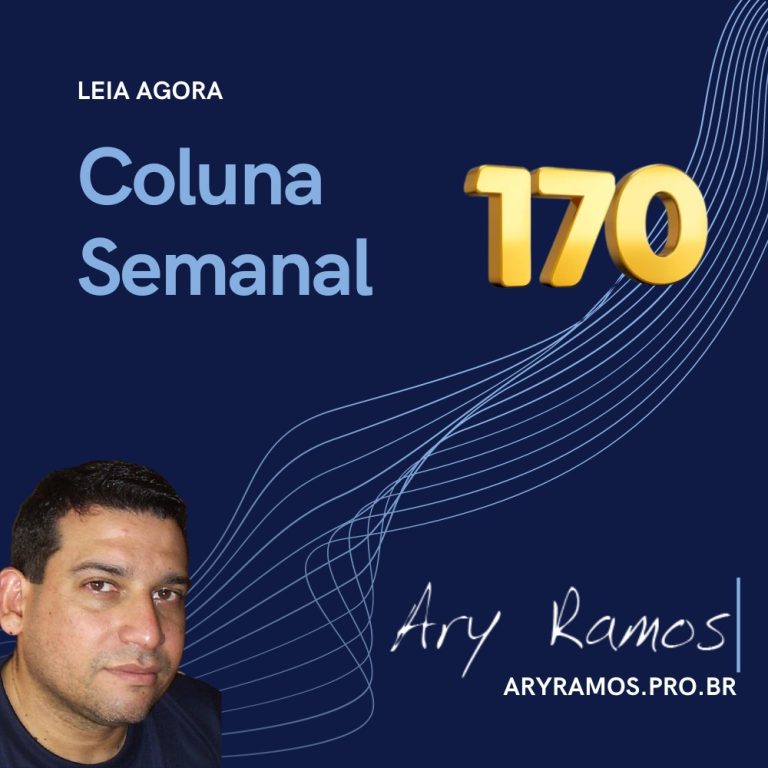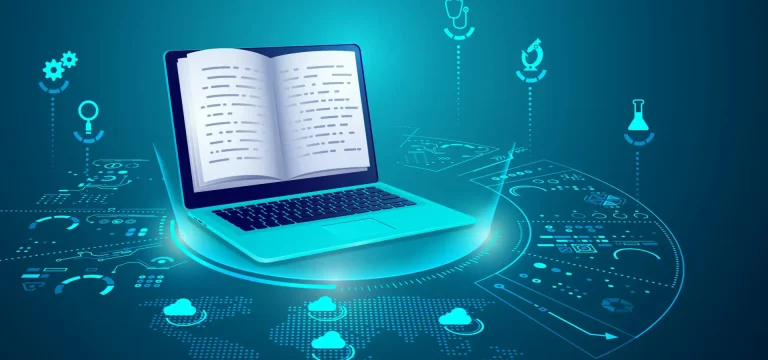Estado transfere às famílias os cuidados com idosos, abrindo espaço para o setor financeiro abocanhar essa população crescente. Pesquisador avalia: planos de saúde se vendem como garantia do bem-estar – mas são armadilha para criar dívida eterna
Jorge Félix em entrevista a Guilherme Arruda – OUTRA SAÚDE – 16/05/2024
O fenômeno social da transição demográfica avança no Brasil. De 2010 a 2022, o segmento dos maiores de 80 anos foi a faixa que mais cresceu na pirâmide etária brasileira em termos proporcionais, passando de 1,5% a 2,2% da população total. Consequentemente, também cresceu a necessidade de garantir a essas 4,5 milhões de pessoas, segundo o IBGE, os cuidados de saúde adequados à sua idade – que tendem a ser maiores e mais específicos.
A oportunidade de vender esses cuidados como uma mercadoria não seria desperdiçada pelo empresariado em um país como o nosso, onde a saúde privada já se tornou um dos três maiores oligopólios da economia nacional. Por isso, multiplica-se a oferta de produtos como planos de saúde voltados especificamente para a terceira idade, serviços de home care e unidades residenciais para idosos com profissionais de saúde integrados.
Contudo, os pesquisadores Jorge Félix e Guita Debert, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), identificaram que há uma situação mais grave que a simples mercantilização da saúde nesse ramo. Em estudo recentemente publicado, a dupla revela um quadro de endividamento generalizado dos brasileiros mais velhos – principalmente a partir da compra de serviços de cuidado e saúde que respondem a uma dinâmica mais ampla de financeirização da velhice, eles argumentam.
Em entrevista a Outra Saúde, Félix esmiúça as três principais frentes pelas quais, segundo suas pesquisas, o capital financeiro se lança sobre o bolso dos idosos no país: a criação de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) controladas por empresas de capital aberto na bolsa de valores; o aumento vertiginoso das mensalidades dos planos de saúde, respaldado pelo “viés pró-mercado” da ANS; e, principalmente, o avanço descontrolado do crédito consignado sobre as aposentadorias – na maioria das vezes, buscado precisamente para arcar com os “gastos catastróficos” com cuidado e saúde.
O enfrentamento à ofensiva da financeirização (sustentada na concepção neoliberal de que o Estado deve ser mero “fiador” da compra de serviços de saúde no mercado), ele aponta, passa pelo fortalecimento do papel do Estado em oferecer o cuidado, revertendo a tendência de jogá-lo para as famílias e o setor privado. Propostas em construção, como a Política Nacional de Cuidados, precisarão ser verdadeiramente amplas e detalhadas – e recente flerte de ministérios da área econômica com a desvinculação das aposentadorias do salário mínimo, o que restringiria ainda mais a renda dos idosos, seria inconsequente com essa estratégia.
Fique agora com os principais momentos da conversa de Outra Saúde com Jorge Félix, pós-doutorando da Unicamp e pesquisador com bolsa FAPESP. Seu artigo com Guita Debert, The financialization of care and the indebtedness of older people in Brazil, está hospedado na versão em português da plataforma WhoCares?, representada no país pelo Cebrap.
Outra Saúde: No que consiste a categoria de financeirização da velhice que você e a profa. Guita
Debert desenvolveram? O que há de novo e específico nesse fenômeno?
Jorge Félix: Há alguns anos, pesquisadores estrangeiros estão trabalhando com o que eles chamaram de financeirização do cuidado – é uma parte do que o Ladislau Dowbor chama de “financeirização da vida”. A financeirização é o fenômeno que marca a economia do século XXI. A possibilidade da reprodução do capital sem sair da esfera financeira é o que caracteriza a financeirização. É o que Marx já colocava em termos teóricos n’O Capital, no Livro III, que com a evolução do capital o objetivo econômico seria gerar “dinheiro que faz dinheiro sem passar pelas agruras da produção”.
Hoje, você tem uma grande parte da economia – quase toda – no processo de financeirização, em detrimento do processo produtivo. Consequentemente, essa financeirização foi se estendendo para todas as esferas da vida. Esses pesquisadores estrangeiros identificaram a financeirização do envelhecimento principalmente pela ação dos fundos de private equity, que foram se interessando pela questão do cuidado e pelo que nós chamamos tecnicamente de instituições de longa permanência para idosos.
Nos países mais envelhecidos, isso evidentemente teve um avanço grande, e hoje as grandes redes mundiais com sede na Europa e nos Estados Unidos funcionam nesse modelo que a gente chama de financeirizado. Nele, os lucros que vem desses empreendimentos não são reinvestidos, eles se “empoçam” na esfera financeira por meio de inúmeros produtos financeiros. Isso tem uma consequência: os fundos querem um retorno de curto prazo, como é típico desse modelo financeirizado. Obviamente, para isso, sacrificando o trabalho do cuidado, o trabalhador do cuidado e as pessoas que são cuidadas.
Em 2022, como nós contamos no artigo, isso levou a um grande escândalo na França, denunciado por um jornalista chamado Victor Castanet, em torno da ação do Grupo Orpea, um grupo financeiro que atua explorando o ramo das instituições de longa permanência para idosos.
Com o tempo, esses modelos começaram a ser exportados, e esses operadores e atores da financeirização entraram no Brasil e no resto da América Latina. Isso nos levou a essa categoria de financeirização do cuidado que, ao estendermos para outras esferas da vida, eu e a professora Guita Grin Debert, da Unicamp, passamos a chamar de financeirização da velhice.
Há cinco anos eu trabalho com a professora Guita, que é uma grande referência no tema da velhice já desde muito tempo. Ela hoje é professora emérita, está aposentada, e é minha supervisora no pós-doutorado. Eu sou pesquisador FAPESP, num pós-doutorado na Unicamp pelo PAGU – Núcleo de Estudos de Gênero, em que eu estudo envelhecimento, dívida e cuidado. Eu e Guita estamos trabalhando com esses temas e delineamos a questão da financeirização da velhice já há algum tempo, principalmente o que você pergunta – as particularidades do Brasil, que são principalmente o crédito consignado e o modelo da saúde privada.
A gente analisa que isso tudo resulta de uma mutação do papel do Estado. Saindo do modelo de Estado de bem-estar social — que, embora esteja sendo destruído, ainda é bastante forte na Europa —, que provém saúde, educação, e tudo aquilo que a gente sabe historicamente, para um modelo de Estado-fiador, que é como eu e Guita estamos chamando aqui no Brasil.
O Estado diz: “Eu não consigo te dar saúde, te prover cuidados, te dar os medicamentos que eu deveria te dar, etc., mas posso ser seu fiador para você ir ao mercado financeiro e tomar empréstimos para isso”. O Brasil é um excelente exemplo disso, tanto que o crédito consignado é estendido depois aos trabalhadores CLT, e não só aos aposentados. Todo mundo pode pegar empréstimo consignado hoje, contanto que prove renda – aí ele já sai descontado do holerite.
Enfim, esse é o Estado fiador, que vai te jogar para a financeirização. Esse modelo do Estado fiador é percebido pela população idosa como um garantidor das condições financeiras para que elas possam custear as suas despesas de cuidado. Contudo, na verdade, o que acontece é que ele insere de uma forma desqualificante a pessoa idosa no mercado financeiro.
No que se refere à saúde, tem dois aspectos. Por um lado, a financeirização está concentrada nos planos de saúde privados, que nós caracterizamos como uma dívida eterna daquela pessoa que tem que pagar por eles. Nos outros 75% da população que não tem plano de saúde, a financeirização se caracteriza com o alto índice de endividamento que há muitas décadas caracteriza o gasto da população brasileira com medicamentos. Ela tem um altíssimo gasto do próprio bolso, off-pocket, com remédios. Isso também caracteriza uma financeirização porque a pessoa precisa se endividar para bancar esses fármacos todos, e a dívida tem uma centralidade teórica no conceito de financeirização.
Apesar disso, vocês identificaram que os idosos brasileiros não vêem esse seu endividamento com maus olhos, eles até entendem como algo que pode ser bom para sua situação de saúde, para sua situação social junto à família, ou para conseguir arcar com seus gastos. Por que isso acontece?
Isso é motivado pelo idosismo – que é como eu chamo o que muitas pessoas chamam de etarismo, algo muito falado hoje em dia. Como a gente vive numa sociedade idosista, o momento em que a pessoa idosa se percebe ainda relevante é quando ela consegue pegar um empréstimo consignado, seja para custear as suas próprias despesas e não depender da família ou para ajudar a família.
Ela ganha outro papel na sociedade, seja na família, seja entre as amigas e os amigos, seja dentro do banco. Ali, ela passa a ser tratada como um cliente de fato, e não como “aquele idoso que só vem aqui receber aposentadoria, não compra nada, não é interessante para a gente porque só dá trabalho”.
Toda aquela visão idosista com que o cliente bancário idoso sofria deixa de aparecer. Hoje, principalmente por conta do crédito consignado, ele é super bem tratado na agência. Toda hora ele recebe telefonemas porque a gente sabe que, embora seja proibido por lei, se usa o crédito consignado para fazer vendas casadas de outros produtos para essas pessoas idosas. Chega até ao ponto do escândalo de se vender previdência privada para quem tem 70 anos de idade. Isso tudo leva a pessoa idosa a não ter essa percepção de que ela está sendo explorada por meio dos juros.
Quando vocês argumentam que os planos de saúde cumprem um papel de proa no endividamento dos idosos e de suas famílias, vocês também apontam que a agência reguladora da saúde privada, a ANS, tem um “viés pró-mercado”. O que caracteriza esse viés pró-mercado da ANS?
Primeiro, há a questão da agência não regular os planos coletivos. Isso tem um efeito colateral perverso para os planos individuais e familiares. Uma vez que não se regula os outros planos, você vai encontrar por aí os produtos não-regulamentados. Isto é, os planos individuais e familiares sumiram do mercado. Por quê? Porque eles são regulamentados, então todo mundo vai para o plano coletivo.
Isso prejudica? Claro que prejudica, porque muitos dos supostos planos empresariais ou coletivos são planos familiares disfarçados. Muitas vezes, as pessoas abrem uma empresa só para ter acesso a um plano de saúde. Mesmo que ela queira comprar um plano de saúde de pessoa física, não encontra no mercado.
Um segundo efeito colateral é que passa a ser um grande negócio criar planos para idosos. Isso acaba sendo estimulado, porque a saúde privada quer os mais velhos no mercado, como clientes de plano de saúde. Contudo, só pelo caso da Prevent Senior, você já vê o que aconteceu quando mais se precisou desses planos. Eles atendem com limitações muito grandes, porque para serem viáveis financeiramente, esses planos precisam reduzir os tratamentos complexos, que custam mais. Com isso, não vai haver um atendimento satisfatório de grande parte desses clientes e, a todo momento, vamos ver reclamações, que só aumentam.
Outra consequência da não-regulamentação dos planos coletivos e empresariais pela ANS é a onda de cancelamentos unilaterais dos planos individuais que vimos recentemente. No meu entendimento, tudo isso é consequência da atuação da ANS, que precisa ser menos “pró-mercado” e mais equilibrada com o interesse dos cidadãos que pagam por planos de saúde. Esse viés pró-mercado atinge em cheio a população idosa, as pessoas com deficiência, as mães de crianças autistas e os pacientes de doenças crônicas. Esses são os grupos mais prejudicados nisso tudo.
É possível uma comparação desse escândalo que vocês comentam no artigo do grupo Orpea na França, com o caso da Prevent Senior?
Do ponto de vista econômico, é possível uma comparação, porque em ambos os casos você tem o impacto do modelo financeirizado. No caso da França, o modelo financeirizado de cuidado se somou à corrupção e ao tráfico de influência. Isso foi tudo provado, noticiado e tem sido punido pelas autoridades francesas.
Aqui, no caso da Prevent Senior, o peso do modelo financeirizado se fez claro à medida que a empresa priorizou proteger o seu lucro, pensou apenas em sua lucratividade e, para isso, adotou procedimentos que vão contra a ciência. Ela também se aproveitou de algo que é bastante discutido entre os pesquisadores da economia da saúde: o modelo verticalizado, onde a operadora tem seus próprios hospitais. Ele é um modelo que é adotado com o intuito da financeirização, para que se implemente uma fórmula que aumenta a distribuição de dividendos das empresas.
Em resumo, o que nós estamos vendo no cenário de hoje é que a financeirização ampliou o potencial de existirem empresas de plano de saúde com dificuldades, mas empresários de planos de saúde bilionários. Isso porque a distribuição de dividendos altos fez grandes fortunas que não são reinvestidas nem quando a empresa tem uma maior demanda. Por isso, várias delas estão apresentando problemas. Você tem inúmeros estudos mostrando isso na área da economia da saúde.
Um fenômeno recente que discutimos no Outra Saúde com o pesquisador José Sestelo é que, nos últimos anos, a saúde privada no Brasil só registrou lucro por conta de suas operações no mercado financeiro, já que ela teve prejuízo operacional. Como isso – que, no fundo, é a expressão da etapa monopolista e financeirizada do capitalismo na Saúde – se reflete no cuidado com a velhice?
O Sestelo, para nós, é um mestre. O fato das empresas hoje se sustentarem pelo lucro financeiro, com prejuízo operacional, é também uma característica da economia financeirizada do final do século XX e começo do século XXI. Já são inúmeros os exemplos – além disso, em boa parte de empresas que estão vivendo dessa forma, isso já passou a ser uma prática da administração.
Muitos dos CFOs, os diretores financeiros dessas empresas, já são mais valorizados no mercado do que os CEOs. Ou os CEOs são ex-CFOs promovidos porque deram resultados financeiros. Os profissionais de finanças hoje são, sem dúvida nenhuma, os mais valorizados dentro das grandes empresas e é evidente que o setor da Saúde não ficaria fora dessa lógica, que já não é mais uma tendência, é a realidade do mercado.
Como isso atinge o serviço que chega lá na ponta para as pessoas idosas? Para produzir esses resultados vultosos para os acionistas, não pode haver reinvestimento na empresa. Hoje em dia, quase nada do montante auferido em um ano é reinvestido. Ele precisa, aquilo que eu falei, ele precisa estar empossado na esfera financeira para que ele gere ainda mais lucro, mais rendimento que cubra um eventual prejuízo operacional.
Se esse dinheiro não é reinvestido, é muito difícil manter na área da saúde um serviço atualizado e compatível com o avanço da ciência, considerando que [o cuidado com os idosos] é um segmento altamente tecnológico. Muitos procedimentos são inovadores e, por isso, são muito caros. Para piorar, nós vemos essa redução do investimento não só nos serviços mais sofisticados, mas também nos mais básicos. Assim, a qualidade do serviço para os idosos fica impactada.
No artigo, vocês argumentam que, considerando o caráter sistêmico da financeirização do capitalismo, é praticamente inviável reverter essa integração dos idosos ao sistema financeiro. Por outro lado, sustentam que esse mercado não pode seguir sendo tão desregulado e predatório.
Por onde enfrentar o problema, então?
Reverter não é viável, realmente. Quanto ao crédito consignado, o que a gente discute – isso não está escrito nos nossos artigos ainda, porque não elaboramos tanto – é limitar o comprometimento da renda, principalmente. Limitar, no espaço de tempo, os créditos consignados que as pessoas podem pegar, para que não peguem um crédito atrás do outro. Tentar, minimamente, impedir que a pessoa planeje ter sempre aquele crédito supostamente “sem limite”, mas que leva ao superendividamento.
A solução que é sempre apontada, da educação financeira, tem imensos limites. Nós não consideramos que o povo brasileiro está endividado – com mais de 70 milhões de pessoas inadimplentes, segundo a Serasa – por falta de educação financeira. Nós enxergamos isso como uma deficiência de renda para fazer frente a novas despesas do cuidado. Todas as famílias estão pressionadas pelas despesas do cuidado.
É o que a Guita chamou lá atrás, em 1999, de privatização da velhice. Como a velhice foi privatizada lá atrás, as famílias é que estão arcando com este cuidado – dos idosos, mas também das crianças, vale adicionar. Nessa nova configuração da família, você tem despesas que estão pesando bastante, principalmente os medicamentos, a contratação de cuidadores ou o sustento de pessoas da família que têm que deixar de trabalhar para cuidar de uma pessoa idosa. Isso tudo faz com que as pessoas tenham mais despesas e se endividem mais.
Por um lado, não acho que a melhor ação do Estado hoje seria cortar o crédito consignado ou acabar com ele, as próprias pessoas não querem isso. Aliás, pelo contrário, o que mostram as pesquisas que eu e a Guita estamos fazendo, é que elas querem comprometer um percentual ainda maior da renda, em especial os trabalhadores da ativa, que ainda não estão aposentados.
Claro, aí é preciso bom senso por parte dos legisladores, do Banco Central e das agências reguladoras, para impedir um risco tão alto de superendividamento. Só a Lei de Superendividamento não foi o suficiente, porque como toda lei, ela precisa ser acionada. O que é preciso são regras na hora da concessão do crédito.
Além disso, sem dúvida nenhuma, a gente só vai resolver, ou mesmo mitigar, esse problema da financeirização da velhice de uma forma razoável se houver mais investimentos no SUS. Esse cenário todo está mostrando que existe um limite para a saúde suplementar e que com o envelhecimento da população, se não fizermos muitos novos investimento no SUS, mesmo a classe média não vai dar conta das despesas de cuidado e saúde.
Por onde deve passar uma reestruturação do cuidado que enfrente a financeirização da velhice?
O Brasil está nesse momento discutindo a criação de uma Política Nacional de Cuidados. Pela primeira vez, o presidente Lula criou um grupo de trabalho para isso, que está sendo conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O país está em plena elaboração dessa política, que é inclusive uma promessa de campanha do Lula, feita quando ele teve uma reunião conosco da área do envelhecimento durante a campanha.
Isso é sempre bom lembrar: ele nos prometeu criar um sistema, uma rede de cuidados domiciliares em um modelo bem parecido – ou ampliado – com o dos agentes comunitários de saúde do SUS. Isso deve ser uma prioridade do Estado brasileiro no atual estágio da transição demográfica do país.
Esse é o primeiro aspecto.
Ao lado disso, tem que vir um maior investimento no SUS. Por ainda não termos no Brasil essa Política Nacional de Cuidados – outros países da América Latina até já estão mais avançados nisso –, o grande risco para o qual eu e Guita temos alertado é o do familismo. Isto é, mesmo com uma Política Nacional de Cuidados, ainda delegarmos à família uma grande ou a maior parte dessa tarefa do cuidado com o idoso. As famílias não vão dar conta disso.
Em termos de Saúde Coletiva, começaríamos a ver com mais frequência algo que já acontece: idosos que morrem dentro de casa e só depois de muitos dias são encontrados e uma acentuada saída dos familiares de idosos do mercado de trabalho. Já existem pesquisas que mostram que uma parte da suposta “geração nem-nem”, na verdade, está dentro de casa cuidando de crianças ou de idosos.
Tudo isso porque o Estado transfere para a família suas atribuições, assumindo apenas o papel de Estado-fiador, como nós chamamos.
Ele diz às famílias: vou ser seu fiador para você comprar esses serviços de cuidado no mercado. Contudo, no próprio mercado já há uma restrição na mão de obra de cuidado. No projeto de pesquisa do CEBRAP de que nós participamos, o Who Cares?, foi detectado principalmente pelos estudos da professora Nádya Araújo Guimarães, da FFLCH/USP, que o percentual da população brasileira que compra cuidados no mercado é mínimo. Seja contratando um cuidador que vai na casa da pessoa, seja o residencial para idosos. É ainda um grupo muito pequeno. O restante da população está se virando dentro da família e sem apoio do Estado. É disso que a Política Nacional de Cuidados tem que dar conta.
Na semana passada, o Governo Federal convocou a próxima Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa para 2025. Como esse espaço vai poder contribuir para essa discussão?
Essa convocação é muito importante. A última conferência exclusiva dos temas da pessoa idosa realmente qualitativa que tivemos aconteceu em 2011, no primeiro governo Dilma. De lá pra cá, em 14 anos, o que tivemos foi uma conferência no governo Temer [a 4ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, em 2016] que juntou todo mundo – juventude, pessoa com deficiência, idosos, e por aí vai –, e esse tipo de encontro é muito improdutivo para debater essas questões, que são tão complexas.
Se você pensar que a Conferência trabalhará com o que vai vir das conferências e conselhos municipais e estaduais de idosos, percebe que é um movimento muito grande, democrático e que, como as Conferências da Saúde, é de uma democracia viva e de baixo para cima. Ali sim nós poderemos dar conta da complexidade do tema e de todas as reivindicações que serão apresentadas pelos municípios e estados.
Vai ser de grande importância que haja a participação não só do Ministério dos Direitos Humanos e da Secretaria dos Direitos da Pessoa Idosa, que é quem vai coordenar essa conferência, mas também de outros ministérios. Eu sonho com o dia em que o Ministério da Fazenda vai fazer parte dessas discussões. No Grupo de Trabalho da Política Nacional do Idoso, o Ministério da Fazenda não se prontificou a participar dessas discussões sobre o cuidado, como se não estivéssemos falando exatamente de economia do cuidado.
No caso da França, os ministérios da área econômica se sentaram ao lado da Secretaria da Pessoa Idosa para discutir soluções que deram muitos resultados. Aqui no Brasil, essa discussão está bastante atrasada. Se você não tiver participação do Ministério da Fazenda, já vamos chegar com um problema muito grande. Também é essencial – e agora com certeza vai ter – a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e Família e Combate à Fome.
Se não, vamos ficar no âmbito da reivindicação. O que é preciso é ir para a ação – e uma ação conjunta e interministerial.
Hoje, embora você tenha política para idosos em quase todos os ministérios da Esplanada, a atuação não é ordenada, não é pactuada. Isso é histórico. Desde que eu estudo isso, cada ministério cuida apenas de seu pedaço dessa área, visando muito mais resultados eleitorais do que políticas públicas demandadas e efetivas. Esse tem sido um aspecto muito equivocado na política da pessoa idosa no Brasil e atravessa vários governos, infelizmente.
Nas últimas semanas, os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet lançaram, nas redes sociais e na mídia, a ideia de desvincular as aposentadorias do salário mínimo. Como os idosos seriam afetados?
Uma ação como essa aumentaria imensamente o risco de superendividamento para a população idosa, sem dúvida nenhuma. Se mesmo com o aumento real do salário mínimo os idosos não estão conseguindo fazer frente às despesas de cuidado e saúde, imagina se durante anos e anos esse segmento da população mais pobre não tiver aumento real na sua aposentadoria. Aí é que nós vamos para uma situação muito grave de endividamento.
Se o governo quiser fazer uma política de fato efetiva, você tem no Brasil um material imenso hoje. Na pandemia, se falou muito que a ciência não era ouvida, e eu penso que as ciências sociais seguem bastante renegadas. Elas têm oferecido pesquisas muito relevantes que poderiam subsidiar melhores políticas públicas. Não é por falta de dados científicos que não temos uma política para o envelhecimento no Brasil.
Não é por falta de oferecimento de dados científicos que nós não temos uma política estruturada para o envelhecimento no Brasil. A vontade política é que tem que ser maior.