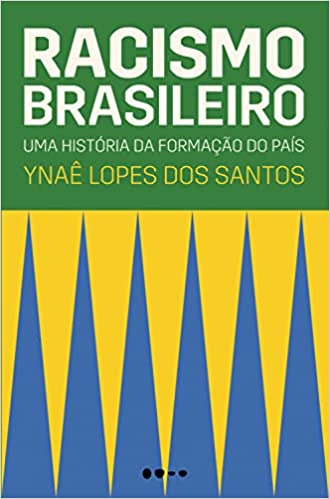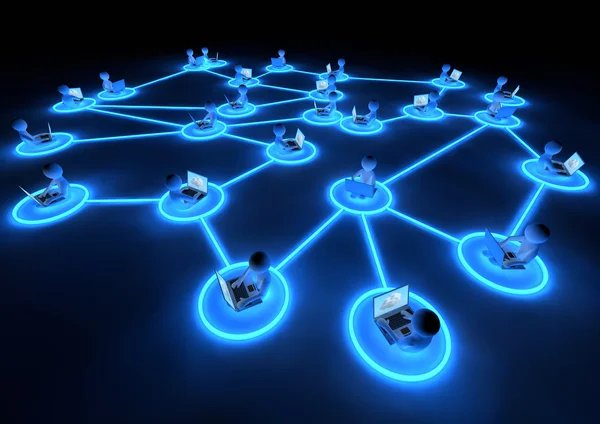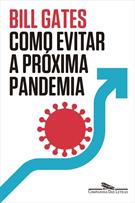Para Ynaê Lopes dos Santos, situação é paradoxal e faltam políticas públicas voltadas a essa população
Priscila Camazano – Folha de São Paulo, 25/07/2022
“Existem avanços significativos na questão da visibilidade das particularidades que constituem a vida da mulher negra, mas isso não diminui a violência que atinge essas mulheres”, afirma Ynaê Lopes dos Santos, autora do livro “Racismo Brasileiro: Uma história da Formação do País”, recém-lançado pela editora Todavia.
Em referência a 25 de julho, quando se celebra o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra e o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a Folha conversou com a historiadora sobre racismo e as situações que atravessam a existência das negras.
Para Santos, houve um avanço na luta dessas mulheres, sobretudo em relação ao reconhecimento de que as demandas do feminismo branco não abarcam as questões das negras –que são múltiplas. No entanto, é uma situação paradoxal, pois as negras continuam no pior lugar da estrutura social, em uma confluência de violências da sociedade patriarcal, racista e misógina.
“Acho que uma das principais [demandas atuais], e que eu considero fundamental, é justamente a ampliação de mulheres negras em espaços de poder”, afirma.
Não é à toa que a líder quilombola do século 18 Tereza de Benguela foi escolhida para ser celebrada em 25 de julho. “Essa liderança está muito vinculada com a necessidade de pensarmos nas mulheres negras nesse espaço de decisão”, diz Santos.
Segundo ela, ter uma negra em cargo de liderança na política abre a possibilidade de transformações efetivas, pois a experiência dessas mulheres pode ajudar na criação de políticas públicas.
“Na minha opinião, é isso que falta para o Brasil, esse tipo de transformação efetiva, mas eu não acho que isso aconteça [em breve].”
Na conversa com a Folha, a historiadora falou também sobre o papel da mulher negra ao longo da história de formação do país e sobre a normalidade com que as negras são postas como subalternas.
Houve avanço na luta das mulheres negras? Eu acho que existem avanços significativos, sim, sobretudo na questão da visibilidade das particularidades que constituem a vida da mulher negra, de uma forma geral. Acho que o principal avanço foi este: da compreensão de que esse lugar criado pelo feminismo branco não abarca as questões que atravessam as mulheres negras. Na verdade, não abarcam as questões que atravessam quaisquer mulheres não brancas.
E essa percepção acabou também ampliando a visibilidade das múltiplas lutas que as mulheres negras travam. Agora, essa visibilidade não diminui a violência que atinge essas mulheres, infelizmente.
Acho que é uma situação um pouco paradoxal. Temos um aumento da visibilidade, um aumento inclusive do pertencimento. Isso fica muito evidente no Brasil pelo aumento no número de mulheres se autodeclarando negras, além de toda uma transformação estética, que fez com que até a indústria cosmética tivesse que se render a isso.
Mas, ao mesmo tempo, a mulher negra continua no pior lugar da estrutura social, sofrendo o atravessamento de violências da sociedade patriarcal, racista e misógina.
Quais são as principais demandas atuais das mulheres negras? Tem múltiplas demandas. Uma das principais, e que eu considero fundamental, é justamente a ampliação de mulheres negras em espaços de poder, como no Congresso e chefiando empresas.
O racismo se constitui a partir de um jogo de poder, que é determinado a partir do que foi construído como raça. E as mulheres negras acabaram ficando no pior lugar, então colocá-las no lugar de decisão eu acho que é a principal pauta.
Não no lugar do homem branco —acho também que precisamos tomar cuidado para não querer transformar a vítima em algoz—, mas colocar a mulher negra no lugar de decisão justamente para que, desse lugar, ela possa pensar o mundo a partir da sua experiência e ajudar na transformação.
A data de 25 de julho celebra também Tereza de Benguela, líder quilombola. O que representa a escolha dessa liderança para este dia? Essa liderança está muito vinculada com o que eu acabei de dizer, com essa necessidade de pensarmos nas mulheres negras nesse espaço de decisão.
Tereza de Benguela foi a principal liderança de um quilombo no que era a capitania de Mato Grosso, recém anexada à colônia. Uma história que de certa forma está vinculada ao movimento das bandeiras e também à descoberta do ouro e ao incremento do tráfico transatlântico para o Brasil e, consequentemente, ao aumento de fugas de escravizados e a criação de quilombos.
Então, ter uma mulher negra à frente [em 25 de julho], ao que tudo indica africana, é muito simbólico, porque ela justamente reforça essa necessidade de pensar a mulher negra nesse lugar que é historicamente negado a ela.
Conseguimos imaginar algumas concessões que são dadas às mulheres negras, mas elas são muito limitadas, haja vista o que foi feito com Marielle Franco (1979-2018). Quando se tem uma mulher que efetivamente está disputando o poder, temos o Estado, a sociedade, que assassina essa mulher —e não é a primeira vez que isso acontece.
Qual o papel da mulher negra ao longo da história de formação do Brasil? Essa pergunta é profunda. A mulher negra historicamente foi colocada em um lugar de subalternidade, muito vinculada ao mundo doméstico. Era a mulher que servia e cuidava da casa, que alimentava e amamentava os filhos dos seus senhores —isso durante a vigência da escravidão.
Depois da abolição, não temos mais essa condição, mas temos a manutenção de uma série de práticas e, sem sombra de dúvida, quem mais sofre com essa continuidade são as mulheres negras.
Há também muitas vezes o lugar de afeto, mas é o lugar de uma exploração atroz, de um não reconhecimento do trabalho, haja vista toda a polêmica em torno da aprovação da PEC das domésticas. É uma categoria em que a sua imensa maioria é ocupada por mulheres negras.
De certa maneira elas são mantenedoras da sociedade brasileira, são realmente a base da sociedade, porque essas mulheres que são absolutamente exploradas também são o arrimo das suas próprias famílias.
Em uma passagem do livro “Racismo Brasileiro”, você afirma que o racismo no Brasil é grande parte daquilo que consideramos normal. Que situações “normais” são essas que atravessam as mulheres negras? A exploração das mulheres negras no universo doméstico, por exemplo. Não achamos estranho ver babás negras vestidas de branco. Achamos normal
que a imensa maioria das mulheres negras estejam servindo sempre, trabalhando nessa condição.
Achamos normal o distanciamento da ideia do feminino com a mulher negra. A ideia do feminino que foi construída, sobretudo na virada do século 19 para o século 20, não abarca as mulheres negra. As descrições que são feitas sobre o que é a mulher não têm nada a ver com a experiência de mulheres negras.
O lugar de subalternidade no qual as negras estão é a normalidade. É isso, estamos acostumados a ver mulher negra sofrer.
Eu penso muito no caso da Mirtes [Renata Souza], mãe do Miguel [menino de 5 anos que morreu, em 2020, ao cair de um prédio de luxo no Recife enquanto estava aos cuidados da patroa da mãe]. Aquilo dificilmente teria acontecido se ela fosse uma mulher branca, e o Miguel, uma criança branca. A violência experimentada pelas mulheres negras que veem seus filhos serem assassinados também é normal.
O podcast A Mulher da Casa Abandonada fala sobre uma empregada doméstica negra que viveu 20 anos em situação de trabalho análogo à escravidão na casa de uma família brasileira que se mudou para os EUA. O que aconteceu ao longo da história do Brasil que permitiu que até hoje negras passem por situações assim? Ausência de políticas públicas que permitam que as mulheres negras, mas não só, tenham condições mínimas de trabalho.
Temos a manutenção das mulheres negras nesse lugar de subserviência, no universo do trabalho doméstico, o que faz com que até hoje tenhamos alguns casos de mulheres negras que vivem em situações análogas à escravidão.
Não fazer política pública é fazer política pública —e é essa a forma como o racismo opera muito no Brasil, que é diferente do que acontece nos EUA. Lá as políticas são segregacionistas, as coisas estão muito bem ditas. No Brasil, isso não acontece.
Em outros países, mulheres negras têm conquistado lugares de liderança na política, como, na Colômbia, com a vice-presidente Francia Márquez, e, nos EUA, com a vice-presidente Kamala Harris. No Brasil há chance de termos em breve uma liderança nesse sentido? Em breve é quanto tempo? Eu acho que em uma década, final de uma década talvez. Acho que antes disso, não.
Qual a importância de ter uma liderança negra? Desse tamanho, ocupando uma presidência ou vice-presidência?
Sim. Sendo uma pessoa progressista, porque pode acontecer de não, mas acho difícil, é a possibilidade de transformações efetivas.
Além da perspectiva da representatividade, que é muito importante, ela por si só não é suficiente para mudar a estrutura: tem que ser uma representatividade que tenha acesso à formação das políticas públicas.
Mulheres negras têm uma outra experiência, seriam outras trajetórias de vida pensando o país. É isso que falta para o Brasil, esse tipo de transformação efetiva.
O que as mulheres negras latinas-americanas e caribenhas têm em comum? Nossa ancestralidade africana, em primeiro lugar. Elas veem desse lugar que tem um quê de mito, mas tem uma estrutura tradicional cultural muito forte que é essa grande África.
E também uma condição que é, sem dúvida, atravessada pelo processo de escravização e violência sexual do período colonial.
Temos também essa ideia da mulher negra como a batalhadora, a que não sofre, a que aguenta o tranco. Também é fundamental começarmos a desconstruir isso. É fundamental recuperarmos a história de resistência e luta das mulheres negras, mas é preciso querer mais.
Ynaê Lopes dos Santos, 40
Doutora em história social pela USP (Universidade de São Paulo), é professora no Instituto de História da UFF (Universidade Federal Fluminense) e autora do livro “Racismo Brasileiro: Uma História da Formação do País” (Todavia)