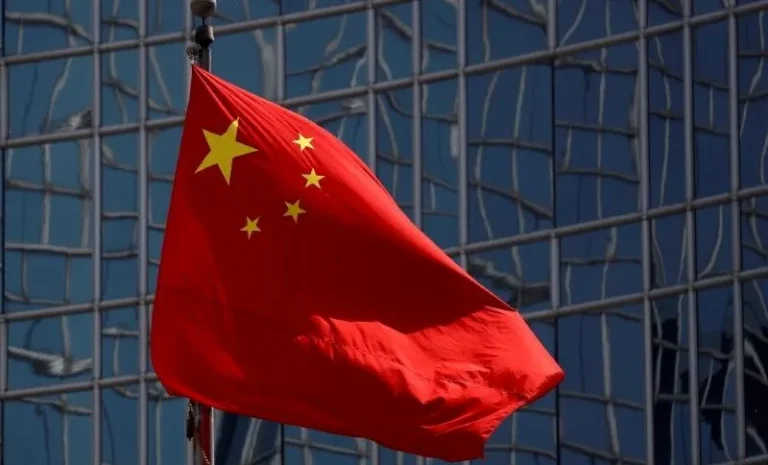Responsável pela alimentação básica, agricultura familiar deve ser valorizada
Nathalie Beghin, Economista e coordenadora da assessoria política do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos) e ex-conselheira do Consea (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional)
Folha de São Paulo, 13/04/2022
Na última semana de março, o Datafolha revelou resultados assustadores de uma pesquisa que perguntou à população brasileira se achava que a comida dentro de casa era considerada suficiente para os seus moradores.
Como é possível que, em uma das economias mais ricas do mundo, uma em cada quatro pessoas responda que a alimentação domiciliar está muito aquém do necessário? E mais: entre os mais pobres, 35% avaliaram que não há comida suficiente. A pesquisa também explicitou as enormes desigualdades regionais, pois é no Nordeste que a situação de insegurança alimentar e nutricional é pior. Urge a implementação de medidas emergenciais.
Sim, o país voltou a esse grave e conhecido quadro, de onde havia saído, em 2014 (poucos anos atrás), do Mapa da Fome das Nações Unidas.
As causas que explicam a deterioração do quadro alimentar e nutricional no Brasil são muitas. Temos um modelo agroalimentar que, infelizmente, pouco valoriza a agricultura familiar, principal responsável por nossa alimentação básica. As energias estão direcionadas para a agropecuária de grande porte, voltada à exportação. Assim, cresce a produção de soja e milho em detrimento da de arroz, feijão e mandioca, entre outras. Os trabalhadores do campo são expulsos de suas propriedades, engrossando as periferias empobrecidas das cidades, com enormes dificuldades para se alimentar.
A crise econômica que caracteriza o Brasil dos últimos anos e que se agravou em decorrência da pandemia de Covid-19 jogou milhões de pessoas no desemprego e na precariedade. A renda insuficiente dificulta e, em muitos casos, impossibilita a compra de alimentos. O levantamento do Datafolha revela que, entre os desempregados, 38% disseram que não tiveram comida suficiente.
Outro fator agravante é o da inflação e, especificamente, da inflação alimentar, que penaliza os empobrecidos. Os preços dos alimentos subiram mais de 20% desde o início da pandemia. O efeito da elevação dos preços é mais severo sobre os mais pobres. De acordo com o IBGE, os gastos com alimentação representam cerca de 20% da renda dos brasileiros. Se analisado entre as famílias que vivem com 1 a 5 salários mínimos, o peso da alimentação chega a um quarto de seus rendimentos. Dai que a combinação da queda da renda com o aumento dos preços dos alimentos resulta em falta de comida dentro de casa.
Uma causa relevante do significativo aumento da fome no Brasil está fortemente relacionada ao desmonte da institucionalidade federal da segurança alimentar e nutricional operado pelas gestões Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), associada a uma política fiscal contracionista implementada desde 2016 por meio, especialmente, do teto de gastos.
O abandono de uma atuação intersetorial e sistêmica, assim como a extinção das instâncias de participação social, impediu a identificação dos principais problemas alimentares e das demandas da sociedade; o enfraquecimento de mecanismos de regulação do mercado dificultou o controle da inflação, particularmente a alta de preços dos alimentos; a desarticulação de estratégias de fortalecimento da agricultura familiar, principal responsável pela alimentação básica da população brasileira, contribuiu para a inflação de alimentos e para a carestia; os programas de aquisição e de distribuição de alimentos, como o Programa das Cisternas, o Programa de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos foram enfraquecidos —desse modo, pouco mitigaram o problema da fome.
Essa situação agrava as desigualdades raciais, pois é a população negra a mais afetada pela fome. Agrava também as desigualdades regionais, pois como vimos o Nordeste é o mais penalizado. E piora as desigualdades geracionais: de acordo com o Unicef, 61% das crianças e dos adolescentes vivem na pobreza, sendo, portanto, mais impactados pela carestia alimentar.
A fome tem pressa, não pode esperar. Urge implementar desde já uma ação emergencial de combate à fome. Urge, ainda, retomar a política nacional de segurança alimentar e nutricional para enfrentar as causas estruturais da fome no Brasil.