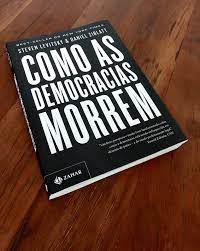Um feixe de políticas esdrúxulas está desmembrando e inviabilizando a empresa pública que mais pode contribuir com a reconstrução do Brasil. O PPI, que fez os combustíveis dispararem, é a ponta de um iceberg. Vamos examiná-lo a fundo
Antonio Martins é editor de Outras Palavras
Outras Palavras – 15/03/2022
Talvez nada expresse tão bem o declínio da política institucional brasileira como a ausência de um debate real sobre os preços dos combustíveis e a Petrobras. As consequências do mega-aumento da última semana estão explodindo em toda parte. Em São Paulo, um botijão de gás chegava a ser vendido, no sábado, por R$ 150 – o que equivale a dois dias e sete horas de trabalho, dos que ganham salário mínimo. Quem foi a uma feira livre no fim de semana deu-se conta de que os preços subiram entre 10% e 20% e a relação entre a alta e a gasolina estava na boca de todos, nas barracas. Mas você não encontrará, nos jornais brasileiros ou na agenda de debates do Parlamento – nem agora, nem no momento de sua implantação — o mínimo sinal de um exame efetivo a respeito da política de Preço de Paridade de Importação, o PPI, que determina estes reajustes.
Ela está relacionada a outro assunto desaparecido: o desmonte da Petrobras. Vamos examiná-lo explorando a fundo quatro movimentos aparentemente esdrúxulos e fora de qualquer lógica, inclusive a empresarial e as “de mercado”.
São eles: a) os preços estratosféricos dos combustíveis; b) os lucros descomunais de nossa estatal petroleira; c) a transferência da quase totalidade destes lucros para os acionistas privados, especialmente fundos internacionais; d) como resultado final, a redução drástica dos investimentos da empresa e o abandono, por ela (na contramão do que fazem todas as suas congêneres), das atividades econômicas que podem garantir seu futuro. A essência do neoliberalismo, no plano político, é naturalizar as decisões, apresentando-as como “as únicas possíveis”. “Não há alternativas”, ensinou Margaret Thatcher. Nosso breve estudo tentará demonstrar o contrário.
* * *
Adotado em outubro de 2016, quando Michel Temer governava e Brasil e Pedro Parente dirigia a Petrobras, (PPI – preço de paridade de importação – elevou os preços dos combustíveis entre 71,5% (botijão do gás de cozinha) e 73,67% (diesel), desde então1. Os índices são 2,3 vezes maiores que a alta da inflação no período (30,87%), medida pelo IBGE. Apesar desta enorme disparidade, o PPI parece ter se tornado uma espécie de vaca sagrada. Bolsonaro afirma não ter poderes para alterá-lo. Nenhum dos projetos em tramitação no Congresso, sobre preços de combustíveis, o questiona (o PL 1.472/2021, aprovado pelo Senado em 11/3, chega a incorporá-lo em lei. O economista Nelson Barbosa, visto pela mídia como voz influente entre os conselheiros econômicos de Lula, julga sua lógica correta.
Este aparente consenso baseia-se num conceito ilusório e num truque retórico. Afirma-se a existência de um “preço internacional dos combustíveis”. E sustenta-se que contrariá-lo significaria oferecer “subsídios” – ou seja, levar o conjunto da sociedade a pagar por produtos que, além de mais consumidos pelos mais ricos, contribuem para o colapso climático. Diante da elevação internacional das cotações de petróleo, na sequência da guerra na Ucrânia, o país deveria, ainda que contrariado, resignar-se.
Ocorre que “preço internacional dos combustíveis” é uma ficção. Há, é claro, um preço de mercado para as compras e vendas internacionais de petróleo bruto. Mas esta tabela demonstra que os preços internos dos derivados praticados por cada país têm enorme variação entre si. Ainda que excluídos Venezuela, Irã e Líbia (onde as cotações são irrisórias), a gasolina, por exemplo, oscila entre US$ 0,13 [R$ 0,63] por litro e US$ 2,831 [R$ 14,43]. Ou seja, a variação se dá numa escala de 1 para 23. É óbvio, portanto, que não existe nem sombra de um preço “natural” para os combustíveis.
Um exame mais atento da tabela permite enxergar, grosso modo, dois padrões. Os países que dependem do petróleo importado – em especial os localizados na Europa – cobram caro pelos derivados. É o caso, por exemplo, da Suécia (US$ 2,294 ou R$ 11,69, por litro da gasolina), Alemanha (US$ 2,183 ou R$ 11,13), Itália (US$ 2,116 ou R$ 10,79), França (US$ 2,095 ou R$ 10,68), ou Espanha (US$ 1,90 ou R$ 9,69). Os Estados Unidos, que produzem e consomem muito, estão numa espécie de meio-caminho (US$ 1,178, ou R$ 5,70). Vale notar que, em todos estes países, embora mais alto nominalmente, o preço do combustível é muito inferior ao brasileiro, se ponderado o poder aquisitivo de cada sociedade2.
Mas nos países que exportam ou são autossuficientes em petróleo, as cotações são totalmente distintas. É o caso de Angola (US$ 0,337 ou R$ 1,71), Rússia (US$ 0,373 ou R$ 1,90), Nigéria (US$ 0,40 ou R$ 2,04), Malásia (US$ 0,491 ou R$ 2,50 ) Iraque (US$ 0,514 ou R$ 2,62 ), ou Colômbia (US$ 0,624 ou R$ 3,18)3.
Em que grupo está o Brasil? A descoberta das jazidas do pré-sal produziu, a partir de 2013, um grande salto da produção – de 2 para 2,9 milhões de barris por dia, em apenas oito anos. Mas esta formação geológica, onde estão algumas das descobertas petrolíferas mais importantes das últimas duas décadas, pode conter, segundo estudos independentes, 176 bilhões de barris ou mais – o que colocaria o país na condição de dono da terceira maior reserva do mundo. Graças a ela, nos tornamos, a partir de 2014, importantes exportadores de petróleo: vendemos 1,3 milhão de barris por dia, em 2021.
E há duas condições especiais. A primeira é a abundância incomum do pré-sal, de onde vêm cerca de 70% do petróleo brasileiro. Um dos campos, o de Búzios, tornou-se o maior do mundo em águas profundas. Só dele foram extraídos 674 mil barris num único dia de junho de 2020 – mais que toda a produção da Índia, ou do Egito. A previsão é chegar, em alguns anos, a 2 milhões de barris de petróleo ultraleve, o de melhor qualidade.
A segunda condição é a excelência tecnológica e capacidade de inovação da Petrobrás, reconhecida por seguidos prêmios internacionais. Em Búzios, por exemplo, a extração teve de vencer uma lâmina d’água de 1.900 metros. Graças a estes dois fatores, o petróleo é retirado a preços extraordinariamente baixos: entre US$ 5 e US$ 6 por barril no pré-sal – contra mais de US$ 40 do petróleo extraído por fragmentação rochosa (fracking) nos Estados Unidos.
Com base nestes fatos, o vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet), Felipe Coutinho, estimou, em novembro do ano passado, a gigantesca diferença entre os preços de produção do petróleo brasileiro e os impostos à sociedade pelo PPI. Coutinho notou que o preço médio de extração (lifiting) subia, após o acréscimo dos impostos e custos de frete, a US$ 20,16 o barril. Somando-se refino, chegava-se a, no máximo, US$ 27 o barril.
Sabendo que este equivale a 159 litros e que a cotação do dólar, à época, era semelhante à de hoje (R$ 5,10), chegava-se ao custo médio, nas refinarias da Petrobras, de R$ 0,90 por litro de derivado de petróleo. Com o aumento do último dia 10, a companhia passou a cobrar, dos distribuidores, R$ 3,86 pela gasolina e R$ 4,51 pelo diesel. Sua margem de ganho atingiu, respectivamente 328% e 401%.
* * *
Fica claro, por estes números, como é absurda e interesseira a ideia de que é preciso subsidiar os combustíveis, para reduzir o preço final pago pela população. Basta anular o PPI e adotar uma política de preços que leve em conta fatores como o poder aquisitivo dos brasileiros, o controle da inflação, a necessidade de desestimular o transporte individual e transferir recursos para a transição energética e, obviamente, o justo lucro da Petrobras.
Os preços baixarão de modo expressivo, sem que a sociedade tenha de dispender, para isso, um único centavo.
Mas quais seriam, então, os objetivos do PPI? Ele expressaria um desejo sádico do ministro Paulo Guedes, de obrigar 14 milhões de famílias a voltar no tempo e a cozinhar com lenha? Ou de impor novas perdas a categorias já submetidas a trabalho exaustivo – como os motoristas de aplicativos e os caminhoneiros?
Nos próximos capítulos, veremos que não. O PPI é a ponta de lança de um conjunto de políticas aparentemente disparatadas – mas necessárias, em seu conjunto, para eliminar o caráter de empresa pública da Petrobras. O efeito mais imediato é desnacionalizar o refino de petróleo. Os preços abusivos estimulam, desde já, empresas estrangeiras a importar combustíveis (o que é totalmente desnecessário). Mais adiante, viabilizarão a venda das refinarias brasileiras, já alardeada pela direção da estatal e iniciada, com a venda da RLAN baiana ao fundo Mubadala Capital, do emirado de Abu Dhabi.
Os objetivos a longo prazo são ainda mais graves e também estão sendo executados. Se perder seu caráter de empresa pública – se continuar afastando-se de atividades essenciais à sociedade, como a petroquímica, a produção de fertilizantes, a distribuição de combustíveis, a pesquisa científica, o estímulo à indústria nacional ou a transição energética — a Petrobras perderá, mais que a viabilidade econômica, o sentido de existir. A descoberta do pré-sal terá sido, para a empresa, a maldição que a destruiu. E, como veremos à frente, o Brasil terá se privado das imensas possibilidades que a riqueza petroleira oferece para a reconstrução nacional.
Eliminar esta brecha – matando a Petrobras – é um objetivo que Jair Bolsonaro já explicitou. Para alcançá-lo, precisa de Paulo Guedes, da aristocracia financeira e… do PPI. Aqui está um calcanhar-de-Aquiles: a derrota do bolsonarismo pode salvar a Petrobras. Mas a defesa da empresa pública, do que ela foi e principalmente do que pode vir a ser, é parte essencial da disputa decisiva que o Brasil viverá este ano. A ela se dedica esta série de textos
________________________________________
1 Em outubro de 2016, o botijão custava R$ 69,21; a gasolina, R$ 4,458 e o diesel, R$ 3,76. A Agência Nacional de Petróleo ainda não divulgou os valores médios dos combustíveis, no varejo, após o mega-aumento. Para o cálculo, utilizamos os valores anteriores, acrescidos dos percentuais de reajuste nas refinarias determinado em 10/3 pela Petrobras.
2 A rende per capita dos norte-americanos é 5,95 vezes maior que a dos brasileiros. A dos suecos, 5,27 vezes maior; a dos alemães, 4,49 vezes; a dos franceses, 3,91 vezes; a dos italianos, 3,25 vezes; e a dos espanhóis, 2,87 vezes.
3Há uma única exceção, entre os grandes exportadores: a Noruega, em que os derivados estão dentro do padrão europeu devido ao uso consciente – e maciço – da riqueza petrolífera para financiar a transição energética.