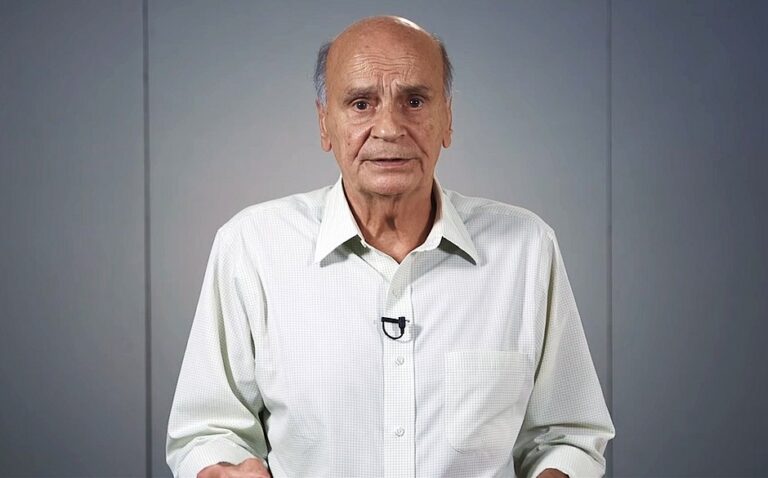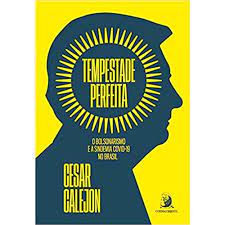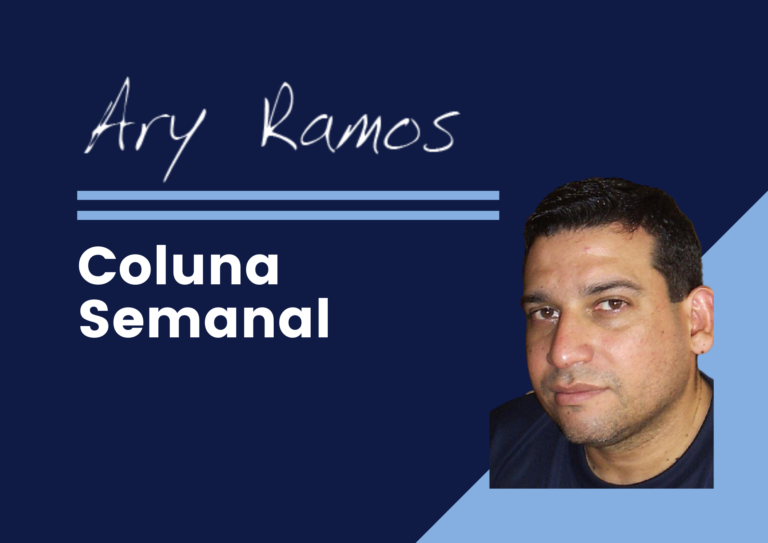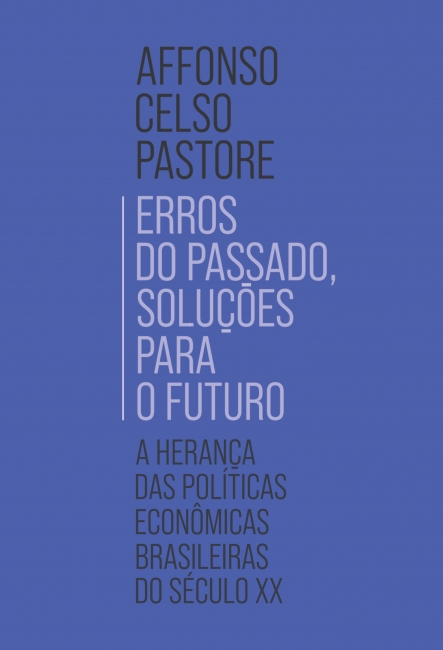Filósofo sul-coreano, uma das estrelas do pensamento atual, se aprofunda em sua cruzada contra os smartphones. Acredita que se transformaram em uma ferramenta de subjugação digital que cria viciados. Em entrevista, Han afirma que é preciso domar o capitalismo, humanizá-lo
Por Sergio C. Fanjul – Carta Maior – 11/10/2021
Com certa vertigem, o mundo material, feito de átomos e moléculas, de coisas que podemos tocar e cheirar, está se dissolvendo em um mundo de informação, de não-coisas, como observa o filósofo alemão de origem coreana Byung- Chul Han. Não-coisas que, ainda assim, continuamos desejando, comprando e vendendo, que continuam nos influenciando. O mundo digital cada vez se hibridiza de modo mais notório com o que ainda consideramos mundo real, ao ponto de confundirem-se entre si, fazendo a existência cada vez mais intangível e fugaz. O último livro do pensador, Não-coisas. Quebras no mundo de hoje, se une a uma série de pequenos ensaios em que o pensador sucesso de vendas (o chamaram de rockstar da filosofia) disseca minuciosamente as ansiedades que o capitalismo neoliberal nos produz.
Unindo citações frequentes aos grandes filósofos e elementos da cultura popular, os textos de Han transitam do que chamou de “A sociedade do cansaço”, em que vivemos esgotados e deprimidos pelas inapeláveis exigências da existência, à análise das novas formas de entretenimento que nos oferecem. Da psicopolítica, que faz com que as pessoas aceitem se render mansamente à sedução do sistema, ao desaparecimento do erotismo que Han credita ao narcisismo e exibicionismo atual, que proliferam, por exemplo, nas redes sociais: a obsessão por si mesmo faz com que os outros desapareçam e o mundo seja um reflexo de nossa pessoa. O pensador reivindica a recuperação do contato íntimo com a cotidianidade – de fato, é sabido que ele gosta de cultivar lentamente um jardim, trabalhos manuais, o silêncio. E se rebela contra “o desaparecimento dos rituais” que faz com que a comunidade desapareça e que nos transformemos em indivíduos perdidos em sociedades doentes e cruéis.
Byung-Chul Han aceitou esta entrevista como EL PAÍS, mas somente mediante um questionário por e-mail que foi respondido em alemão pelo filósofo e posteriormente traduzido e editado.
***
Como é possível que em um mundo obcecado pela hiperprodução e o hiperconsumo, ao mesmo tempo os objetos vão se dissolvendo e vamos rumo a um mundo de não-coisas?
Há, sem dúvida, uma hiperinflação de objetos que conduz a sua proliferação explosiva. Mas se trata de objetos descartáveis com os quais não estabelecemos laços afetivos. Hoje estamos obcecados não com as coisas, e sim com informações e dados, ou seja, não-coisas. Hoje somos todos infômanos. Chegou a se falar de datasexuais [pessoas que compilam e compartilham obsessivamente informação sobre sua vida pessoal].
Nesse mundo que o senhor descreve, de hiperconsumo e perda de laços, por que é importante ter “coisas queridas” e estabelecer rituais?
As coisas são os apoios que dão tranquilidade na vida. Hoje em dia estão em conjunto obscurecidas pelas informações. O smartphone não é uma coisa. Eu o caracterizo como o infômata que produz e processa informações. As informações são todo o contrário aos apoios que dão tranquilidade à vida. Vivem do estímulo da surpresa. Elas nos submergem em um turbilhão de atualidade. Também os rituais, como arquiteturas temporais, dão estabilidade à vida. A pandemia destruiu essas estruturas temporais. Pense no teletrabalho. Quando o tempo perde sua estrutura, a depressão começa a nos afetar.
Em seu livro se estabelece que, pela digitalização, nos transformaremos em homo ludens, focados mais no lazer do que no trabalho. Mas, com a precarização e a destruição do emprego, todos poderemos ter acesso a essa condição?
Falei de um desemprego digital que não é determinado pela conjuntura. A digitalização levará a um desemprego maciço. Esse desemprego representará um problema muito sério no futuro. O futuro humano consistirá na renda básica e nos jogos de computador? Um panorama desalentador. Com panem et circenses (pão e circo) Juvenal se refere à sociedade romana em que a ação política não é possível. As pessoas se mantêm contentes com alimentos gratuitos e jogos espetaculares. A dominação total é aquela em que as pessoas só se dedicam a jogar. A recente e hiperbólica série coreana da Netflix, Round 6, em que todo mundo só se dedica ao jogo, aponta nessa direção.
Em que sentido?
Essas pessoas estão totalmente endividadas e se entregam a esse jogo mortal que promete ganhos enormes. Round 6 representa um aspecto central do capitalismo em um formato extremo. Walter Benjamin já disse que o capitalismo representa o primeiro caso de um culto que não é expiatório, e sim nos endivida. No começo da digitalização se sonhava que ela substituiria o trabalho pelo jogo. Na verdade, o capitalismo digital explora impiedosamente a pulsão humana pelo jogo. Pense nas redes sociais, que incorporam elementos lúdicos para provocar o vício nos usuários.
De fato, o smatphone nos prometia certa liberdade… Não se transformou em uma longa corrente que nos aprisiona onde quer que estejamos?
O smartphone é hoje um lugar de trabalho digital e um confessionário digital. Todo dispositivo, toda técnica de dominação geram artigos cultuados que são utilizados à subjugação. É assim que a dominação se consolida. O smartphone é o artigo de culto da dominação digital. Como aparelho de subjugação age como um rosário e suas contas; é assim que mantemos o celular constantemente nas mãos. O like é o amém digital. Continuamos nos confessando. Por decisão própria, nos desnudamos. Mas não pedimos perdão, e sim que prestem atenção em nós.
Há quem tema que a internet das coisas possa significar algo assim como a rebelião dos objetos contra o ser humano.
Não exatamente. A smarthome [casa inteligente] com coisas interconectadas representa uma prisão digital. A smartbed [cama inteligente] com sensores prolonga a vigilância também durante as horas de sono. A vigilância vai se impondo de maneira crescente e sub-reptícia na vida cotidiana como se fosse o conveniente. As coisas informatizadas, ou seja, os infômatas, se revelam como informadores eficientes que nos controlam e dirigem constantemente.
O senhor descreveu como o trabalho vai ganhando caráter de jogo, as redes sociais, paradoxalmente, nos fazem sentir mais livres, o capitalismo nos seduz. O sistema conseguiu se meter dentro de nós para nos dominar de uma maneira até prazerosa para nós mesmos?
Somente um regime repressivo provoca a resistência. Pelo contrário, o regime neoliberal, que não oprime a liberdade, e sim a explora, não enfrenta nenhuma resistência. Não é repressor, e sim sedutor. A dominação se torna completa no momento em que se apresenta como a liberdade.
Por que, apesar da precariedade e da desigualdade crescentes, dos riscos existenciais etc., o mundo cotidiano nos países ocidentais parece tão bonito, hiperplanejado, e otimista? Por que não parece um filme distópico e cyberpunk?
O romance 1984 de George Orwell se transformou há pouco tempo em um sucesso de vendas mundial. As pessoas têm a sensação de que algo não anda bem com nossa zona de conforto digital. Mas nossa sociedade se parece mais a Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Em 1984 as pessoas são controladas pela ameaça de machucá-las. Em Admirável Mundo Novo são controladas pela administração de prazer. O Estado distribui uma droga chamada “soma” para que todo mundo se sinta feliz. Esse é nosso futuro.
O senhor sugere que a inteligência artificial e o big data não são formas de conhecimento tão espantosas como nos fazem crer, e sim mais “rudimentares”. Por que?
O big data dispõe somente de uma forma muito primitiva de conhecimento, a saber, a correlação: acontece A, então ocorre B. Não há nenhuma compreensão. A Inteligência Artificial não pensa. A Inteligência Artificial não sente medo.
Blaise Pascal disse que a grande tragédia do ser humano é que não pode ficar quieto sem fazer nada. Vivemos em um culto à produtividade, até mesmo nesse tempo que chamamos “livre”. O senhor o chamou, com grande sucesso, de a sociedade do cansaço. Nós deveríamos nos fixar na recuperação do próprio tempo como um objetivo político?
A existência humana hoje está totalmente absorvida pela atividade. Com isso se faz completamente explorável. A inatividade volta a aparecer no sistema capitalista de dominação com incorporação de algo externo. É chamado tempo de ócio. Como serve para se recuperar do trabalho, permanece vinculado ao mesmo. Como derivada do trabalho constitui um elemento funcional dentro da produção. Precisamos de uma política da inatividade. Isso poderia servir para liberar o tempo das obrigações da produção e tornar possível um tempo de ócio verdadeiro.
Como se combina uma sociedade que tenta nos homogeneizar e eliminar as diferenças, com a crescente vontade das pessoas em ser diferentes dos outros, de certo modo, únicas?
Todo mundo hoje quer ser autêntico, ou seja, diferente dos outros. Dessa forma, estamos nos comparando o tempo todo com os outros. É justamente essa comparação que nos faz todos iguais. Ou seja: a obrigação de ser autênticos leva ao inferno dos iguais.
Precisamos de mais silêncio? Ficar mais dispostos a escutar o outro?
Precisamos que a informação se cale. Caso contrário, explorará nosso cérebro. Hoje entendemos o mundo através das informações. Assim a vivência presencial se perde. Nós nos desconectamos do mundo de modo crescente. Vamos perdendo o mundo. O mundo é mais do que a informação. A tela é uma representação pobre do mundo. Giramos em círculo ao redor de nós mesmos. O smartphone contribui decisivamente a essa percepção pobre de mundo. Um sintoma fundamental da depressão é a ausência de mundo.
A depressão é um dos mais alarmantes problemas de saúde contemporâneos. Como essa ausência do mundo opera?
Na depressão perdemos a relação com o mundo, com o outro. E nos afundamos em um ego difuso. Penso que a digitalização, e com ela o smartphone, nos transformam em depressivos. Há histórias de dentistas que contam que seus pacientes se aferram aos seus telefones quando o tratamento é doloroso. Por que o fazem? Graças ao celular sou consciente de mim mesmo. O celular me ajuda a ter a certeza de que vivo, de que existo. Dessa forma nos aferramos ao celular em situações críticas, como o tratamento dental. Eu lembro que quando era criança apertava a mão de minha mãe no dentista. Hoje a mãe não dá a mão à criança, e sim o celular para que se agarre a ele. A sustentação não vem dos outros, e sim de si mesmo. Isso nos adoece. Temos que recuperar o outro.
Segundo o filósofo Fredric Jameson é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O senhor imaginou algum modo de pós-capitalismo agora que o sistema parece em decadência?
O capitalismo corresponde realmente às estruturas instintivas do homem. Mas o homem não é só um ser instintivo. Temos que domar, civilizar e humanizar o capitalismo. Isso também é possível. A economia social de mercado é uma demonstração. Mas nossa economia está entrando em uma nova época, a época da sustentabilidade.
O senhor se doutorou com uma tese sobre Heidegger, que explorou as formas mais abstratas de pensamento e cujos textos são muito obscuros até o profano. O senhor, entretanto, consegue aplicar esse pensamento abstrato a assuntos que qualquer um pode experimentar. A filosofia deve se ocupar mais do mundo em que a maior parte da população vive?
Michel Foucault define a filosofia como uma espécie de jornalismo radical, e se considera a si mesmo jornalista. Os filósofos deveriam se ocupar sem rodeios do hoje, da atualidade. Nisso sigo Foucault. Eu tento interpretar o hoje em pensamentos. Esses pensamentos são justamente o que nos fazem livres.