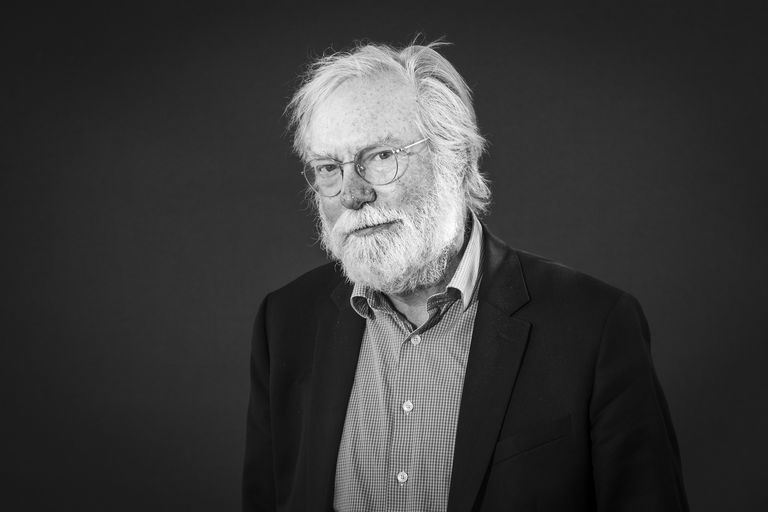Carta Capital, 14/11/2020.
O colapso no fornecimento de energia no Amapá deixou expostas as inconsequências e inconveniências da privatização de empresas que produzem insumos universais. São universais aqueles ingredientes sem os quais uma economia moderna não pode funcionar. A energia elétrica é um desses insumos universais. Seria de bom alvitre explicar essa banalidade para a turma do Paulo Guedes e seus sequazes da Faria Lima.
Para não vender gato por lebre, cumpre explicar que a febre de privatizações avassalou o planeta desde o início dos anos 80 do século passado. Nesse momento, tornaram-se dominantes as palavras de ordem que afirmavam a superioridade e maior eficiência econômica dos empreendimentos privados vis-à-vis com as empresas públicas.
Na verdade, informa o economista Michel Aglietta em seu livro Capitalisme le Temps de Rupture, as operações de fusões e aquisições estão na origem de um intenso processo de concentração de capital que visa aumentar a rentabilidade da empresa, aderindo a uma posição monopolista ou oligopolista, dependendo das condições de concorrência nos diversos mercados. A estratégia de “crescimento externo” é provável que cumpra diferentes metas para a empresa, como acesso a novos mercados, particularmente no plano internacional. Na linguagem de Aglietta, o “crescimento externo” – fusões e aquisições – contrapõe-se ao “crescimento interno”, aquele sustentado pelo aumento da capacidade produtiva mediante a compra de máquinas, equipamentos e contratação de mão de obra.
Nas décadas posteriores à ruptura dos anos 1980, o Ocidente assistiu a uma redução progressivamente significativa do investimento em nova capacidade, enquanto o Dragão do Oriente subia sua taxa de investimento produtivo para 50% do PIB (esse exagero foi corrigido posteriormente e a taxa de investimento da China recuou para 41,5%).
As transformações nas estratégias das empresas explicam a sanha das privatizações de bens públicos, sobretudo os chamados monopólios naturais, como é o caso de energia, saneamento, logística. Isso para não falar dos serviços públicos, tais como saúde, educação, transporte urbano. A pandemia, diga-se, escancarou a insuficiência da oferta de bens e serviços públicos nas sociedades capitalistas.
No caso das privatizações, a financeirização rentista exercita seus propósitos ao se beneficiar de um ativo existente e gerador de renda monopolista, criado com dinheiro público. A onda de privatizações obedece à lógica patrimonialista e rentista do moderno capital financeiro, em seu furor de aquisições de ativos já existentes. Nada tem a ver com a qualidade dos serviços prestados, mesmo porque os exemplos são péssimos. Em geral, no mundo, a qualidade dos serviços prestados pelas empresas privatizadas declinou, acompanhando o aumento de tarifas e a deterioração dos trabalhos de manutenção.
A decepção popular com as experiências de privatização contamina gregos e troianos, países ditos adiantados e outros nem tanto. A experiência privatista revela suas entranhas: os capitais desejam ardentemente adquirir empresas produtoras de serviços públicos, primeiro para realizar formidáveis ganhos de capital no momento das aquisições, depois para abocanhar a renda monopolista.
Já relatei nesta coluna que, na Era Thatcher, a Inglaterra privatizou o abastecimento de água e os transportes interurbanos. Num e noutro caso as tarifas subiram muito rapidamente. Em algumas cidades inglesas, as tarifas de água tornaram-se abusivas. O serviço? Uma droga. Os lucros naturalmente aumentaram de forma explosiva.
Os privatistas, com a maior cara de pau, usam a evolução da rentabilidade para mostrar a maior eficiência da empresa privada. Eficiência privada, ineficiência social. No caso dos ônibus interurbanos, além da brutal elevação de tarifas, os concessionários privados simplesmente fecharam as linhas menos rentáveis, deixando muitos ingleses sem transporte.
O economista e jornalista Will Hutton, em seu livro A Situação em Que nos Encontramos, descreve com requintes de crueldade a condição do consumidor inglês de serviços públicos submetido aos caprichos e arbitrariedades dos controladores e administradores dos monopólios naturais, como transporte público e abastecimento de água. Só não reclamam, é claro, os possuidores de ações dessas empresas, que celebram os preços de seus ativos subindo sem descanso. E a farra do bode.
Imaginam os crédulos do mercado que a vida poderia estar melhor se os gordos benefícios fossem utilizados para sustentar um programa de investimentos destinados a garantir a melhora dos serviços. Nada disso. Os resultados vão forrar os bolsos dos acionistas, sob a forma de recompra de ações e distribuição de dividendos. Enquanto isso, os consumidores se lascam.
Luiz Gonzaga Belluzzo é economista e professor da Universidade de Campinas (SP).