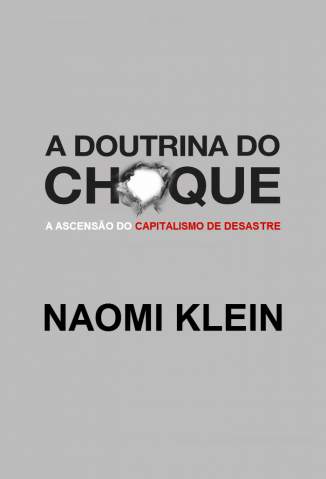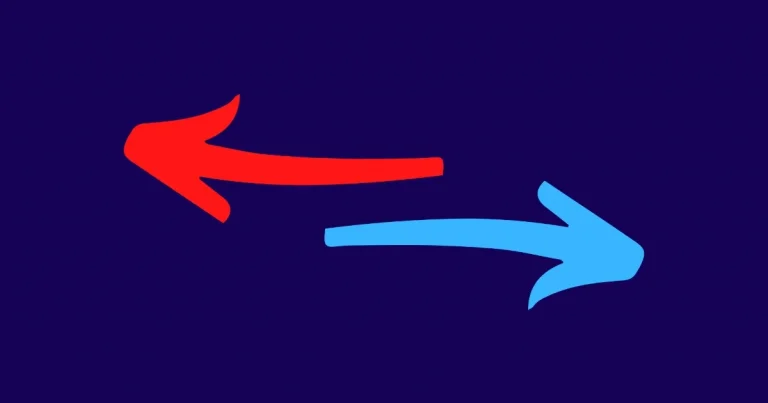IHU On Line – Edição 550 – Novembro 2021
Paula Sibilia, professora e pesquisadora da cultura digital, fala sobre como o debate renovado sobre o metaverso apresenta uma plataforma que em essência é totalmente nova em relação a experimentos anteriores.
Enquanto o metaverso distópico, por exemplo, do livro Snow Crash, de Neal Stephenson, de três décadas atrás, apresentava um mundo violento e cinzento, hoje, quando se pensa em metaverso, essa possibilidade assume outros contornos, constituindo-se em uma novidade. “De fato, ainda não existe [o metaverso], e muitos inclusive duvidam que possa se tornar viável no curto prazo. Mas há orçamentos bilionários e interesses de peso dispostos a construí-lo com urgência, portanto, é altamente verossímil”, propõe Paula Sibilia, em entrevista por e-mail à IHU On-Line.
O contexto, quando comparado às distopias dos anos 1990, é completamente outro e a experiência da pandemia da Covid-19, somada ao convívio intenso das redes sociais, também foi capaz de acelerar alguns processos. “Habitamos agora um terreno fértil para as realidades paralelas, virtuais, aumentadas, filtradas, turbinadas, instagrameadas e ambiguamente falsas, de um modo geral. A estranheza do isolamento motivado pela pandemia de Covid-19 não fez mais do que intensificar essa tendência, adubando um solo muito propício para que brotem todo tipo de metaversos bem-sucedidos”, descreve.
Os riscos, no entanto, estão no aprofundamento da algoritmização financeirizada de todas as dimensões da existência digital nesses ambientes. “E o capitalismo baseado em dados está no cerne dessa empreitada; disso, me parece, não há dúvida alguma. Tendo testemunhado o que vem ocorrendo nos últimos anos com o uso dos algoritmos nas redes sociais da internet, é assustador imaginar o que pode vir a acontecer numa atualização desses sistemas que leve ainda mais longe a ilusão de uma ‘bolha sem fora’ suscitada pela experiência da interação digital”, avalia.
Paula Sibilia é ensaísta e pesquisadora argentina residente no Rio de Janeiro e dedica-se ao estudo de diversos temas culturais contemporâneos sob a perspectiva genealógica, contemplando particularmente as relações entre corpos, subjetividades, tecnologias e manifestações midiáticas ou artísticas. Fez graduação em Comunicação e em Antropologia na Universidade de Buenos Aires – UBA, na Argentina; já no Brasil, fez mestrado em Comunicação na Universidade Federal Fluminense – UFF, doutorado em Saúde Coletiva na Universidade Estadual do Rio de Janeiro – IMS-UERJ e em Comunicação e Cultura na Universidade Federal do Rio de Janeiro – ECO-UFRJ. Desde 2006, é professora do Departamento de Estudos Culturais e Mídia, bem como do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense – UFF.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – O metaverso não é um tema propriamente novo, sua origem remete à ficção científica ainda no final do século 20. Como a senhora compreende a noção e qual sua atualidade?
Paula Sibilia – Sim, mas há um detalhe bastante significativo: essa obra literária de 1995, Snow Crash (São Paulo: Editora Aleph, 2015), na qual foi cunhada a palavra “metaverso” para nomear esse tipo de experiência “virtual” que agora inspira as empresas mais poderosas do planeta, era um romance distópico. O livro de Neal Stephenson apresentava um mundo cinza e violento, povoado por criaturas viciadas em seus brinquedos tecnológicos e dominado por corporações gigantescas que, na época, consideravam-se puramente fictícias. Por isso eu diria que se trata, sim, de algo novo. De fato, ainda não existe, e muitos inclusive duvidam que possa se tornar viável no curto prazo.
Mas há orçamentos bilionários e interesses de peso dispostos a construí-lo com urgência, portanto, é altamente verossímil.
Gostaria de ressaltar, porém, essa questão do nome escolhido. Afinal, é como se Mark Zuckerberg tivesse decidido rebatizar Matrix a sua companhia, por exemplo, aludindo a um universo ficcional mais próximo do imaginário contemporâneo. O metaverso imaginado por Stephenson há três décadas era uma sorte de Matrix; e, levando em consideração o que tem acontecido do lado de cá da realidade desde então, custa acreditar que este nosso metaverso do século XXI venha a se tornar algo muito mais auspicioso. Ao contrário, talvez a realidade volte a superar a ficção, como aconteceu com o já antiquado “ciberespaço” dos inícios da internet.
IHU On-Line – No começo do século 21 houve a experiência, que restou frustrada, do Second Life. Era, também, um outro momento tecnológico, com equipamentos e conexões mais precárias que as atuais. O que muda agora, sobretudo quando levamos em conta a recente aposta do Facebook e da Microsoft no metaverso como futuro de seus negócios?
Paula Sibilia – Em primeiro lugar, não diria que a experiência de Second Life foi frustrada. Tanto é que a estamos lembrando aqui como uma precursora destes “universos virtuais” recém-anunciados. Além dos avanços puramente técnicos, que foram muito contundentes e prometem continuar, eu acrescentaria outro fator que vem a se somar agora e que não estava tão presente alguns anos atrás. Refiro-me à familiaridade que temos desenvolvido com as “realidades paralelas”. Não apenas os cenários publicitários de ambientes como Instagram ou Tinder, nos quais se tornou habitual o uso de “filtros” e retoques, mas também a “gamificação” de diversas atividades para adultos, a estética do “reality-show” permeando todos os gêneros midiáticos e artísticos, e inclusive fenômenos tão perturbadores como as fake news, os negacionismos e a “pós-verdade”.
Foi se aprofundando, nos últimos anos, essa fragilidade do real perpassada pela cultura do espetáculo. Habitamos agora um terreno fértil para as realidades paralelas, virtuais, aumentadas, filtradas, turbinadas, instagrameadas e ambiguamente falsas, de um modo geral. A estranheza do isolamento motivado pela pandemia de Covid-19 não fez mais do que intensificar essa tendência, adubando um solo muito propício para que brotem todo tipo de metaversos bem-sucedidos.
IHU On-Line – Até que ponto o metaverso abre horizontes ao que compreendemos como experiência humana e a partir de que ponto ele reduz o ser humano às lógicas e interesses do capitalismo pós-industrial?
Paula Sibilia – Não sabemos o que pode acontecer, nem se de fato essa tecnologia irá se desenvolver e obter o sucesso esperado. Afinal, pelo menos no caso do Facebook (ou Meta), está claro que se trata de uma estratégia audaciosa para se reinventar como empresa, num momento de crise em que chovem críticas gravíssimas a seu modelo de negócios, com vazamentos e denúncias, investigações judiciais e desconfiança do público. Contudo, sem ignorar todos esses fatores, a aposta faz sentido. E o capitalismo baseado em dados está no cerne dessa empreitada; disso, me parece, não há dúvida alguma. Tendo testemunhado o que vem ocorrendo nos últimos anos com o uso dos algoritmos nas redes sociais da internet, é assustador imaginar o que pode vir a acontecer numa atualização desses sistemas que leve ainda mais longe a ilusão de uma “bolha sem fora” suscitada pela experiência da interação digital.
IHU On-Line – O que significa pensar, parafraseando e adaptando uma proposição que a senhora traz em O homem pós-orgânico, que, no capitalismo contemporâneo das plataformas digitais, “tudo que é sólido se desmancha na luz”?
Paula Sibilia – Ao propiciar vivências “virtuais” que prescindem de interfaces mais sólidas como as telas e os teclados, o metaverso promete criar ambientes de pura luz para nossas interações, decompondo a espacialidade e nossos próprios corpos em imagens digitais. Não deveríamos esquecer, porém, que a imaterialidade desses mundos é ilusória, visto que, em algum lugar do planeta, há toneladas de equipamentos de enorme potência capazes de sustentar essa aparente leveza, e muita gente trabalhando em péssimas condições para manter isso funcionando. Do mesmo modo, embora os serviços de acesso a essas experiências possam ser gratuitos, como acontece agora com as redes sociais tipo Facebook ou Instagram, também é necessário possuir toda sorte de artefatos e chaves mágicas para fazer login. Nada indica que isso mudará no caso do metaverso.
IHU On-Line – Por outro lado, parece interessante pensar dialeticamente as reconfigurações que a noção de humano e, propriamente, de corpo sofrem com tecnologias digitais como a do metaverso. O que implica, portanto, pensar no atual contexto a obsolescência do corpo orgânico?
Paula Sibilia – A materialidade orgânica do corpo humano sempre representou um limite incômodo para os impulsos “virtualizantes” das tecnologias digitais. Há, inclusive, certo ressentimento pela consistência carnal, como sugere uma das acusações mais graves contra o Instagram reveladas nos documentos da empresa recentemente vazados: a exposição constante a imagens de corpos supostamente “perfeitos” estaria causando sofrimento mental com sérias consequências ao se comparar com elas. As telas de vidro e os aplicativos de edição repelem a viscosidade biológica e tendem a redesenhar os corpos como imagens lisas e puras.
A experiência da pandemia também contribuiu para intensificar estas questões, já que a grande maioria das atividades que antes ainda costumavam ser realizadas de modo presencial passou a ocorrer exclusivamente nas telas interconectadas por dispositivos como Zoom ou Meet. Todo esse treinamento do último par de anos não terá sido em vão: viramos, literalmente, avatares. E, nesse contato cotidiano com o espelho digital, foi se incrementando a vontade de “filtrar” a própria imagem. De fato, nos protótipos de metaversos já existentes, como o jogo Fortnite, é habitual que os usuários comprem skins ou “peles” pós-orgânicas para seus personagens.
IHU On-Line – O projeto, digamos assim, de humanidade do metaverso parece ser, justamente, o de ultrapassar os limites impostos pela organicidade do humano. As fronteiras corpóreas – geográficas, biológicas e temporais – são reorganizadas. Quais são as consequências desta promessa fáustica?
Paula Sibilia – Não sabemos, mas provavelmente ficaremos insatisfeitos e iremos querer mais. Se não, como fariam as empresas para continuar ganhando dinheiro atiçando nossos sonhos e desejos? A falta de limites é uma marca tanto das redes digitais quanto das subjetividades contemporâneas, com elas compatíveis, e os mercados aproveitam.
IHU On-Line – O que é a vida no metaverso? Faz sentido esse conceito e, se sim, de que forma?
Paula Sibilia – Imagino que um dos usos mais habituais desses ambientes será como “entretenimento”, ou seja, um portal para a evasão como tantos outros, alimentado pela publicidade e visando a perpetuar o consumo. Nesse sentido, não vejo uma diferença radical com os dispositivos digitais já existentes, embora seja claramente um passo a mais rumo a essa indistinção entre o dentro e o fora. Essa fronteira, já bastante tênue e cada vez mais nebulosa, tende a desaparecer de vez ao serem eliminadas as interfaces mais duras (teclados, telas, aparelhos) em proveito dos sensores ou das conexões neurais. “Em vez de apenas ver o conteúdo, você estará dentro dele“, explicou Zuckerberg numa entrevista.
Por isso, provavelmente esses dispositivos serão muito mais eficazes que os atuais na sua capacidade de capturar nossa atenção e nossos sentidos. Considerando o que já vem acontecendo nas redes bidimensionais da atualidade, é preocupante o que poderia gerar uma precisão extremamente customizada para cada “usuário” ou consumidor.
IHU On-Line – Por fim, até que ponto as possibilidades existenciais-tecnológicas inauguram um certo tipo de eugenia composta pela hibridização entre dimensões biológicas e digitais?
Paula Sibilia – Quando antes mencionei a possibilidade de comprar “peles” para os nossos avatares, estava pensando em algo assim, pois de fato já existe um mercado comparável na realidade analógica: cirurgias plásticas e um amplo cardápio de intervenções dermatológicas, também estimuladas pelo crescente uso de telas e imagens para a interação social. Em contraste com o escopo limitado de possibilidades que nossa carcaça biológica nos oferece, o mercado de retoques digitais é virtualmente infinito. Em suma, poderemos encarnar todas as peles imagináveis que sejamos capazes de comprar. Contudo, assim como ocorre na versão analógica do drama, é provável que não seja suficiente: continuaremos insatisfeitos e querendo mais (e o mercado não cessará de lançar tentadoras novidades), pois essa é precisamente a definição do consumidor. E, ao que tudo indica, é isso que serão os habitantes do metaverso.
IHU On-Line – Como pensar o metaverso em um contexto brasileiro, mas também global, de profunda desigualdade?
Paula Sibilia – Imagino que haverá metaversos para todos os gostos e bolsos, ou para quase todos, como ocorre atualmente com as versões bidimensionais da brincadeira.
IHU On-Line – Deseja acrescentar algo?
Paula Sibilia – Talvez chamar a atenção para o fato de que a internet, atualmente, ainda excede as plataformas comandadas por empresas como Facebook, Amazon e Google. No entanto, nos últimos anos esse território parece ter sido praticamente conquistado pelas corporações; de fato, para muita gente as redes sociais são sinônimo da internet. Isso não é por acaso, claro, pois foram delineadas várias estratégias nesse sentido; contudo, a sua eficácia não deixa de surpreender. Cabe questionar se o metaverso contempla algum tipo de “fora” nesse sentido; ou seja, se haverá uma internet que não pertença aos “cercadinhos” das plataformas e, nesse caso, como se implementará o acesso a esses interstícios, com que artefatos e sob quais regras.