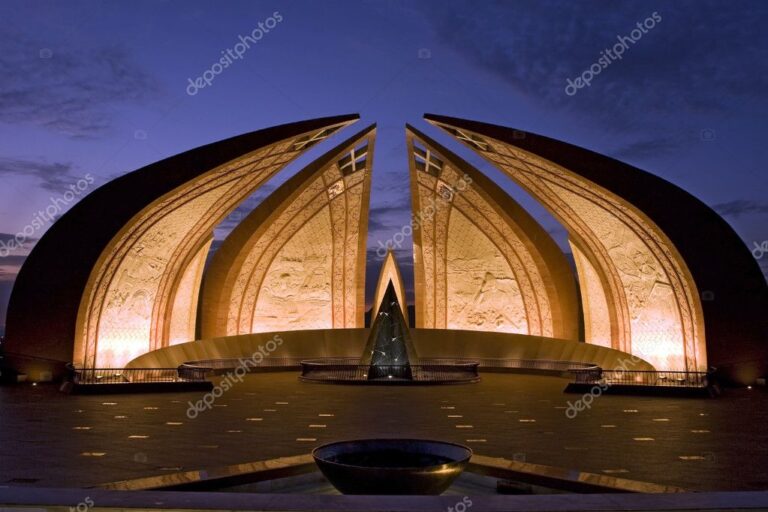As crises contemporâneas estão redesenhando os conceitos de hegemonia, vivemos momentos de grandes transformações, países dominantes perdem espaços no cenário internacional e outras nações almejam espaços mais ativos nos debates internacionais, criando conflitos que impactam na comunidade global e chacoalhando as estruturas econômicas e políticas. Neste momento, as crises geradas pela pandemia e pela guerra da Ucrânia estão impondo posicionamentos que devem ser pensados e planejados internamente para evitarmos posições apaixonadas e desprovidas de reflexões mais elaboradas.
A pandemia está alterando o comportamento dos indivíduos, levando os governos a buscarem, internamente, novos modelos de produção para desenvolverem nacionalmente os produtos estratégicos para o consumo local, evitando a falta de matérias primas e um incremento da dependência de outras nações, consolidando, com isso, a autonomia fundamental para garantir a soberania nacional.
As novas estratégias destas nações passam por fortes investimentos em ciência e tecnologia, capacitando os atores nacionais para instrumentos de desenvolvimento tecnológico, garantindo espaços de pesquisas de ponta e atraindo pesquisadores de relevo no cenário internacional, ainda mais, num momento de incertezas e instabilidades que perpassam a sociedade internacional, garantindo estabilidade profissional, novas e atraentes perspectivas para construirmos na academia e nos centros de pesquisas espaços de inovações e garantindo a possibilidade de retomarmos a posição de referência internacional na ciência e na tecnologia mundiais.
A guerra da Ucrânia nos traz inúmeros desafios, este conflito está impactando em toda a comunidade internacional, elevando o preço de variados produtos e mercadorias, exigindo dos governos nacionais uma ampla reflexão sobre a adoção de políticas públicas para dirimir estes preços crescentes, como país produtor a atuação mais efetiva se faz necessário, ainda mais, num momento de degradação, aumento da fome e da exclusão social, desemprego elevado, violência crescente, insegurança generalizada e taxas de juros estratosféricas que impactam negativamente para grande parte da população e garantindo lucros crescentes para banqueiros, rentistas e financistas.
Neste momento, precisamos compreender os desafios da comunidade internacional, a moeda norte-americana que dominou a comunidade global depois da segunda guerra mundial tende a perder espaço na sociedade mundial. Os valores centrados no liberalismo se mostraram insuficientes para melhorar a qualidade de vida da população, embora encontremos defensores aguerridos desta escola de pensamento econômico na grande mídia comercial e nos grandes financistas nacionais e internacionais, defendendo seus interesses imediatos e seus lucros elevados, defendendo o intervencionismo governamental apenas para dirimir os riscos de seus setores financeiros, garantindo o incremento de seus lucros em detrimentos dos interesses da comunidade.
Neste momento de pós-pandemia percebemos grandes desafios para a sobrevivência coletiva, onde elencamos a necessidade de interiorizarmos a proteção do meio ambiente, combatendo formas degradantes de acumulação que garantem grandes lucros para poucos setores em detrimento da população. Além da preocupação com o Meio Ambiente, precisamos repensar modelos de negócios que estão gerando degradação social, desequilíbrios emocionais e espirituais, contribuindo massivamente para aumentar a pobreza e a desigualdade em escala planetária.
Caminhando para o final deste artigo, gostaria de destacar que um dos maiores desafios da sociedade contemporânea é estimular o investimento produtivo, a geração de renda, contribuindo para a construção da dignidade dos indivíduos e garantindo, para todos as pessoas, trabalhos decentes, descanso merecido e aposentadoria condigna, para isso, precisamos de ousadia política, obrigando que os recursos monetários sejam empregados na geração de empregos e sobrevivência de todos os trabalhadores em detrimento dos grandes conglomerados econômicos e financeiros que nada produzem e lucram bilhões numa sociedade endividada, fortemente polarizada, sem perspectivas e desesperançada.
Ary Ramos da Silva Júnior, Bacharel em Ciências Econômicas e Administração, Especialista em Economia Comportamental (Unyleya), Mestre, Doutor em Sociologia e professor universitário. Artigo publicado no jornal Diário da Região, Caderno Economia, 18/05/2022.