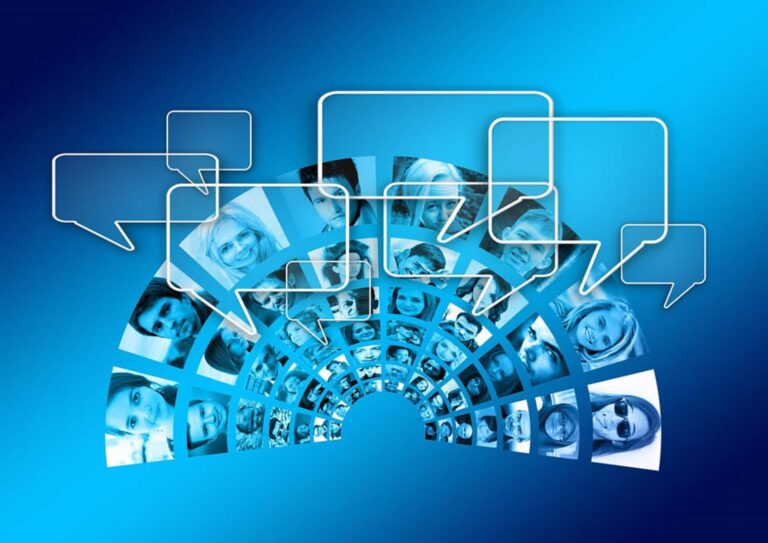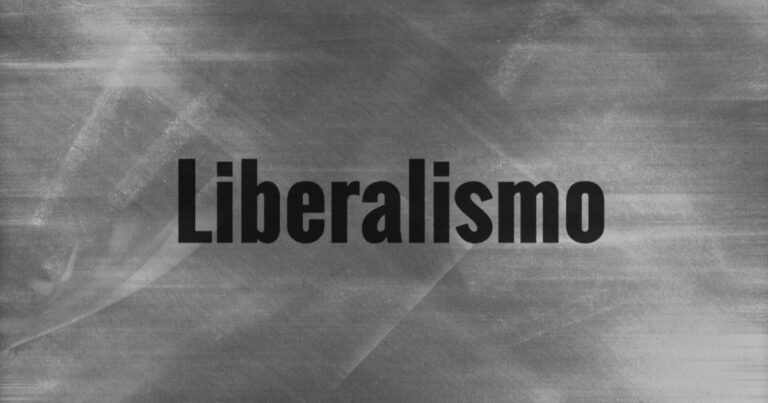Para historiadora francesa, movimentos emancipatórios derivam em posições hostis à liberdade de expressão
Naná DeLuca, Jornalista da Folha e mestre em letras pela USP
Folha de São Paulo, 27/03/2022
[RESUMO] A historiadora francesa Elisabeth Roudinesco fala sobre como movimentos identitários abriram mão de conceitos mais amplos para privilegiar marcadores particulares.
A historiadora e psicanalista francesa Elisabeth Roudinesco, 77, conhecida por biografar grandes pensadores como Sigmund Freud e Jacques Lacan, diz ter certeza de que “o mundo está se desfazendo para o nascer de outro”. Para ela, isso é bom, mas o percurso errático dessa transformação a preocupa.
Essa inquietação é o objeto do seu mais recente livro, “O Eu Soberano” (Zahar), que busca compreender as “derivas identitárias” —o encerramento sistemático dos sujeitos em identidades fechadas—, que hoje estão no centro do debate público em vários países. Para conduzir sua pesquisa, ela se pergunta: como os movimentos emancipatórios do século 20 se tornaram o que são hoje?
Relendo clássicos do pensamento francófono, como Aimé Césaire, Frantz Fanon, Jacques Derrida e Michel Foucault, ao lado de importantes trabalhos atuais, como os de Judith Butler e Gayatri Spivak, a historiadora explora as mudanças nos conceitos de gênero, raça e identidade para explicar as transformações na militância e na produção acadêmica da esquerda. O livro também discute o identitarismo da extrema direita, baseado no nacionalismo e no ódio. Para Roudinesco, se compreende bem isso no Brasil de Jair Bolsonaro.
Em entrevista à Folha, a historiadora também discute questões sobre o Estado de Direito, a laicidade, o fanatismo religioso e as mudanças linguísticas para apontar que o mundo está mudando, “mas ninguém pode dominar essa transformação”.
Por que a sra. decidiu escrever “O Eu Soberano”? É assunto em voga e um fenômeno que já existe há 30 anos. Os engajamentos identitários e o que chamo de suas derivas começaram após a queda do Muro de Berlim, com a substituição de questões de classe por aquelas da identidade.
O que me interessava era olhar a questão do gênero e da raça. Como chegamos a esse ponto de grande deriva? O que partia de uma boa posição emancipatória —para mulheres, negros e homossexuais— começou a derivar em direção a posições hostis à liberdade de expressão. Em nome dessas reivindicações, hoje se quer proibir textos e destruir estátuas, por exemplo.
Os autores atuais dos quais trato no livro se inspiram em grandes pensadores, como Aimé Césaire, que reivindicou a palavra “negro” de forma positiva, para afirmar uma cultura negra; Franz Fanon, que nunca adotou uma postura identitária, mas foi um anticolonialista refinado; em Edward Said e seu trabalho sobre o olhar do Ocidente para o Oriente; e também em Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze e Jacques Lacan.
Mas se inspiram em todos esses intelectuais para projetos que nada têm a ver nem com liberdade nem com emancipação. Quis entender como chegamos a essa deriva e olhar para o identitarismo de extrema direita, que não tem nada de deriva, pois sempre foi a mesma coisa.
Qual foi a recepção do livro na França? O livro foi lançado em um momento de enorme crise de deriva identitária no país, em março de 2021. Não foi minha intenção. Quando comecei a escrever, há três anos, o cenário era outro.
O debate explodiu na França com ataques extremamente reacionários, de um lado, e ultra-esquerdistas, de outro, em um contexto político bastante complicado. Algo que vocês entendem no Brasil, pois têm um identitário de extrema direita no poder, Jair Bolsonaro.
Como a identidade passa a ser central no debate público? A partir da década de 1980, a identidade passa a ser entendida por “eu sou eu, isso é tudo” —o sujeito se define, por exemplo, apenas pela cor de sua pele. Como explico no início do livro, a identidade não é mais “eu sou como um outro” ou “eu sou todo o mundo” —não são uma identidade e um sujeito abertos.
A deriva identitária é se definir unicamente por um marcador particular. Ou seja, abandonar a subjetividade universal e também a subjetividade da diferença. Definir-se unicamente como negro, homossexual, transgênero etc.
Não é uma reivindicação como aquelas ligadas à classe, pois é uma marcação territorial e limitada.
E o pensamento interseccional? A sra. o acha reducionista? De início, é uma excelente ideia. A interseccionalidade já existia em todos os trabalhos contemporâneos por ser um método comparativo. O pensamento interseccional é a convergência de lutas. Não tenho nada contra.
O que acho problemático é a manutenção da palavra “raça”, pois cientificamente não existe raça. Há pigmentações de peles, há culturas, mas não raça. A retomada dessa ideia não é mais como fez Aimé Césaire —”negro sou, negro fico”—, que subverte o estigma racista e reivindica a negritude como cultura. Agora passamos do ponto de reivindicar nossa cultura para reivindicar a raça e marcar uma identidade.
Como explicar a ideia de deriva de maneira mais ampla? Essa ideia de deriva define um pouco nosso mundo. No sentido de Derrida, há a ideia de um velho mundo —das certezas ideológicas, da ordem do patriarcado— que não existe mais.
Essa ordem do mundo foi desfeita.
A deriva da esquerda é a flutuação que parte rumo a um destino, mas termina por chegar em seu ponto contrário. Muito diferente do identitarismo e do nacionalismo da extrema direita, que não deriva nunca, é estático. No caso das derivas à esquerda, há também a criação de um falar obscuro.
Por exemplo? Palavras como racializado, decolonial, generificado, cisgeneridade, todo esse novo vocabulário, sistematizado para criar uma linguagem do pertencimento. Homi Bhabha, traduzido em todo o mundo, creio ser o autor de falar mais obscuro de que trato no livro. Mas também falo de Gayatri Spivak e mesmo de Judith Butler. Essa linguagem é complexa, mas interessante, pois permite dizer absolutamente tudo, incluindo o seu contrário.
O que a sra. acha dessas mudanças na linguagem? Adotei uma posição de nuances. Antigamente, dizia-se sobre uma ministra de Estado, “madame le ministre” [senhora o ministro]. Hoje, se utiliza o artigo feminino. Acho positivo, mas a feminização sistemática de palavras gera casos até ridículos. O mundo está se desfazendo para o nascer de outro, mas ninguém pode dominar essa transformação. É nesse ponto que critico as derivas identitárias à esquerda.
Dominar em que sentido? Há algo que se desfez, simbólica e culturalmente, com a conquista de mais igualdade para mulheres, a descriminalização de homossexuais, toda a questão dos transgêneros emergiu também. Tudo isso é bom. O que critico é a posição militante de querer dominar aquilo que não se controla, como a língua.
Uma vez que algo é incorporado à língua, é impossível controlar. Se tentamos, no fundo criamos novos dogmas e impomos um sistema autoritário. Para o intelectual, é preciso observar e deixar as transformações acontecerem em nossa sociedade e não buscar conquistas militantes.
O que era vital nos grandes autores da década de 1960 — Césaire, Derrida, Foucault, Fanon, Deleuze— é essa característica de pensar profundamente naquilo que se desfazia na sociedade, sem tentar ordená-la. É por isso, inclusive, que foram muito atacados pela extrema direita e conservadores.
Qual é a diferença entre o identitarismo da extrema direita e o da esquerda? O identitarismo da extrema direita é sempre baseado no medo de ser substituído, no nacionalismo e na afirmação arcaica de que pertencemos a um território e a uma identidade fixos. É também o ódio por qualquer outro —imigrante, judeu, árabe, indígena. Esse identitarismo se baseia na ideia de que nascemos com uma identidade que deve ser conservada.
Isso não é comparável às derivas identitárias da esquerda, não há simetria. Embora esses identitarismos coabitem uma mesma época, são processos completamente distintos.
O identitarismo da extrema direita pode explicar a ascensão de políticos como Donald Trump ou Jair Bolsonaro? Com certeza, é o medo de que o mundo mude. Medo do comunismo, dos homossexuais, de que o homem branco se apague.
Algo interessante sobre o identitarismo da extrema direita no Brasil e nos EUA é que, muito diferente do caso da Europa, essas são sociedades miscigenadas. Historicamente, tanto em uma quanto em outra há o medo de que a população “torne-se negra”, o que é ridículo. A miscigenação é algo formidável.
Mas o Brasil é extremamente racista. O racismo é um problema econômico, social, cultural. Evidentemente. Os EUA também. Eu diria que, quanto mais há miscigenação, mais há o medo do outro e, consequentemente, o racismo, porque a miscigenação rompe barreiras imaginárias.
Vejamos o caso de Barack Obama. Ele é miscigenado. Culturalmente, no contexto dos EUA, é muito mais próximo de um Kennedy que de um homem negro da periferia. Obama é um puro produto das melhores universidades americanas, o que mostra que a questão não é a cor, é a cultura.
Para retomar a questão anterior: o que explica que a ascensão de políticos extremistas, ligada ao identitarismo da extrema direita, seja um fenômeno simultâneo em tantos países tão diferentes entre si? O mundo é agora multipolar, em oposição ao mundo bipolar da Guerra Fria. Há uma crise nisso que chamamos de sociedades ocidentais e será preciso encontrar soluções para dividir as riquezas. Não podemos deixar povos inteiros na pobreza, ou o nacionalismo e o populismo continuarão a se reproduzir.
A principal oposição hoje é o mundo da democracia versus o mundo das ditaduras, e a democracia está muito frágil. A França está fragilizada pelo aumento do islamismo radical, uma reivindicação identitária.
Em 1989, Lévi-Strauss afirmou em entrevista à Folha que sentia sua cultura ameaçada pelo islã. Esse sentimento de ameaça permanece na França? Sua crítica não era à religião islâmica, mas à ideia de dominação. Primeiro, é preciso dizer que não se pode atacar muçulmanos, que hoje na Europa ocupam um lugar muito parecido com o que os judeus ocuparam outrora. O que é preciso criticar é o fanatismo religioso, uma deriva identitária.
Na Europa, o islã é uma religião que integramos à nossa sociedade, diferente do Brasil, em que isso não é uma questão. Contudo, no Brasil vocês têm outro perigo, outra forma de fanatismo religioso: o evangélico. Para escapar ao fanatismo, é preciso integrar a religião e os religiosos à laicidade do Estado.
O modelo brasileiro de Estado laico é muito diferente da laicidade francesa. Com certeza, a França tem um modelo único. Mesmo os EUA e a Inglaterra, do ponto de vista francês, não são países laicos. O presidente dos EUA faz seu juramento com a mão sobre a Bíblia. Na Inglaterra, há uma monarquia. Nada parecido com a França, onde cortamos a cabeça do rei e fundamos uma laicidade muito particular.
O modelo de Estado laico francês não é exportável a outros países. Ele deve ser defendido, é parte de nossa tradição. Nesse sentido, sou próxima de Lévi-Strauss. Ele acreditava que não se devia perturbar a estrutura.
Qual é a diferença entre o identitarismo em países colonizados e em países colonizadores? Essa pergunta está no
coração do debate que proponho no livro. Há um movimento que começa a se desenhar, uma guerra da memória. Nos países outrora colonizados, os povos oprimidos reivindicam agora sua própria memória, uma memória da perseguição.
Contudo, não se pode destruir estátuas, censurar a história de um país. A história é complexa. Países colonizados tiveram colaboracionistas, e países colonizadores tiveram anticolonialistas. O que deve ser feito é olhar o passado por todos os lados. É preciso fazer a memória compartilhada, algo que tentamos fazer na França em relação à Argélia. A memória compartilhada é a única solução, ainda que muito complexa.
No Brasil, discute-se o conceito de racismo estrutural. O que a sra. acha desse conceito? Nós o chamamos de racismo sistêmico. Na França, não há racismo sistêmico no nível do Estado. É a lei. Eu não concordo com o posicionamento decolonial que afirma que o racismo seja estrutural ao Estado, pois essa afirmação não é precisa. Não se pode confundir a sociedade civil e o Estado.
Dados apontam que, em 2020, mais de 6.400 brasileiros foram mortos em intervenções policiais. Desses, 79% eram negros. Não faz sentido, então, falar de um racismo estrutural ou sistêmico? Isso é muito distante da realidade francesa, onde se recorre à lei e ela funciona. Se um policial mata alguém, ele é punido pela lei. Nos EUA, idem. O policial que matou George Floyd foi condenado. Nesses casos, eu não acredito que o Estado produza o racismo. Neles, o racismo existe e ele está, também, na polícia.
Mas, no Brasil, está no poder um racista assumido. O Estado de Direito brasileiro é muito frágil. Mais que de democracia, essa é uma questão de Estado de Direito, um Estado neutro que condena a discriminação.
Como superar esse tipo de violência? Pelos livros e pela militância. O combate tem que ser feito pelas ideias, ao menos na Europa.
No Brasil, creio ser uma questão de Estado de Direito. Estive no Brasil quando Dilma Rousseff foi deposta, algo a que me opus fortemente. Para mim, estava claro que isso iria beneficiar a extrema direita. Não há solução fácil ou imediata para o Brasil, mas Bolsonaro não pode continuar.
Por que a extrema direita é tão atraída por movimentos conspiracionistas, como o QAnon? A extrema direita é essencialmente conspiracionista, imagina sempre um complô. Na França, mesmo antes da Revolução de 1789, já existiam conspirações de um complô judeu. O conspiracionismo caracteriza as ditaduras. Vladimir Putin, por exemplo, é um conspiracionista. Ele foi do comunismo para a extrema direita, e o complô é o mesmo: um mal que vem do estrangeiro.
Hoje em dia, o conspiracionismo é ativado maciçamente pelas redes sociais, que são um lixo, sempre terreno fértil para conspirações. Vimos isso com os movimentos antivacina.
Todo conspiracionismo ignora a realidade. Seja o pior dos conspiracionismos, como o antijudeu, que culminou no Holocausto, seja o movimento antivacina, todos se baseiam no medo e no terror de um estrangeiro, de um outro.
E o medo de uma ameaça comunista? Também é um conspiracionismo. A extrema direita teme um comunismo que não existe mais. O que é fascinante é que não é necessária a presença da realidade, nem do objeto do ódio, para que o conspiracionismo floresça. Há, por exemplo, conspirações antissemitas em países onde não há judeus.
É esta a grande característica da extrema direita: ela acredita em conspirações baseadas em coisas que não existem.
Tem-se medo a vida toda do comunismo, que não existe mais. Temem a “grande substituição” por uma outra raça, quando não existem raças. Na França, hoje, temem que haja menos igrejas que mesquitas, mas a explicação é simples: o país se descristianizou. Não há substituição.
O que me causa mais receio é que a extrema direita não é acessível pela razão, pois se baseia no medo e, contra isso, não há pedagogia possível. O conspiracionismo, a meu ver, é uma doença mental.
No Brasil, há um problema sério de violência contra a população trans, com assassinatos brutais. Como combater essa violência sem cair em derivas identitárias? Em primeiro lugar, é preciso combater, evidentemente, como se combate a violência contra a mulher e homossexuais.
No livro, chamo atenção para outro debate, sobre a definição da transgeneridade e da lei. Pela lei francesa, uma pessoa com menos de 15 anos não pode consentir uma relação sexual. Sou favorável a essa lei.
No caso de pessoas trans, sou contra os tratamentos hormonais e cirurgias de redesignação em pessoas com menos de 15 anos pelo mesmo motivo: elas não podem dar o consentimento, mesmo que queiram o tratamento. Depois dos 18 anos, cada um tem o direito de fazer o que quer.
Além disso, eu me questiono sobre outro fenômeno, relacionado ao sexo e ao gênero. É preciso tratar do assunto com humanidade, mas não é possível apagar o sexo em nome do gênero. O que é preciso combater são os excessos.
É perfeitamente normal que alguém tome hormônios e adote um gênero diferente do nascimento, mas erra alguém que diz suprimir a biologia. As duas coisas podem conviver. Não se pode negar o gênero em detrimento do sexo, nem negar o sexo em detrimento do gênero.