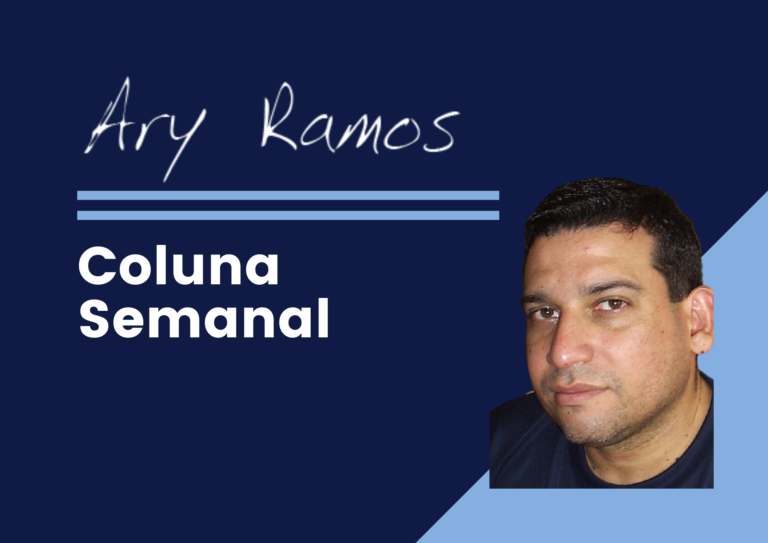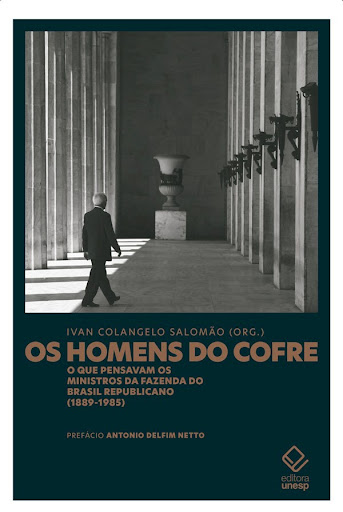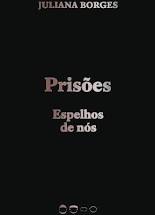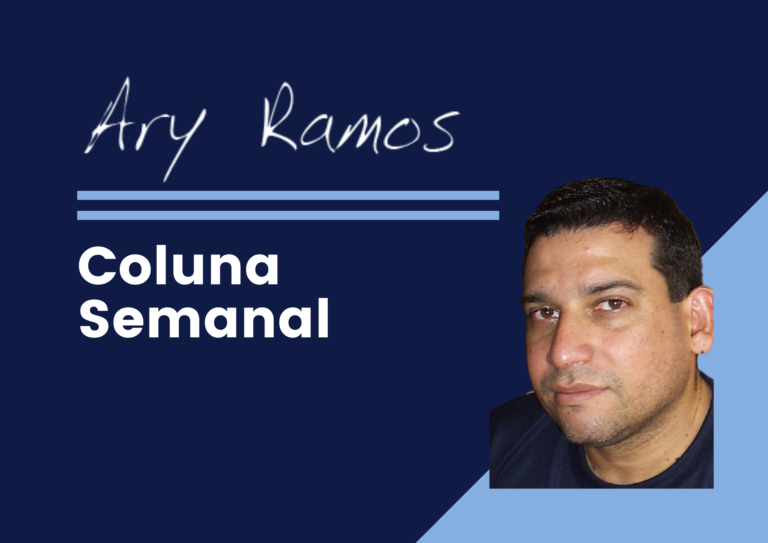Para ex-presidente do BC, Selic deveria ter sido revista antes para conter a inflação e crescimento fraco em 2022 é inevitável
Douglas Gavras – Folha de São Paulo, 20/08/2021 – SÃO PAULO
Para o ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore, o BC errou ao demorar a subir a Selic, o que vai custar uma desaceleração do crescimento no ano que vem, que já é notada nas revisões pessimistas para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2022.
Na avaliação do economista, os ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao sistema democrático e ministros do Supremo Tribunal Federal só servem para piorar um cenário que já é complicado, afastando investimentos e mergulhando o país em mais insegurança –e o presidente precisa começar a governar.
Ele ressalta que a alta de juros demora de três a seis meses para começar a fazer efeito na atividade econômica, ou seja, o impacto dos aumentos da Selic só vai se dar no ano que vem. “O próximo ano será de crescimento abaixo de 2%, e as pessoas já estão percebendo isso.”
As revisões mais pessimistas dos indicadores, em um momento de avanço da vacinação, mostram que os problemas do país iam além do que a pandemia causou? Isso tem a ver com a política monetária e com o fato de o Banco Central ter ficado atrás da curva. Ele colocou estímulos demais na pandemia. Quando a crise sanitária começou, o Brasil entrou em recessão e era preciso tomar duas medidas. [A primeira era] combater a pandemia para normalizar a mobilidade social. E a segunda coisa era dar duas ordens de estímulos: uma, por meio de crédito, para evitar que as empresas quebrassem e evitar um desemprego maior; e outro estímulo para dar renda para as classes mais baixas. Tudo isso foi feito em 2020. Além disso, o BC reduziu a taxa de juros, como deveria mesmo ter feito e todos os bancos centrais do mundo fizeram.
Além disso, estamos passando por choques de inflação desde que a economia começou a reagir, certo? Conforme a economia foi se recuperando, começamos a ter choques inflacionários. O primeiro deles veio do câmbio, que gerou aumento de alimentos, junto com uma alta do preço das commodities. Quando se tem um choque, não dá para ir contra ele, mas acomodar a política monetária a uma nova realidade. É preciso calibrar a taxa de juros para cima, para evitar que isso se propague para outros bens. Então, veio um segundo choque, que atingiu os preços administrados. O preço do petróleo subiu, o do gás também. O BC acomoda esse choque e calibra os juros.
Depois, veio um terceiro choque, nas cadeias de suprimento. Não adianta dar estímulo monetário para as pessoas comprarem mais automóveis, se você não consegue aumentar a produção por não ter a parte eletrônica, que não pode ser produzida pela falta de oferta de semicondutores. Com o estímulo, as pessoas querem comprar automóveis e não há veículos para entregar, isso tem o efeito de aumento de preços.
Estamos sofrendo os efeitos da desorganização das cadeias de produção? Os dados de confiança da indústria que a FGV [Fundação Getulio Vargas] capta mostram que a produção está sendo limitada por falta de matéria-prima. A pandemia produziu o rompimento de cadeias de suprimentos no mundo inteiro. O BC só resolveu subir os juros agora, depois que a inflação já deu 9% ao ano. Ele desancorou as expectativas, aumenta a inércia inflacionária e ele é obrigado a subir o juro real de mercado acima do juro neutro. Em vez de crescer, acaba reduzindo o PIB [Produto Interno Bruto]. Quando chegamos neste estágio, somos obrigado a reduzir o crescimento econômico. Tudo isso tem a ver com um erro de política monetária e com um erro de política fiscal. Já está determinado, não tem o que fazer, agora é aguentar as consequências.
Isso é um reflexo da política do Banco Central? Quem está tomando a atitude de reduzir o crescimento é o Brasil e ele está fazendo isso por ter ficado sem alternativa. Ele se preocupou demais com a atividade econômica durante a pandemia, não com a meta de inflação. E agora ele vai ter de produzir uma desaceleração de crescimento do PIB.
Acontece que a defasagem de política monetária é longa e ainda não chegamos acima dos juros neutros [estimados hoje em 6,5% ao ano], deve atingir isso no fim desse ciclo de alta dos juros. Isso demora de três a seis meses para começar a fazer efeito na atividade econômica, ou seja, esse efeito só vai se dar no ano que vem. O ano que vem será de crescimento abaixo de 2%, e as pessoas já estão percebendo isso e revendo o crescimento.
Esse clima ruim já é um reflexo do aumento de gastos com a aproximação da eleição do ano que vem? O câmbio no Brasil depreciou mais do que em outros países e mesmo quando aumentou, a valorização foi menor do que em países.
Isso é um prêmio de risco que vem do risco fiscal. Há uns quatro meses, quando a inflação começou a subir, ela fez aumentar o PIB nominal. Quando sobem os preços, aumenta a arrecadação e reduziu o deficit primário. O lado fiscal melhorou, por ter inflação. Vamos chegar no fim do ano com a dívida/PIB entre 81% e 83% do PIB, um patamar muito menor do que se imaginava no começo do ano.
A inflação causou uma falsa sensação de que a questão fiscal estava encaminhada? Em um certo momento, as pessoas olharam e acharam que o risco fiscal tinha caído. Agora, elas percebem que isso derivou da inflação. É como uma maré que subiu, com a inflação, e agora baixou —e agora a gente consegue ver quem estava nadando sem calção. No ano que vem, tem uma eleição e o governo não tem espaço no teto. Existe uma probabilidade de que o governo aumente gastos para ganhar a eleição, já que a economia vai estar crescendo pouco e temos um desemprego ainda alto e que não vai cair tão cedo.
As pessoas que julgavam que a valorização do câmbio poderia ajudar a inflação a cair agora estão vendo que tem um risco razoável de mais gastos públicos no ano que vem, o que reforça a ideia de que o BC vai ter de manter os juros reais altos e que o crescimento do ano que vem será menor.
A folga no teto de gastos, com a inflação mais alta, para a área social também é menor do que se imaginava? A folga se dá da seguinte forma: o teto deste ano é corrigido pela inflação de junho, para gerar o teto do ano que vem. A inflação foi de 8,3%. Todo mundo ficou contente, com uma folga estimada em R$ 120 bilhões. Mas acontece que os gastos sociais também são corrigidos pela inflação, mas não pelo índice de junho e nem pelo IPCA [Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial]. Os gastos sociais são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, de dezembro, e todas as projeções são de que ele deve ficar em torno de 7,5%.
Quando se corrigir os gastos sociais, aquela projeção de R$ 120 bilhões de folga virarão R$ 30 bilhões. O governo agora tenta aprovar uma PEC dos precatórios, que joga um pedaço de gastos para reabrir uma folga no teto, que não é grande, mas tem de acomodar os gastos com o novo Bolsa Família que o governo nem divulgou quanto vai custar. A confiança no governo caiu e o risco vai aparecendo –a taxa de juros longos já está refletindo isso.
A crise política provocada pelos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral e a investida contra ministros do Supremo pode atrapalhar ainda mais o crescimento da economia? Ele está provocando uma crise institucional, que obviamente aumenta os riscos e ficamos com um ambiente de negócios que não estimula investimentos e piora o quadro atual, que já é difícil.
E tem alguma coisa que o governo poderia fazer para melhorar o crescimento no ano que vem? Sim, começar a governar. Se eles começarem a governar, as coisas melhoram. Mas se continuarem criando esses confrontos desnecessários, contra as instituições, a começar pelo presidente da República, que é o maior iludido com regimes autoritários, não tem como dar certo.
RAIO-X
AFFONSO CELSO PASTORE, 82
Formado economia pela Universidade de São Paulo, foi assessor do secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e presidente do Banco Central. Hoje é consultor na Pastore & Associados.