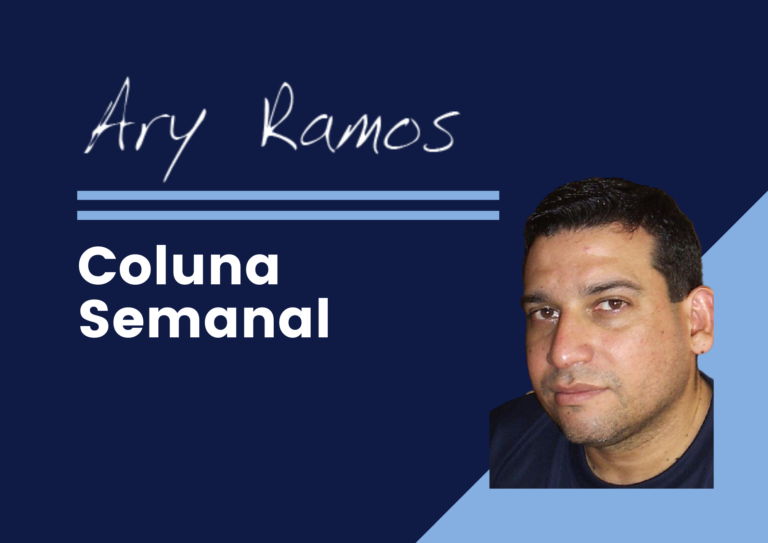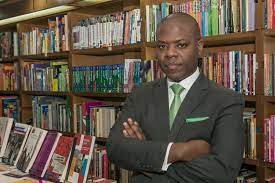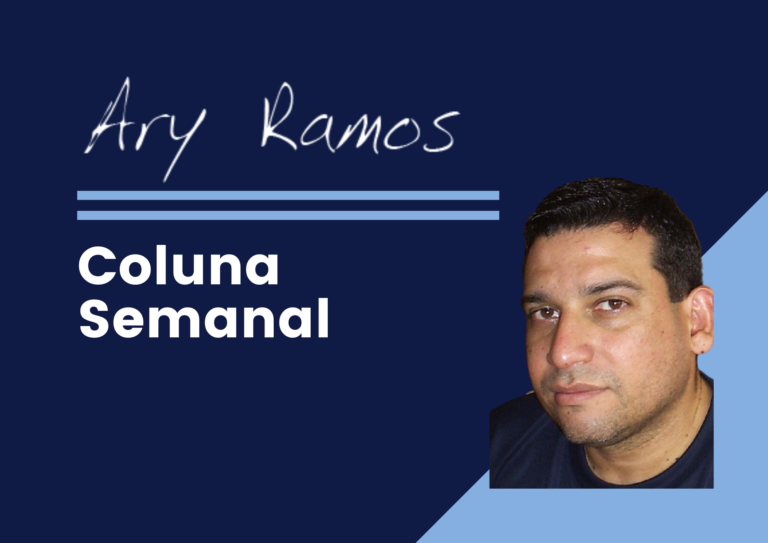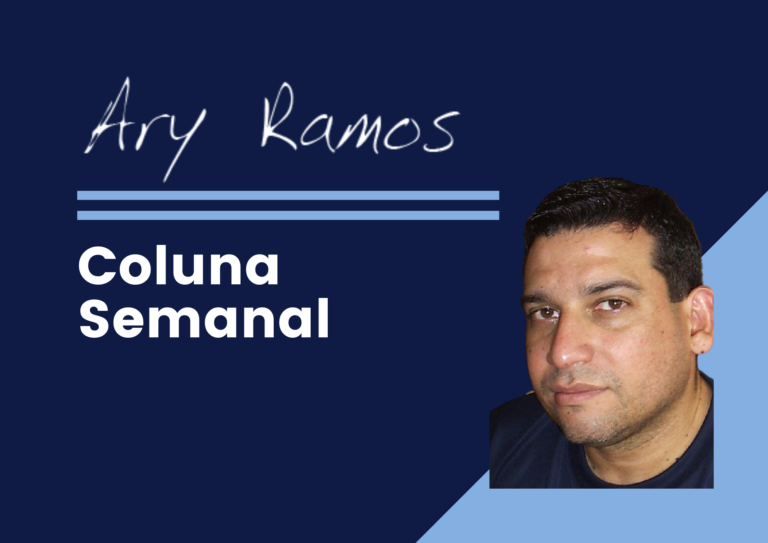O mercado globalizado gerou grandes transformações nas nações, com impactos sobre todos os grupos sociais, incrementando a tecnologia, sofisticando as estruturas produtivas, estimulando o aumento da qualificação dos trabalhadores e intensificou a competição entre todos os agentes econômicos e sociais. A tecnologia ganhou espaço na sociedade, alterando o comportamento dos indivíduos, alterando o consumo, moldando as relações sociais, aproximando os contatos sociais digitais e, ao mesmo tempo, afastando os contatos físicos.
Nesta nova sociedade, percebemos novos modelos produtivos que, anteriormente, estavam centrados no fordismo, marcados por grandes unidades de produção, alto contingente de trabalhadores, salários elevados e produção em série. Este modelo perdeu força nos anos 1970, sendo substituído por um modelo mais flexível, marcado pela desagregação produtiva, alta tecnologia e redução do contingente de trabalhadores, incrementando setores de comunicação e de informática.
Os países mais dinâmicos e flexíveis foram aqueles que se saíram melhores nesta transição de modelo da estrutura global, enquanto aquelas nações que foram mais inflexíveis e menos dinâmicos, perderam espaços na economia internacional, diminuíram suas participações nos mercados globais e foram superados por outras nações, perderam riquezas e se tornaram mais pobres, incremento da pobreza e das desigualdades.
Os grandes ganhadores da economia internacional no período 1990/2020 foram aquelas economias que conseguiram construir projetos de desenvolvimento, centrados numa ideia de nação, adotaram um planejamento estratégico, investindo em educação de qualidade, protegendo suas estruturas produtivas, estimularam a competitividade nos mercados internacionais, adotaram políticas industriais efetivas e dinâmicas, garantindo a compra de produtos nacionais e exigindo dos produtores locais o incremento da qualidade dos produtos nacionais, garantindo financiamentos subsidiados e garantindo aumento da qualidade das mercadorias locais. Embora muitos críticos defenestrem as políticas industriais e as políticas de proteção, vistas como uma intervenção excessiva na estrutura produtiva, todas as nações que conseguiram dar um salto no desenvolvimento econômico adotaram políticas intervencionistas, centradas em planejamento, subsídios e concorrência.
Investimento em educação de qualidade é fundamental para o desenvolvimento econômico e para a melhoria da qualidade de vida da população, além de políticas de incentivos científicos e tecnológicos são cruciais para garantirem autonomia no mercado internacional. Mas precisamos entender que é fundamental atrelarmos investimentos em capital humano com políticas de desenvolvimento industrial, garantindo compras governamentais, incentivos maciços para inovação e estímulos para competição no mercado internacional, melhorando a estrutura produtiva e garantindo novos mercados no ambiente global. A proteção deve ser acompanhada de incremento na produtividade e ganho de mercados externos e maior lucratividade.
Os países que investiram excessivamente nos setores financeiros perderam espaços na economia global, nações que deixaram de lado os setores industriais colheram desindustrialização, piora dos meios de trocas, redução dos salários, degradação das estruturas produtivas, incrementando do desemprego e da desigualdade. Os pacotes econômicos do novo governo norte-americano devem servir de norte para a economia nacional.
Não se constrói uma nação pensando no curto prazo, não se constrói uma nação pensando nos interesses imediatos de corporações e de grupos organizados, não se constrói uma nação criando desemprego, desesperança e exclusão, não se constrói uma nação sem solidariedade. Todos os países que conseguiram vencer o desafio do desenvolvimento conseguiram vencer os conflitos internos, as contradições mais imediatas, vencendo todos os males que pululam nas almas daqueles que acreditam que o indivíduo é mais importante do que o coletivo. Na pandemia, neste momento de dificuldades, de incertezas e desesperanças, estamos percebendo que não se faz uma nação deixando um rastro de degradação, de desigualdade e de exclusão social.
Ary Ramos da Silva Júnior, Economista, Mestre, Doutor em Sociologia e professor universitário. Artigo publicado no Jornal da Região, Caderno Economia, 07/04/2021.