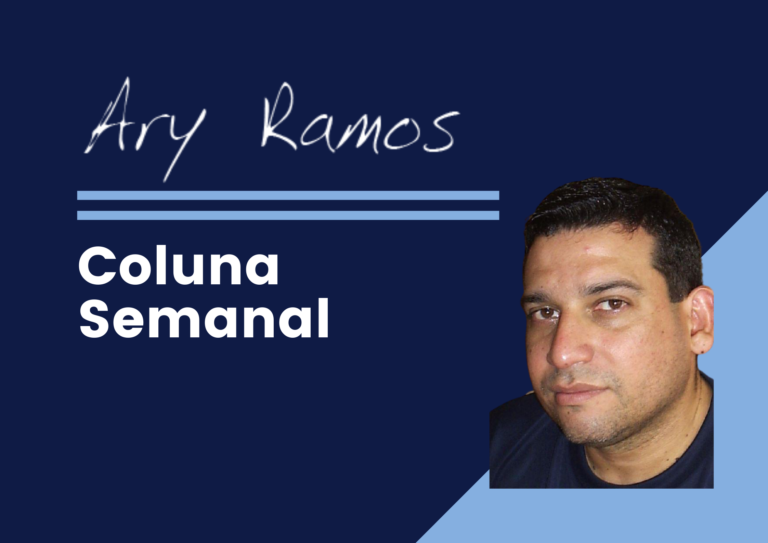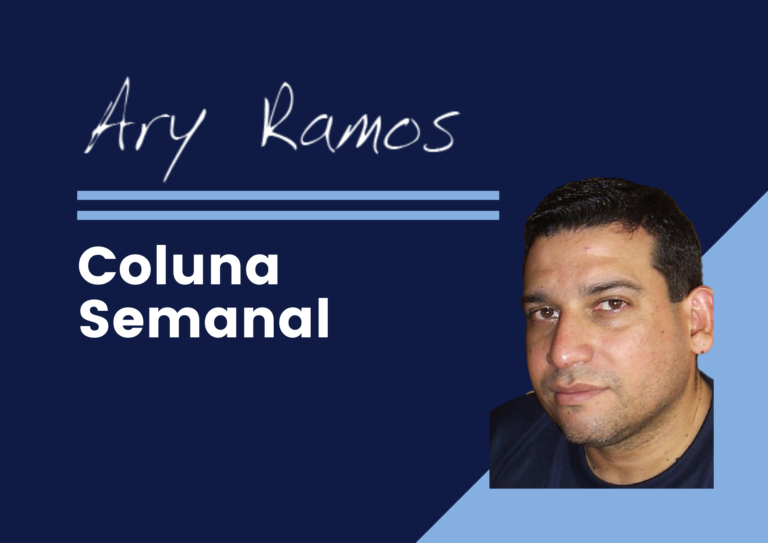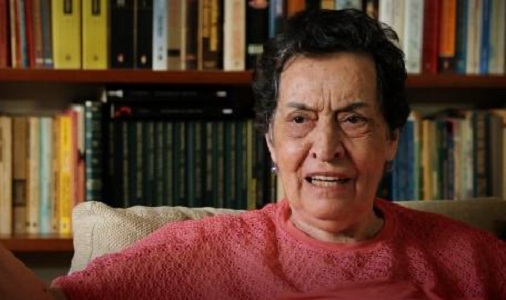O economista estadunidense de origem sérvia Branko Milanovic (Belgrado, 1953) é considerado um dos intelectuais mais influentes do momento. Passou 20 anos liderando a análise econômica do Banco Mundial e atualmente é professor na Universidade da Cidade de Nova York como um dos grandes especialistas internacionais em desigualdade.
Após ter apresentado seu último livro, Capitalism, Alone (Ed. Harvard University Press, 2019), o mensal britânico The Prospect o considerou, em 2020, “um guia indispensável” para o mundo em que a Covid-19 eclipsa os Estados Unidos. The Prospect colocou Milanović em sua última lista dos 50 pensadores “mais destacados”.
Milanović, em posição contrária ao que alguns afirmam, não vê o capitalismo sofrer sua última crise por causa da pandemia. Também não vê boas notícias no que diz respeito às relações entre os Estados Unidos e a China, após a eleição do democrata Joe Biden como novo inquilino da Casa Branca.
Nesta entrevista, Milanović avalia que, “com a gestão Biden, as diferenças entre a China e os Estados Unidos vão se deslocar para outro cenário, o dos valores e o poder”. Seu pessimismo não para por aí.
Milanović acredita que haverá anos turbulentos após a pandemia e aponta para os social-democratas e liberais. Faz críticas à sua atuação diante da crise de confiança gerada pela globalização nessa parte da classe média ocidental que agora tem fé nos populistas.
A entrevista é de Salvador Martínez Mas, publicada por NIUS, 17-01-2021. A tradução é do Cepat.
Eis a entrevista.
Foi dito que a pandemia está acelerando muitos processos, seja a digitalização, a automação ou o auge da China como potência internacional. O que está acontecendo no mundo por causa da Covid-19?
Efetivamente, processos estão sendo acelerados. E há processos que vão piorar. As relações entre a China e os Estados Unidos vão continuar se deteriorando, apesar da nova administração em Washington. Em relação a isto, sou pessimista com a gestão Biden.
Com Trump na Casa Branca, já se falava de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Como as coisas podem piorar nesta frente?
Facilmente. Com Trump havia uma disputa econômica que levou à guerra comercial. Depois houve uma batalha irracional pelo surgimento de um vírus que Trump via quase como feito pelos chineses contra ele. Mas quando há um desacordo comercial, aquele que tinha Trump, isto é algo que é possível resolver, ao menos potencialmente. Mas com a gestão Biden, as diferenças entre a China e os Estados Unidos vão se deslocar para outro cenário, o dos valores e o poder. Trump nunca se interessou pelos assuntos de direitos humanos e democracia na China.
Biden agirá e isto significa desacordos com temas básicos. Isto quer dizer, ao final, que o governo dos Estados Unidos verá como ilegítimo ao da China, ainda que não diga isso oficialmente. Este é um assunto que não é possível resolver. Nisto não há compromisso possível. Os Estados Unidos são um país muito poderoso e criarão uma coalizão de países, com Japão, Índia, Austrália e pressionarão a União Europeia para que a situação da China piore mais do que com Trump.
Mas há países na Europa que estão fortemente vinculados à economia chinesa, como por exemplo a Alemanha de Angela Merkel. Como você vê a posição de países europeus assim?
É verdade que a Alemanha está em uma situação complicada. Não só por sua relação com a China, mas também pelo Nord Stream 2. Nos dois casos, a Alemanha tem interesses econômicos. Mas a pressão dos Estados Unidos e outros países será algo muito duro para resistir.
A crise econômica causada pela pandemia levou os estados ao resgate de suas economias, entrando por exemplo no capital de grandes empresas. A pandemia desloca o capitalismo liberal, próprio do mundo ocidental, para um capitalismo de estado como o chinês?
Não acredito nisso. O imenso apoio financeiro que se efetivou para salvar as economias é algo sem precedentes. O gasto público com o qual os estados estão assumindo o controle de empresas para salvá-las é algo temporário. São medidas como as que ocorrem nas guerras, exceto que a de agora – esperemos – será mais curta. No entanto, espero que o estado ganhe força na área da saúde.
Porque nesta crise vimos a fragilidade do estado e o que as políticas de austeridade aplicadas ao setor da saúde fizeram, assim como as políticas neoliberais de otimização do setor da saúde. Com estas políticas, diante de um drama como o atual, o sistema é incapaz de reagir. Houve falta de material médico, de leitos nas unidades de cuidados intensivos, inclusive de médicos. Nesse exato momento, na Califórnia, estão selecionando os pacientes para oferecer ou não tratamento no hospital.
Como especialista em desigualdade econômica, como avalia que a pandemia afeta este problema?
É difícil falar. Ainda estamos na pandemia. De fato, provavelmente estejamos agora no pico da pandemia. O que vimos é que há muitas pessoas dos setores essenciais que tiveram que trabalhar mais ou perderam o trabalho. Outras pessoas, que podem trabalhar a distância, não se viram muito afetadas pela pandemia, nem sequer em termos de renda.
Outros, na classe média baixa, se viram muito afetados porque se infectaram e sofreram o vírus. Depois, você tem as pessoas de muito de cima, bilionários como Jeff Bezos ou Elon Musk que estavam em uma boa posição na pandemia e que lucraram com a crise. Parece que houve um aumento da desigualdade entre países, mas também houve muita política expansionista da qual os segmentos da população com menos renda se beneficiaram.
Entre os social-democratas na Europa, a tendência é pensar que é preciso aumentar os impostos para pagar os efeitos da pandemia. Qual é a sua opinião?
É preciso levar em conta que nunca vimos um aumento de liquidez na economia como o atual, após o aumento que vimos na crise de dez anos atrás. Agora, nos Estados Unidos, há quem esboce usar a Teoria Monetária Moderna, segundo a qual os déficits não importam, porque estes podem ser financiados fornecendo mais dinheiro. Eu penso que, quando for o caso, seria necessário reduzir o nível da dívida e aumentar os impostos. Mas esse aumento da tributação não tem nada a ver com o aumento dos impostos que parte da esquerda já defende há tempo para reduzir a desigualdade
.
Como ficam a democracia liberal e o capitalismo liberal, após o assalto ao Capitólio dias atrás?
Penso que não há dúvida de que a vitória de Trump, em 2016, e que em 2020 tenha obtido 70 milhões de votos – com 40% dos estadunidenses sem votar – são demonstrações do mal-estar que há nessa parte da classe média dos Estados Unidos que não se beneficiou da globalização. Isto é algo que sabemos empiricamente, é algo que não se pode discutir. Esta situação, transferida ao espaço político, adota a forma de uma narrativa razoável segundo o qual grande parte da sociedade dos Estados Unidos, e também do resto do mundo ocidental, foi atacada.
Por um lado, porque o capital abandonou seu país deixando-lhes sem trabalho e, por outro, porque os produtos que fabricavam agora podem ser importados mais baratos de outros países, especialmente da China. As turbulências causadas pelos coletes amarelos, na França, o auge do Vox, na Espanha, a instabilidade da Itália, o peso de Alternativa para a Alemanha, na Alemanha, e o Brexit são todos fenômenos que precisam ser vinculados a esses processos econômicos.
Como você vê a resposta que está sendo dada a isto pelos governos europeus? Refiro-me, por exemplo, a Macron, na França, ou Merkel, na Alemanha.
Não gosto de chamar estes movimentos de populistas. Mas estes que chamam de populistas têm uma desvantagem em relação a políticos como Macron por exemplo. É que o Reagrupamento Nacional não tem uma proposta para a França. Macron, sim, possui. Se partidos como o de Le Pen chegarem ao poder, não saberão o que fazer com ele. Estes movimentos podem fazer muito barulho, mas não têm uma alternativa política, e sabem disso.
Se Le Pen chegar ao poder na França, acontecerá o mesmo que com Trump. Não saberá o que fazer. Mas eu não acredito que chegarão ao poder. Entre outras coisas porque não acredito que queiram chegar ao poder. Sabe-se, por exemplo, que Trump não queria chegar ao poder. Ele chegou ao poder por uma vitória acidental.
Figuras como Trump são, então, resultado de que há partes da sociedade frustradas com uma globalização que lhes supõe prejuízos. Como é possível tratar esse mal-estar?
Parece que os partidos de esquerda na Europa estão seguindo o exemplo dinamarquês. Lá o caminho é algo como o nacional e o social ao mesmo tempo. Consiste em limitar a imigração e manter o estado de bem-estar para os cidadãos autóctones. Está sendo retirado dessa esquerda o componente tradicional internacionalista.
Na Dinamarca, desse modo, deseja-se fortalecer a classe média e tornar, além disso, mais difícil que o capital saia do país. É uma resposta, em suma, parecida às políticas dos anos 1960 e 1970, quando havia muito menos movimentos de capitais e de trabalhadores. Esta solução dinamarquesa, além de afetar um ou dois países, não pode ser aplicada ao mundo todo, com a distância que a globalização alcançou.
Não é possível ir contra a globalização?
Eu não concordo em se mover contra a globalização, porque esta, de um ponto de vista global, trouxe grandes vantagens aos países na Ásia. A China está a caminho de acabar com a pobreza extrema a Índia cresceu, antes da crise, a níveis de 6%, 7% e de 8% e a Etiópia, 10%. A globalização tornou o mundo um lugar transformado, mais rico. Ir contra a globalização é ser a favor apenas de um grupo muito pequeno do mundo. A classe média europeia é, no mundo, 4 ou 5% da população.
Que resposta política é possível dar, então, no mundo ocidental?
A esquerda deveria pensar muito mais em como é possível realizar as redistribuições da riqueza para que beneficiem aqueles que foram afetados pela globalização.
E os liberais e conservadores, no que teriam que pensar?
Eles estiveram no poder nos últimos 40 anos. Os liberais cometeram um grande erro ignorando assuntos como a redistribuição da riqueza. As políticas liberais, mesmo quando funcionaram, não fizeram o suficiente para eliminar o mal-estar de grande parte da população. Mas, em minha opinião, ao menos nos Estados Unidos, os liberais se fecharam em si mesmos, dispostos a que tudo vá para o espaço, desde que Trump diminua o imposto de empresas. Comportam-se de maneira surpreendentemente imediatista.
E após a pandemia, o que você espera?
Após a pandemia espero que haja alterações políticas. Porque, de modo geral, quando a pandemia está em andamento, as pessoas procuram seguir as regras. Mas quando terminar, muitas das coisas que acontecem pela perda de trabalho, como a perda do poder de compra, enquanto outros se tornaram extremamente ricos, ou que muitos governos sejam corruptos ou que tenham gerido mal a pandemia, tudo isto terá consequências políticas. Haverá anos politicamente turbulentos.