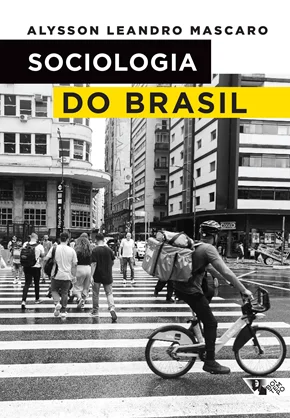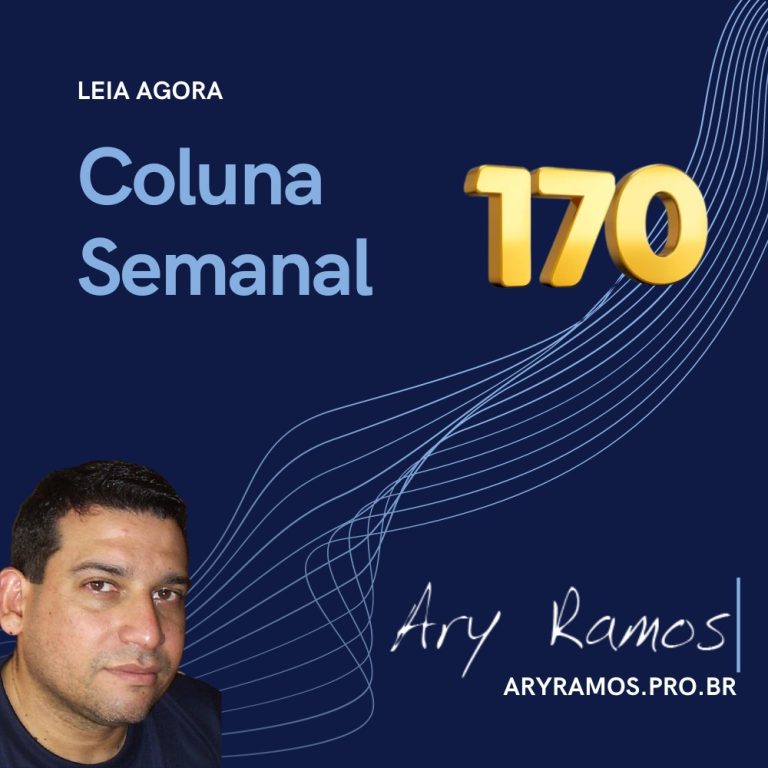Fernando Nogueira da Costa – A Terra é Redonda – 06/05/2024
No ranking das maiores empresas de tecnologia no Brasil quase todas têm origem estrangeira
A posição total de Investimento Direto no País (IDP) foi de US$ 901,4 bilhões, em 2021, composta por US$ 659,3 bilhões em participação no capital e US$ 242,1 bilhões em operações intercompanhia. Segundo o Relatório de Investimento Direto 2022 do Banco Central do Brasil, em 2021, as empresas residentes atuantes em serviços financeiros, incluindo fundos de investimento, responderam por 20,5% (US$135,1 bilhões) da posição de IDP – Participação no capital (US$ 659,3 bilhões), seguidas por companhias pertencentes ao setor de comércio (8,5%) e extração de petróleo e gás natural (7,6%). Esses dados permitem uma abordagem estruturalista da economia brasileira contemporânea, integrada à economia globalizada, embora distante das cadeias globais de valor do norte rico.
Em direção contrária, pouco menos de um terço (32,4%) do valor investido no exterior por residentes (posição de IDE de US$ 431,9 bilhões) está aplicado em empresas atuantes como veículos para aquisição de ativos financeiros. Em seguida, estão serviços financeiros e atividades auxiliares. Está o Brasil integrado à “financeirização” mundial e/ou demonstra uma fuga de capitais?
Em 2021, permaneceram disseminados os ingressos brutos em IDP – Participação no capital, excluídos lucros reinvestidos, destacando-se os setores de veículos automotores, reboques e carrocerias (9,7% do fluxo bruto), produtos alimentícios (9,5%), comércio exceto veículos (9,4%), agricultura, pecuária e extrativa mineral (9%). Na realidade brasileira, há bastante diversificação, destacando-se ainda serviços de tecnologia da informação (6,85) e serviços financeiros (6,3%).
Quanto às transações brutas de IDP – operações intercompanhia, destacaram-se as empresas com atuação no setor de fabricação de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis, e de extração de petróleo e gás natural, tanto nos ingressos quanto nas amortizações. Dedução: o Brasil virou exportador de petróleo!
Isto porque as operações de Pagamento Antecipado de Exportação (PAE), nas quais a empresa residente no Brasil primeiro recebe o pagamento e posteriormente exporta a mercadoria, respondem por parcela significativa das transações IDP – Operações intercompanhia. Em 2021, dos US$ 77,1 bilhões amortizados, US$ 29,2 bilhões (38%) das operações de crédito intercompanhia foram pagos em mercadoria, e não em moeda.
Quanto à lucratividade de IDP – Participação no Capital –, esta variou entre os setores da economia em 2021. Entretanto, todos os setores destacados – metalurgia (23,2% do total), serviços financeiros (9,3%), comércio (7,5%), bebidas (5,7%), extração de petróleo e gás natural (4,6%) – auferiram lucros, inclusive o relacionado à produção e comércio de veículos (8,7%), sem resultados positivos nos sete anos anteriores.
Segundo a Carta ANFAVEA, a produção de todos os autoveículos em 2023 atingiu 2,37 milhões, sendo 481 mil (20%) exportados. Foram licenciados 2,1 milhões deles – e 2,3 milhões se somar os importados. Considerando apenas automóveis de passageiros, esses números foram, respectivamente, 1,825 milhão, 386,4 mil, e 1,577 milhão. Foram licenciados cerca de 165 mil automóveis importados.
Praticamente, todas as marcas internacionais disputam o mercado brasileiro: Audi, BMW, Mini, Caoa (Hyundai e Chery), Subaru, FCA (Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep), Ford, General Motors, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Citroën, Renault, Toyota, Lexus, Volkswagen. Essas empresas estrangeiras, atuantes na indústria automobilística do Brasil, contribuem para a economia do país ao gerar cerca de 100 mil empregos e impulsionar a produção e as vendas de veículos no mercado doméstico e de exportação.
No Brasil, ao longo das últimas décadas de abertura externa, houve processos de desnacionalização em diversos setores de atividades econômicas, nos quais empresas estrangeiras adquiriram participação significativa ou controle de empresas anteriormente brasileiras, inclusive por privatizações. Alguns exemplos:
(i) Setor de Telecomunicações: empresas estrangeiras, como Telefónica (Espanha) e Telecom Italia (Itália), adquiriram participações em operadoras de telefonia fixa e móvel no Brasil. (ii) Setor de Energia: empresas estrangeiras, incluindo Shell (Países Baixos/Reino Unido) e BP (Reino Unido), têm participação em diversas etapas da cadeia de valor do setor de energia, incluindo exploração e produção de petróleo e gás. (iii) Setor Bancário: bancos estrangeiros, como Santander (Espanha) e HSBC (Reino Unido), adquiriram bancos brasileiros, mas o segundo desistiu.
(iv) Setor de Alimentos e Bebidas: multinacionais como Nestlé (Suíça), Unilever (Países Baixos/Reino Unido) e Coca-Cola (EUA) têm operações no Brasil com produção e distribuição de alimentos, bebidas e produtos de consumo. (v) Setor de Mineração: a Vale (ex-Vale do Rio Doce) se desnacionalizou, levando junto a indústria de mineração do Brasil, com atividades em minério de ferro, níquel, cobre e outros minerais. (vii) Setor de Aviação: companhias aéreas estrangeiras, como American Airlines (EUA), Delta Air Lines (EUA) e Lufthansa (Alemanha), dominam o mercado de aviação brasileiro de voos internacionais, nos locais há Azul, Gol, Latam.
Esses são apenas alguns exemplos dos setores nos quais houve processos de desnacionalização na economia brasileira, com empresas estrangeiras assumindo papel dominante. Essas aquisições e investimentos estrangeiros trazem benefícios, como acesso a novas tecnologias e mercados, mas também colocam em risco a soberania econômica e a concorrência no mercado local.
É interessante destacar: também entre as maiores exportadoras do agronegócio brasileiro, estão empresas estrangeiras. A Cargill, uma das maiores empresas de agronegócio do mundo, com origem nos Estados Unidos, atua no Brasil, no setor de grãos, como soja e milho, além de outras commodities agrícolas.
A Bunge é outra gigante do agronegócio com origem nos Estados Unidos. No Brasil, atua em produção, processamento e comercialização de grãos, óleos vegetais e produtos agrícolas. A ADM (Archer Daniels Midland) é a empresa americana líder global em processamento de grãos e produtos agrícolas. No Brasil, explora a produção e exportação de soja, milho e outros produtos agrícolas.
A Louis Dreyfus Company é uma das maiores empresas de commodities agrícolas do mundo, com sede na Holanda. No Brasil, atua na comercialização e exportação de grãos, óleos vegetais e açúcar.
Entre as empresas multinacionais atuantes na economia brasileira, destaca-se, por exemplo, a Nestlé, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, aqui com operações em alimentos processados, lácteos, café, chocolates e bebidas. Outra dominante é a Unilever, com presença no Brasil em categorias como alimentos, cuidados pessoais e produtos de limpeza.
Está presente também a Shell, uma das maiores empresas de energia do mundo, com atuação em segmentos como exploração e produção de petróleo e gás, refino e comercialização de produtos petrolíferos. Compete com a Petrobras, a maior empresa de energia do Brasil e uma das maiores do mundo no setor de petróleo e gás, envolvida em todas as etapas da cadeia produtiva, desde a exploração e produção até a distribuição de combustíveis.
A indústria farmacêutica no Brasil não é totalmente desnacionalizada. Mas a presença de empresas multinacionais é dominante no mercado farmacêutico brasileiro, tanto em termos de produção local quanto de importação de medicamentos. Essas empresas trazem tecnologia avançada, expertise em pesquisa e desenvolvimento, e acesso à variedade de produtos farmacêuticos.
Como exportadoras de commodities, além das agrícolas, destacam-se a Petrobras (petróleo e gás) e a Vale (mineração). São multinacionais de origem brasileira, assim como é a Ambev com presença global por meio de várias marcas de bebidas.
Os big five bancos – Itaú, Bradesco, BTG e Banco do Brasil – resistem à desnacionalização. Entre eles, estrangeiro só é o Santander. A Caixa não é uma sociedade aberta, porque 100% de suas ações pertencem ao Tesouro Nacional.
A economia brasileira é muito concentrada em “empresas de valor” e tem poucas empresas de tecnologia locais. Algumas tech companies abriram seu capital, mas elas ainda são relativamente pequenas, com a exceção da WEG, produtora de diversos tipos de produtos industrializados, para clientes de todo o mundo, como motores, tintas e vernizes, entre outros. Fundada em 1961 em Santa Catarina, a WEG é uma das maiores empresas de capital aberto do Brasil, com presença em mais de 135 países.
No ranking das maiores empresas de tecnologia no Brasil quase todas têm origem estrangeira. No mercado de telefonia, há o duopólio da Vivo e da Claro. Na produção de hardware e software empresarial, destacam-se a IBM Brasil, a HP Brasil e a Oracle Brasil. No varejo eletrônico, dominam a Amazon e o Mercado Livre.
*Fernando Nogueira da Costa é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de Brasil dos bancos (EDUSP)