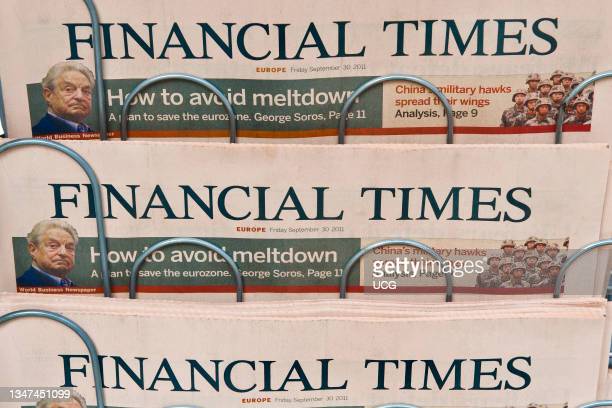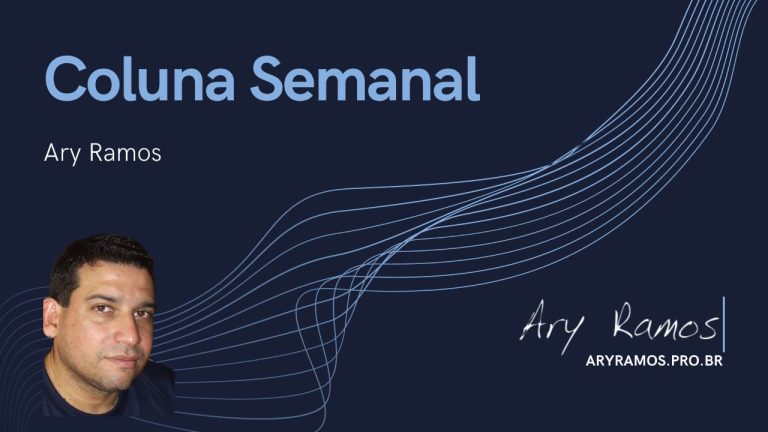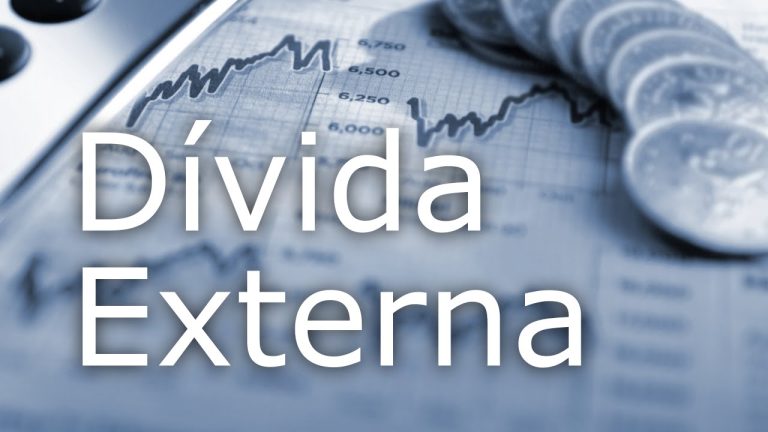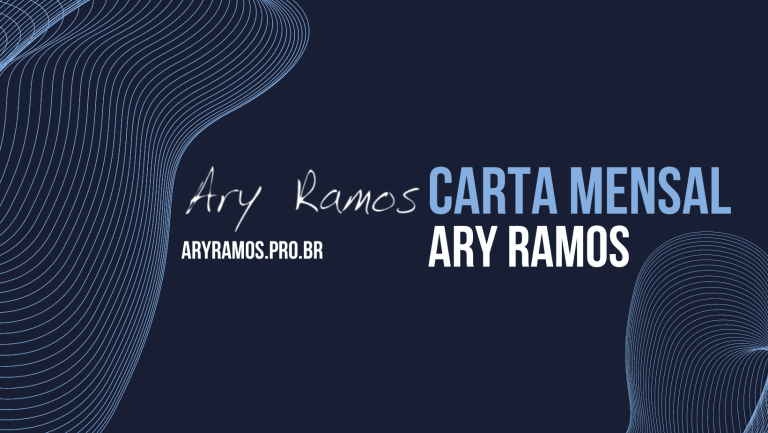No controle da revolução digital, o capital avança à sua fase financista, em que concentra a riqueza em escala jamais vista – sem produzir nada. Para os 99%, trabalho precário e desalento. Governança segue analógica, de mãos atadas e local
Ladislau Dowbor – OUTRAS PALAVRAS – 18/04/2023
O Dicionário de Cambridge define a mais-valia como “a diferença entre o valor que um trabalhador recebe e o valor que o trabalhador acrescenta aos bens ou serviços produzidos”. Não é preciso ser marxista para entender que os altos lucros obtidos com baixos salários levam à exploração e ao crescimento desequilibrado. Essa ainda é uma questão crucial, pois o ciclo econômico exige não apenas produção, mas também poder de compra para que os bens e serviços possam ser vendidos. Na tradicional economia industrial do século 20, um equilíbrio razoável foi alcançado através do New Deal nos EUA e do Welfare State em alguns países, basicamente do Norte Global, com políticas públicas equilibrando interesses por meio de tributação progressiva e provisão de bens e serviços públicos. Esse equilíbrio foi derrubado pela extração de riqueza atualmente dominante por meio do rentismo, ou geração improdutiva de riqueza, acima e muito além da mais-valia tradicional. Chamamos isso de neoliberalismo, mas não há nada de liberal nessa história.
Um desafio importante é considerar até que ponto os novos mecanismos de apropriação de riqueza representam uma mudança sistêmica. A escravidão como sistema era caracterizada pela extração de riqueza por meio do controle brutal e da propriedade dos humanos, fazendo com que os escravos trabalhassem para seus donos. Lembremos que não é algo distante, no Brasil foi formalmente abolida no final do século XIX, e subsistiu como prática ilegal até o século XX, também nos EUA, já na era capitalista moderna. O capitalismo não se importa em usar o controle pré-capitalista da força de trabalho. O feudalismo também representou um sistema, consistindo basicamente em uma era de riqueza baseada na agricultura, controle da terra através de feudos e controle dos trabalhadores através da servidão. O apartheid na África do Sul também foi um sistema, com africanos confinados em territórios delimitados, autorizados a ganhar um salário se tivessem um “passe”, levando a uma curiosa mistura de mineração, indústria e serviços modernos e exclusão territorial. O mundo capitalista não se importou com esse sistema, que aliás ainda funciona na Palestina.
O atual capitalismo financeirizado representa um novo sistema, um “modo de produção” no sentido sistêmico? Marx estudou o mecanismo financeiro e o chamou de “capital fictício”, na medida em que seus ganhos dependiam de um segundo nível de extração, tirando parte dos lucros por meio de juros. Mas era um mero complemento da lógica industrial dominante. Na era atual do que se convencionou chamar de neoliberalismo, François Chesnais atualizou a discussão ao mostrar quão dominante o sistema de intermediação financeira havia se tornado, a ponto de mudar a lógica geral do capitalismo, o que ele chamou de “totalidade sistêmica”, baseada no rentismo e globalização financeira. O que vemos nos últimos anos é uma explosão de estudos sobre o funcionamento desse novo sistema, que, na verdade, pouco tem a ver com a tradicional acumulação de capital e apropriação de mais-valia que ainda ensinamos em nossas universidades. O que estamos enfrentando representa sim uma mudança sistêmica, um outro “modo de produção”, envolvendo a base tecnológica, as relações sociais de produção, a forma de apropriação da riqueza e o quadro institucional.
Robert Reich nos traz à realidade, sobre a origem dos grandes lucros: “Nas décadas de 1950 e 1960, quando a atividade bancária era uma coisa chata, o setor financeiro respondia por apenas 10 a 15% dos lucros corporativos dos Estados Unidos. Mas a desregulamentação tornou as finanças não só empolgantes como extremamente lucrativas. Em meados da década de 1980, o setor financeiro reivindicava 30% dos lucros corporativos e, em 2001 – época em que Wall Street havia se tornado uma gigantesca casa de apostas na qual a casa recebia uma grande parcela das apostas –, reivindicava impressionantes 40%. Isso foi mais de quatro vezes os lucros obtidos em toda a indústria dos EUA.”1. Não são lucros baseados na produção, mas na intermediação financeira e na especulação.
Enquanto Davos afirma que estamos na era da Indústria 4.0, na verdade, estamos na era do rentismo financeiro improdutivo, mas também de outras formas de apropriação improdutiva da riqueza social, inclusive dos bens comuns. Brett Christophers vai direto ao ponto essencial: “Os lucros têm assumido cada vez mais a forma de rentas econômicas – incluindo, entre outras, rentas financeiras – em vez de renda do comércio ou da produção de commodities.” Rentismo e lucro são radicalmente diferentes: “A definição de renta (rent) que uso aqui, então, é efetivamente um híbrido de heterodoxo e ortodoxo: renta derivada da propriedade, posse ou controle de ativos escassos em condições de concorrência limitada ou inexistente”.2 Se a forma dominante de apropriação da riqueza não é mais “comércio e produção de mercadorias”, isso é capitalismo? Com a revolução industrial, o setor agrícola continuou sendo importante para a economia, mas a reestruturação da sociedade como um todo atendeu aos interesses do desenvolvimento industrial e gerou um novo modo de produção. Como está a transformação atual?
A revolução digital é tão profunda em termos de transformação da nossa sociedade quanto foi a revolução industrial há dois séculos. Está transformando a principal forma de apropriação da riqueza por meio da renta de ativos improdutivos, em vez do lucro de atividades produtivas. E as relações trabalhistas estão migrando de sistemas regulares de salários e benefícios sociais seguros para numerosos contratos flexíveis, precariados e empregos informais. Quanto ao quadro institucional, estamos migrando de uma regulamentação de base nacional para uma tomada de poder corporativa global. O controle social, por sua vez, passa do trabalho organizado, com sindicatos e negociações, para um processo global de vigilância e manipulação por meio de algoritmos e de informações e marketing orientados pelo comportamento.
O mais alto poder emergente já não está nas mãos de empresas como a Ford ou a Toyota, mas de plataformas de comunicação e intermediação como Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft (GAFAM), ou plataformas de gestão de ativos financeiros como BlackRock, State Street, Vanguard ou Crédit Suisse/UBS, para citar apenas algumas. O papel do Estado não é mais garantir o equilíbrio geral, mas sim cavar um lugar melhor para o país, no jogo de interesses globais que ele não controla. Chamamos isso de “amigável ao mercado” (market-friendly), embora tenha pouco a ver com a tradicional competição de livre mercado. E temos plataformas globais, incluindo o mundo financeiro, mas nenhuma governança global.
Colocamos essa questão há dois anos, em um artigo chamado It is not a tiger anymore: capitalism woes [Não é mais um tigre: os problemas do capitalismo]. Em vez de apontar para as listras que mudam no tigre, devemos dar um passo atrás e considerar se ainda se trata de um tigre. Como na lógica tradicional, uma certa quantidade de mudanças quantitativas acaba levando a uma transformação qualitativa. Podemos usar o paralelo da Revolução Francesa: em 1789, a indústria, o comércio e os bancos já pressionavam por espaço político, enquanto os aristocratas dançavam em Versalhes. Em expressões atuais, a economia está na era digital, enquanto os fragmentados 193 governos nacionais ainda estão na era analógica. A nova economia não se encaixa no quadro institucional e o resultado é um caos global de alta tecnologia.3
Tantas instituições e pesquisadores preocupados têm gritado o mais alto que podem, apontando para os dramas resultantes. Um exemplo é o número trágico de meninas e mulheres adolescentes em idade reprodutiva: “Mais de 1 bilhão de meninas adolescentes e mulheres sofrem de desnutrição (incluindo baixo peso e baixa estatura), deficiências em micronutrientes essenciais e anemia, com consequências devastadoras para suas vidas e bem-estar.”4 Isso tem consequências catastróficas tanto para as mães quanto para as crianças. Como toleramos isso? Tomando apenas o exemplo da produção mundial de cereais, os 2.774 milhões de toneladas em 2022 significam que produzimos 1 kg por habitante por dia. Uma ração completa de consumo diário adulto de arroz, para dar uma referência, é de 180 gramas. Este é apenas um exemplo. Temos todos os números sobre as mudanças climáticas e podemos até assistir às catástrofes na TV. Os dramas da biodiversidade são apresentados em muitos relatórios. O plástico está em toda parte, e essa é apenas uma dimensão mais visível da poluição global: as corporações o produzem, embolsam os lucros, mas descartam qualquer responsabilidade pelo que acontece depois. Contaminação do solo, destruição de florestas originais no Brasil, Indonésia e Congo, a lista não termina. Olhamos para os dramas que se aprofundam e, caramba, já está na hora de levar as crianças para a escola… Dramas globais e desamparos individuais, o curto prazo se sobrepõe aos desafios estruturais, e vamos cuidar da vida.
A questão, obviamente, é que para além dos dramas temos que olhar para a governança, ou para a ausência de governança, que os gera e nos impede de revertê-los. Quer se chame de “novo contrato ecossocial” como nos relatórios da ONU, ou “green new deal” em tantas organizações sociais, ou “novas regras para o século XXI” nos escritos de Stiglitz, o fato é que o principal desafio está na criação das instituições que nos permitam enfrentar as tendências mais desastrosas.
A ideia é que devemos parar de nos agarrar a discussões ideológicas obsoletas sobre capitalismo/socialismo, ou estado/mercados, e levar a nossa construção de consensos aos meios práticos de enfrentar as questões-chave. Muitos deles são globais e não temos um processo de tomada de decisão global. Dani Rodrik, ao discutir a fratura tecnológica global, dimensão importante de nossos desafios, sugere que devemos usar os mecanismos de governança que temos, que são os governos nacionais e locais, para gerar os pactos regionais e globais necessários. “A cooperação regulatória transnacional e as políticas antitruste podem produzir novos padrões e mecanismos de aplicação. Mesmo onde uma abordagem verdadeiramente global não é possível – porque países autoritários e democráticos têm divergências profundas sobre privacidade, por exemplo – ainda é possível que as democracias cooperem entre si e desenvolvam regras conjuntas.”5 No Brasil, temos trabalhado em uma abordagem local de baixo para cima, propondo a descentralização, e ela é promissora. Mas nada disso atinge a escala da deformação sistêmica que estamos enfrentando.
Temos problemas globais, mas governos em nível nacional, finanças especulativas em vez de investimento produtivo, busca de renta em vez de lucros em insumos socialmente úteis, comunicação baseada em comportamento em vez de informações honestas, e narrativas em vez de transparência.
Mas, acima de tudo, temos sistemas de governança empacados no passado analógico, perdidos no turbilhão da nova revolução digital e no novo conjunto de desafios. Os conflitos estão aumentando em todos os lugares, mas as soluções não estão apenas no nível nacional. Este é um novo sistema, gerado pela revolução digital, e devemos nos concentrar nas questões de governança que a ele correspondem. A Economia guiada por missões, tal como Mazzucato apresenta a questão, parece uma abordagem razoável. Para o Brasil, sistematizei propostas no texto Resgate da função social da economia: uma questão de dignidade humana. Quão fundo devemos afundar no caos global antes que surja energia política suficiente para a mudança?