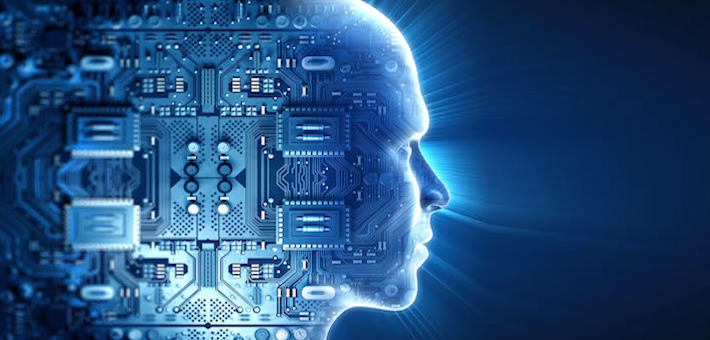Quebra de três bancos dos EUA gera pânico e leva Casa Branca a salvá-los com recursos públicos.
Há riscos de contágio. Por que uma estrutura financeira voltada para capturar a riqueza da sociedade, sem nada produzir, torna-se vulnerável
Antônio Martins, editor de Outras Palavras.
Outras Palavras, 13/03/2023.
Nenhum mito é para sempre. A crença na solidez das finanças que floresceram sob o neoliberalismo tornou-se mais frágil neste domingo (12/3), quando as três principais autoridades monetárias dos EUA reuniram-se às pressas, entre si e com o preside nte Biden, para tentar debelar um incêndio que crepitava no sistema bancário. Três bancos haviam quebrado nos dias anteriores – um deles, o Silicon Valley Bank (CVB), especializado em financiar startups e considerado por alguns o “sangue do setor tecnológico”. Havia sinais de que os depositantes corriam para sacar seus depósitos em outras instituições, temendo perdê-los. Surgiu o risco de uma “crise sistêmica”, catastrófica para a economia.
A mobilização de emergência envolveu o poderoso presidente do Fed (o banco central), Jerome Powell, a secretária do Tesouro (espécie de ministra da Fazenda), Janet Yellen, e o presidente do instituto garantidor de depósitos bancários (FDIC), Martin Guenberg. As medidas anunciadas são pouco ortodoxas. O Fed honrará, com recursos públicos, todos os depósitos nos bancos quebrados, favorecendo em especial os clientes mais ricos, cujos saldos acima de 250 mil dólares não estão protegidos pela lei. Não se sabe quanto custará este resgate, mas p otencialmente ele pode chegar a centenas de bilhões de dólares. Além disso, abriu-se um crédito inédito (Programa de Financiamento a Prazo dos Bancos, ou BTFP, em inglês) para salvaguardar, também com dinheiro do Estado e em condições favorecidas, outras instituições bancárias sob risco. É muito cedo para saber se as ações, defendidas por Biden num pronunciamento na manhã de segunda, terão êxito. No início da tarde, os sinais eram preocupantes, com novos bancos sob risco. Como em todas as crises, os fatos ajudam a jogar luz sobre realidades por muito tempo ocultadas.
Por trás da quebra, os juros
As taxas básicas de juros, determinadas pelos bancos centrais, estão em alta em todo o Ocidente desde o início de 2022. O movimento afeta de diferentes maneiras as economias e sociedades. No Brasil, periférico e regredido, um índice absurdo (13,75%, ou 8,5% ao ano acima da inflação) paralisa os investimentos e sangra o Estado. É o maior do mundo e duas vezes superior ao dos países que vêm em segundo lugar.
Nos EUA, as taxas reais mantém-se negativas (4% ao ano, contra uma inflação de 6,4%). Mas a alta
prossegue e o presidente do Fed prometeu acelerá-la, em depoimento ao Senado em 7/3. Foi este movimento altista, num cenário marcado por financeirização generalizada da economia, que levou o SBV ao colapso e ameaça outros bancos.
Um texto da revista Economist ajuda a entender. Sediado em Santa Clara, na Califórnia, o SBV especializou-se em ter como clientes startups tecnológicas e de serviços de Saúde. Os depósitos afluentes que recebeu deste setor fizeram seu valor “de mercado” mais que triplicar entre o início de 2020 e o fim de 2021. Seus depósitos quadriplicaram, chegando a US$ 189 bilhões nesse mesmo momento. Parecia saudável a ponto de ser incluído pela revista Forbes, há algumas semanas, na lista de “melhores bancos” norte-americanos.
Os juros derrubaram-no por dois caminhos. O SBV comprou títulos do Tesouro dos EUA em massa,
quando as taxas estavam quase zeradas. As primeiras perdas significativas vieram quando a alta abrupta dos juros desvalorizou estes papéis mais antigos, que “micaram” (já que é possível investir em títulos novos, com muito maior rendimento). A situação piorou com a crise do setor de tecnologia dos EUA, que provoca há meses quebras de empresas e demissões em massa.
Mas o fato mais chocante – e indicador de possível contágio – foi a rapidez do colapso final do
SVB. Em 8/3, o banco anunciou que buscava US$ 2,5 bilhões (pouco mais de 1% de seus ativos) para cobrir um déficit em seu balanço. A notícia bastou para uma corrida devastadora a seus depósitos, feita em especial por clientes graúdos. Depositantes com mais de US$ 250 mil, desprotegidos de garantias legais, transferiram suas contas quase instantaneamente para instituições maiores. Em dois dias, as ações do SVB perderam 88% de seu valor. Na sexta-feira, 10/3, as autoridades monetárias fecharam o banco.
Em pleno domingo, fizeram o mesmo com o Signature Bank, de Nova York, também exposto a depositantes endinheirados que fugiam do risco. Já na manhã desta segunda (13/3), apesar das
medidas das autoridades bancárias e do discurso de Biden, um movimento semelhante parecia ameaçar o First Republic, de San Francisco e outros bancos regionais. Em sua fala pela manhã, Biden prometeu “fazer tudo o que for necessário” para proteger o sistema bancário. Mas a que custo?
Amplia-se a busca de alternativas ao rentismo
A crise financeira aberta em 2008-2010 é o marco inicial da fase política que vivemos. Foi então que a classe do 0,1% exigiu e obteve dos governos do Ocidente a salvação de seu patrimônio e interesses; que se abriu o fosso global da desigualdade; que se ampliaram os ataques ao Estado de Bem-Estar Social; que se tornou nítido o esvaziamento da democracia.
Quinze anos depois, as sociedades estariam dispostas a viver um episódio semelhante?
As respostas começaram a surgir no próprio domingo (12/8). Nos EUA, viralizaram nas redes sociais as postagens que exigiam: “Nenhum resgate dos contribuintes para os ricos” [“No taxpayer bailout for rich clients”]. O senador Bernie Sanders, ex-candidato à Presidência, manifestou-se: “Não é hora de salvar o SVB. Não podemos continuar ladeira abaixo, com socialismo para os ricos e individualismo cru para todos os demais”. Já a senadora Elisabeth Warren, conhecida por sua luta pela reforma do sistema financeiro, lembrou num artigo para o New York Times que sobram socorros para os bancos e os especuladores – enquanto não há à vista uma saída para milhões de estudantes afundados em dívidas bancárias.
Talvez duas vozes devam ser ouvidas com ainda maior atenção. Uma é a do veterano economista
Michael Hudson. Em um texto de denúncia sobre o papel do sistema financeiro sob o capitalismo neoliberal, publicado hoje, ele lembra que (ao contrário do que prometeu Biden) as maiorias sempre pagam pelo salvamento dos bancos. O dinheiro despendido com eles nem sequer entra nos Orçamento do Estado – nem nos EUA, nem no Brasil. Simplesmente é emitido a partir do nada e passa a compor a dívida pública. Nem Legislativo nem Executivo decidem ou são ouvidos. A aristocracia financeira tem cordéis mais eficientes para colocar o Estado a seus pés.
Hudson também lembra que esta dinâmica de desregulação dos mercados financeiros e socorro pelo
Estado, sempre que uma crise sobrevém, está criando modalidades cada vez mais tóxicas de especulação. Uma delas é a explosão de “instrumentos derivativos”, puras apostas, por meio das quais grandes “players” financeiros tentam multiplicar seu capital, ganhando sobre os valores futuros dos alimentos, dos minérios, da inflação, das moedas, dos índices da bolsa, do número de falências… Este cassino cresceu tanto, alerta Hudson (teria ultrapassado um quatrilhão de dólares, ou quarenta vezes o PIB dos EUA) que imprevistos mínimos pod em gerar perdas colossais e acender a centelha de uma crise bancária sistêmica.
A outra voz é de Ellen Brown, a grande defensora de um sistema de bancos públicos. O aumento dos juros que todo o Ocidente agora persegue, sustenta ela, é uma ferramenta tola contra a inflação. Inflige sofrimento enorme às sociedades e não ataca a raiz dos problemas. Há alternativas – adotadas não apenas na China, mas também em outros países asiáticos, como Coreia do Sul e Nova Zelândia. Consiste em empregar a capacidade do Estado, de criar moeda a partir do nada não para alimentar a especulação, mas para grandes projetos de reforço dos serviços públicos e renovação da infraestrutura.
Dá certo, mostra Ellen Brown no artigo. Falta saber se haverá vontade política – nos EUA e, em breve, no Brasil.