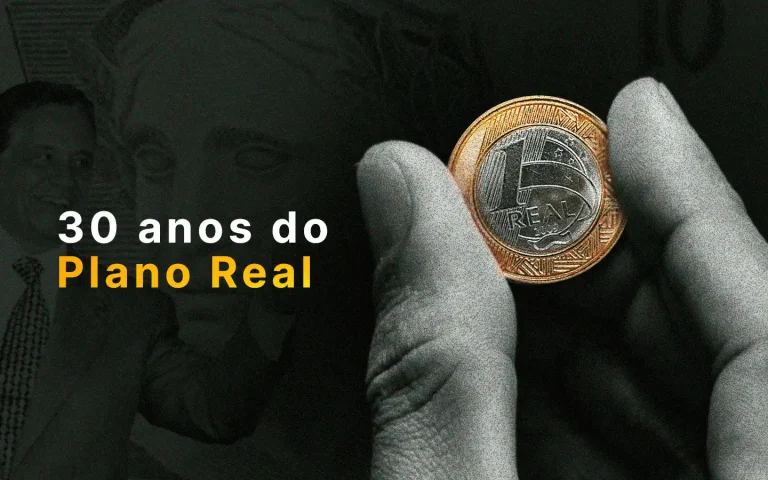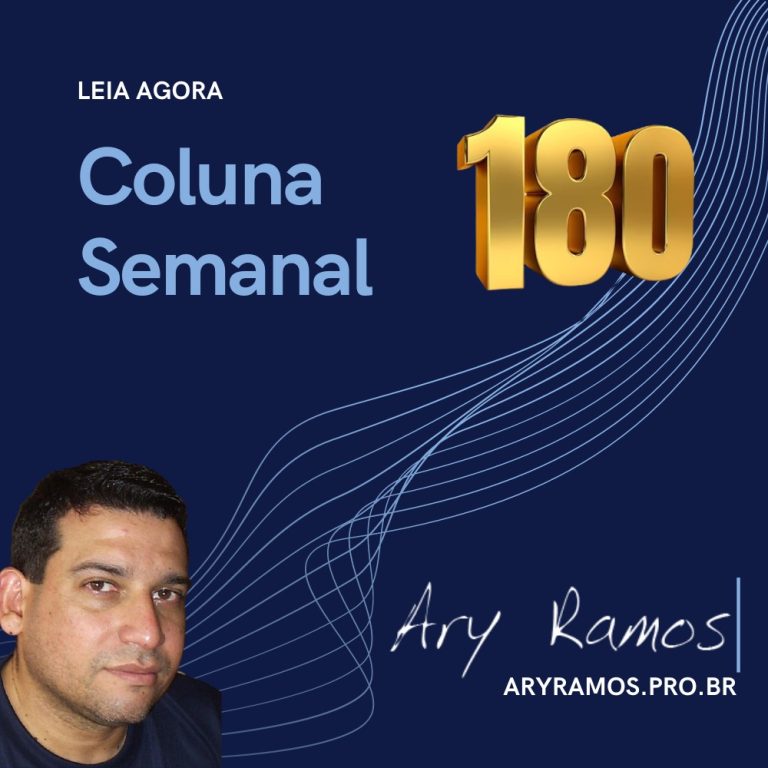Marcos de Queiroz Grillo – A Terra é Redonda- 22/07/2024
Os neoclássicos, no seu intento de desenvolvimento de uma análise precisa, rejeitaram a realidade e verdades óbvias universais, agarrando-se na ficção
Introdução
A ciência econômica anda décadas a reboque da história. Muitos economistas, que se descrevem como cientistas, não conseguem chegar a acordos básicos sobre quase nada em relação às políticas econômicas. Sem uma teoria correta não se consegue uma prática assertiva. Não havendo consenso sobre a teoria econômica, como se poderá levar a cabo políticas econômicas eficazes?
Da economia clássica derivaram, para um lado, a teoria econômica marxista ricardiana e, para outro, a teoria econômica neoclássica. Esta última, dominou completamente o debate econômico até a publicação, em 1936, da Teoria Geral, de John Maynard Keynes.
Os pais da teoria neoclássica foram os economistas clássicos do século XVIII, David Ricardo e Adam Smith. Eles criaram as bases para a rationale do laissez-faire, da não intervenção governamental na economia, da economia de livre mercado, de “pleno emprego” e de “preços de equilíbrio”, propiciado pelo conceito da mão invisível do mercado, com todos os agentes econômicos agindo racionalmente com base nos seus próprios interesses.
A teoria keynesiana questionou o conceito do laissez-faire com base no entendimento de que o mundo não é governado de cima, de forma que os interesses privado e social sempre sejam coincidentes. Segundo John Maynard Keynes, o conceito do laissez-faire teria contribuído para o advento da recessão de 1929, pois o conceito de equilíbrio do emprego e dos preços no longo prazo, propugnado pelo laissez-faire, não era somente enganoso, mas também, muito perigoso.
A crise tinha causais na gestão econômica, não tendo ocorrido por acidente; e a inação diante dos fatos correntes poderia ser desastrosa, já que o longo prazo é um guia enganoso para a realidade concreta dos negócios correntes. No final do século XX perfilavam os monetaristas, os keynesianos neoclássicos e os Pós Keynesianos, num debate interminável sobre os grandes problemas da economia: emprego, inflação e dinheiro.
São descritas aqui as diferenças/similaridades filosóficas e axiomáticas entre as diversas escolas, enfatizada a importância da teoria na prática do dia a dia da política econômica e levantados alertas do perigo, para a sociedade, de conceituações teóricas equivocadas que permeiam a aplicação de políticas econômicas enganosas.
Teoria neoclássica x teoria keynesiana
John Maynard Keynes publicou sua Teoria Geral em 1936. A Europa, diferentemente dos EUA, experimentou de 1922 a 1936 uma taxa de desemprego superior a 10% ao ano. Nos EUA o mesmo não acontecia, sendo que no próprio ano de 1929 o desemprego foi de apenas 3%. Contudo, do final de 1929 a 1933 a economia americana despencou, com uma queda no PIB per capita de 52% no período.
Em 1933 o desemprego foi da ordem de 25%. Tudo isso parecia indicar o completo fracasso do sonho americano e da própria teoria neoclássica de equilíbrio.
Ainda assim, com todas essas evidências, os economistas neoclássicos argumentavam tratar-se de uma aberração temporária numa economia de livre mercado e que o elevado desemprego não poderia persistir no longo prazo, sendo certa a tendência do mercado ao reequilíbrio de preços e ao pleno emprego. Segundo eles, para se governar bem, deve se governar menos. Intervenções econômicas só deteriorariam a situação momentânea de desequilíbrio.
No entendimento de Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações, “cada indivíduo está continuamente buscando descobrir o mais vantajoso emprego do seu capital, vantagem para si e não para a sociedade. Ele visa somente seu próprio ganho, mas ele é conduzido por uma mão invisível que promove um fim que não era a intenção do indivíduo. Ele, na busca do seu interesse individual, termina promovendo o interesse da sociedade como um todo, de forma mais eficaz do que se ele quisesse conscientemente fazê-lo”.
A crença neoclássica de que a economia de livre mercado inevitavelmente geraria pleno emprego e prosperidade tem por base um “axioma” criado pelo economista francês Jean Baptiste Say de que “produtos são sempre trocados por produtos”. Este conceito foi refraseado pelo economista inglês James Mill como “a oferta cria a sua própria demanda”, que passou a ser conhecida como a Lei de Say. No fundo, produz-se coisas (oferta) que são colocadas no mercado para auferir-se renda para comprar outros produtos no mercado (demanda).
Nesse sentido, nunca haveria uma depressão pelo fato de a produção criar suficiente renda para comprar tudo o que é produzido. Igualmente, nunca poderia existir desemprego já que os empresários, visando lucro, sempre seriam capazes de encontrar demanda suficiente para a venda dos produtos produzidos pelos trabalhadores. Nesta visão, bens são trocados por bens. O dinheiro seria só um meio de troca para facilitar as transações. Mudanças na oferta de dinheiro não afetariam variáveis macroeconômicas como o nível de emprego e o produto agregado, já que o dinheiro nada mais seria do que um véu atrás do qual funcionaria a economia real.
Posteriormente, esta questão foi reconceituada, enfatizando o axioma técnico de neutralidade do dinheiro, ao não afetar o emprego e a produção dos bens e serviços. Nesse sentido, o aumento da quantidade de dinheiro na economia afetaria somente os preços, causando inflação, já que haveria muito dinheiro tentando comprar poucos bens e serviços.
John Maynard Keynes pensava diferente. Em sua obra, rejeitou o conceito de neutralidade do dinheiro e a Lei de Say, conceitos vigentes sem qualquer questionamento por mais de um século.
Segundo ele, um sistema onde o dinheiro não teria nenhuma outra interferência que não a de apenas meio de troca, teoricamente, seria uma economia real de troca que, na prática, não existe, já que o dinheiro tem implicações próprias na economia, afetando motivações e decisões de curto e de longo prazo, o que caracteriza uma economia monetária, na qual são peculiares os picos e os vales, onde a influência do dinheiro não seria neutra, mas, ao contrário, poderia afetar a produção.
John Maynard Keynes e a crise de 1929
Durante os quatro anos da administração Hoover nos EUA (1929-33) a economia americana sofreu uma significativa deterioração, apesar da “certeza” dos economistas neoclássicos que o aconselhavam de que um sistema de livre mercado, sem interferência governamental, voltaria sozinho ao equilíbrio. Os produtores descobriram que qualquer coisa que produzissem e colocassem no mercado sofreria deflação de preços causando-lhes prejuízos.
Enquanto as pessoas das cidades passavam fome, os fazendeiros das cercanias destinavam sua produção para alimentar os porcos. O desemprego aumentou e a produção continuou em queda. Mesmo assim, o presidente Hoover continuou seguindo seus assessores neoclássicos, acreditando que a melhor solução seria de não intervenção na economia que, no longo prazo, se ajustaria sozinha.
Nas eleições de 1932, predominava o receio da revolução socialista, do anarquismo. O povo começou a se manifestar, exigindo medidas urgentes. Acampados perto do Rio Potomac, em Washington, os hoovervilles, como eram conhecidos, muitos dos quais veteranos da 1ª. Guerra Mundial, foram reprimidos violentamente pelo General Douglas MacArthur, que os dispersou a força.
Em 1933, com a eleição de Franklin Delano Roosevelt Jr., instaurou-se o “New Deal”, que nada mais era do que um conjunto de medidas legislativas de políticas compensatórias. Ele sabia que se não tomasse medidas urgentes, o próprio sistema capitalista americano estaria em risco. Roosevelt descartou os neoclássicos e convocou jovens que ele definiu como o seu “Brain Trust”, dentre os quais, o economista Rexford Tugwell e o advogado Adolf A.Berle, que implantaram algumas ideias keynesianas de estímulo à economia.
O emprego foi estimulado visando a criação de renda. Saiu de 39 milhões em 1933 para 51 milhões em 1941. A renda per capita cresceu 70% neste período. Roosevelt foi reeleito com sobras, em 1940, para um inusitado terceiro mandato. O povo americano estava convencido do sucesso do New Deal e da nova economia política keynesiana.
A principal medida foi o aumento da renda dos trabalhadores (conhecido como “pump-priming”), o que encorajaria o retorno à produção por parte dos empresários, retroalimentando a criação de novos empregos. Tratava-se, portanto, de priorizar o bombeamento do coração da economia através da criação de empregos, o que deu certo.
Os pós-keynesianos e os keynesianos neoclássicos
A lógica pós-keynesiana continuou negando a mais importante assertiva neoclássica de neutralidade do dinheiro e, como consequência, a falsa conclusão de que uma economia de livre mercado, no longo prazo, sempre asseguraria pleno emprego daqueles que querem trabalhar.
Mesmo assim, a economia neoclássica ficou de pé. Isto porque jovens economistas americanos, ganhadores de Prêmios Nobel, como Paul Samuelson, do MIT, James Tobin, da Yale University, além de outros como Hicks, Debreu e Arrow, com domínio da teoria neoclássica e muito afiados no formalismo e rigor dos modelos matemáticos, se desvencilharam da ortodoxia dos economistas neoclássicos tradicionais (Wilfredo Pareto, Leon Walras, James Mill, entre outros), e buscaram amalgamar a análise teórica neoclássica com as políticas keynesianas de incentivo governamental ao emprego, ao investimento agregado e tratamento dos níveis de preços da economia, desenvolvendo uma estrutura analítica, fortemente pautada em complexo simbolismo matemático, que eles denominaram de Síntese neoclássica do keynesianismo.
No fundo, eles reduziram a teoria keynesiana a um manual de cura para os desequilíbrios de curto prazo do sistema econômico que, no longo prazo, continuaria se autorregulando. Segundo eles, as políticas de curto prazo se faziam necessárias somente pela demora na correção dos desequilíbrios pelo próprio mercado, sendo necessárias pequenas doses dos remédios keynesianos.
Assim, no pós-guerra, o keynesianismo ficou voltado para os agregados macroeconômicos e os princípios neoclássicos continuaram dominando a microeconomia dos agentes econômicos. Contudo, na década de 1970, as fundações teóricas da economia neoclássica ampliaram seus domínios, expandindo-se da teoria microeconômica (teoria do comportamento de consumidores e produtores) para a macroeconomia (o estudo do comportamento dos sistemas econômicos). Isto foi possível em função do firme propósito de muitos dos consagrados economistas neoclássicos de transformar a economia em ciência exata, buscando diferenciá-la da sociologia e da ciência política.
O modelo neoclássico ganhou nova roupagem com o artigo do economista inglês John Hicks, de 1937, denominado “Mr.Keynes and the Classics” que consistiu numa tentativa de síntese neoclássica do keynesianismo, com seu famoso Sistema IS-LM, pretendendo sumarizar os quatro pilares básicos da teoria keynesiana: I para Investimento, S para a poupança, L para a demanda pela liquidez e M para a oferta de moeda. Segundo Hicks seu Sistema IS-LM de equações simultâneas fornecia o arcabouço matemático para a integração da teoria keynesiana como a modelagem matemática da economia neoclássica, conhecida como a Teoria Geral do Equilíbrio, ou também, Análise Walrasiana do Equilíbrio, já que foi o economista francês Leon Walras (1834-1910) que desenvolveu a primeira versão matemática da teoria neoclássica. Sir Hicks, posteriormente, foi ganhador do prêmio Nobel de 1972.
O sistema IS-LM passou a ser uma “verdade universal” para a maioria dos economistas americanos, levando o professor Martin Bronfenbrenner, da Duke University, a batizá-la como a religião ISLAMic dos economistas. As Universidades incorporaram na sua literatura os escritos dos keynesianos neoclássicos, desaconselhando a seus estudantes a leitura pesada e tediosa da Teoria Geral de Keynes. Em seu lugar, deviam se aprofundar no sistema Hickisiano IS-LM, que continha todas as ideias importantes de Keynes.
O próprio Hicks, posteriormente, reconverteu-se ao keynesianismo, ao afirmar que não estava satisfeito com as premissas de seu modelo, pois ele violentava a ordem que os eventos ocorriam no mundo real.
O economista neoclássico James Tobin, Prêmio Nobel em Economia, comenta: “na versão moderna da teoria neoclássica, onde ficaria a Mão Invisível?” Segundo ele, a boa notícia é que a intuição de Adam Smith e seus seguidores pode ser rigorosamente formulada e comprovada matematicamente; a má noticia, é que o teorema depende de condições e premissas especiais, dificilmente comprováveis nos dias de hoje.
Já quanto ao princípio de neutralidade do dinheiro, James Tobin o reconhece como falacioso, bastando apenas atentar para a política monetária de expansão ou enxugamento da oferta de dinheiro, tão correntemente aplicada na economia dos dias de hoje.Mas, como ele mesmo diz, a teoria do equilíbrio geral tem sido o maior desafio para os profissionais mais preparados em economia. Elegante, rigorosa, poderosa matematicamente, a teoria vai longe, diferenciando-se das outras ciências sociais e encantando a todos, muito mais pelos desafios do que propriamente pela sua capacidade de equacionar quebra cabeças e problemas do mundo real. E conclui: por isso, “o reconhecido irrealismo das suas premissas não vem ao caso”.
Por seu lado, os Keynesianos ingleses, dentre eles Sir Roy Harrod, da Oxford University, Joan Robinson, Lord Richard Kahn e Lord Nicholas Kaldor, de Cambridge, observaram que a revolução keynesiana alcançava tanto o plano teórico como as políticas econômicas. Alertaram que a Teoria Geral de Keynes mostrava a importância das instituições monetárias e financeiras no funcionamento da economia real, onde o dinheiro é um aspecto necessário de uma economia na qual o futuro é incerto.
Estes e outros muitos ensinamentos keynesianos foram esquecidos, com a volta da predominância da ortodoxia econômica. Nesse sentido, Joan Robinson acusou o Sistema IS-LM de keynesianismo bastardo, já que teriam distorcido os ensinamentos de Keynes ao aceitarem políticas de governo só para intervenções pontuais para aliviar desequilíbrios de curto prazo no emprego e na renda.
Posteriormente, o verdadeiro keynesianismo foi revivido nos EUA pelo economista Sidney Weintraub da Universidade da Pensilvânia e por seu aluno Paul Davidson.
Contudo, a vasta maioria dos economistas abraçaram a economia neoclássica, especialmente em períodos de performance econômica satisfatória. Somente em períodos de crises econômicas é que alguns poucos economistas voltavam a frequentar os princípios keynesianos. Com o advento da inflação na década de 1960 e depois com sua aceleração na década de 1970, houve a caracterização de três linhas de pensamento: a pós- keynesiana, a keynesiana neoclássica e o pensamento neoclássico mais puro e menos híbrido, conhecido como monetarismo, capitaneada pelo contemporâneo de Keynes, Frederick Von Hayek e seu sucessor Milton Friedman.
Nos dias de hoje, o debate ainda continua, com idas e vindas nas políticas econômicas públicas.
Na economia real, o equilíbrio macroeconômico continua sendo vulnerável a muitos tipos de fatores. A estagflação, que ainda continua sem uma explicação adequada, trouxe ao cenário os monetaristas.
Mas uma coisa é certa. Os salários e preços não dispõem da flexibilidade requerida pelos modelos matemáticos neoclássicos. A preferência pela liquidez, ocorrida na crise de 1930, foi e é um fato relevante, e os estímulos monetários e fiscais, no velho estilo keynesiano, estão na ordem do dia em todo o mundo. E isso para não falar da comprovação cabal do fracasso da teoria quantitativa da moeda, após a crise de 2008.
Futuro previsível ou incerto?
A maioria dos economistas reconhece que todas as teorias são abstrações e, portanto, simplificações da realidade. A finalidade das teorias é buscar tornar o mundo real compreensível, e não substituir o mundo real por um mundo ideal e simplificado, somente para poder tratá-lo matematicamente. Milton Friedman, autor da Metodologia da Economia Positiva parece não concordar com isso. Segundo ele, a questão relevante a ser perguntada sobre as premissas de uma teoria não é se elas são realistas, porque elas nunca são; mas, ao contrário, é se elas são aproximações suficientemente boas do objeto em questão.
Esta pergunta só pode ser respondida ao se comprovar se a teoria funciona, ao produzir previsões suficientemente acuradas do futuro. Para Friedman e seus seguidores, a aceitação, sem questionamentos, dos axiomas e simplificações é condição básica para a construção de qualquer teoria econômica de utilidade. O único teste é se o modelo apresenta boas previsões sobre os eventos futuros. E, ainda, segundo ele, os estudos realizados sobre mudanças nas quantidades de dinheiro, no longo prazo, teriam efeito desprezível na renda; portanto, somente as variáveis não monetárias teriam importância para a renda real, o que comprovaria a hipótese da neutralidade do dinheiro sobre o produto.
Milton Friedman não definiu e mensurou o que viria a ser longo prazo no seu modelo, deixando obscuro o volume de evidências que teria de ser coletado para a comprovação da hipótese da neutralidade do dinheiro na economia.
Os economistas neoclássicos argumentam que, se a economia é uma ciência comparável à astronomia (ou à física), ela também deve estar sujeita a regras ou leis imutáveis e, portanto, sua posição futura poderá ser prevista. A pressuposição básica é de que o futuro da economia já estaria predeterminado pela condição existente no primeiro momento. É como se existisse na economia o princípio determinístico do Big Bang de criação da existência, onde a posição do instante inicial é determinante da posição de qualquer estrela ou planeta no futuro. Por analogia, tendo em conta as expectativas racionais das pessoas, também seria possível antecipar o futuro da economia.
O matemático inglês Alan Turing, demonstrou que se a natureza sempre se comporta segundo regras e leis matemáticas imutáveis, então, o futuro pode ser previsto lançando mão da máquina de TURING, um aparato hipotético que funciona para qualquer cálculo matemático em premissas e condições fixas. Os neoclássicos argumentam que descobriram e desenvolveram um conjunto completo de leis econômicas exclusivas e imutáveis e que, portanto, a pesquisa econômica pode e deve se dedicar a análises e previsões à la Turing.
Desenvolveram-se diversas teorias, todas baseadas nos mesmos princípios básicos, como o da neutralidade do dinheiro, entre outros: equilíbrio geral Walrasiano, Sistemas Arrow-Debrew, teoria das expectativas racionais, síntese neoclássica do keynesianismo, monetarismo ou teoria do caos. Como definem Robert Lucas e Thomas Sargent, a teoria neoclássica lida com modelos que constroem inferências estatísticas sobre o comportamento futuro baseadas em séries temporais passadas. A crença na possibilidade de uma economia empírica não experimental fornece as bases para tais inferências, que permitem a construção de um modelo decisório que pode ser confrontado com vários cenários e produzir respostas para cada um.
Esta conceituação pode ser entendida como darwiniana, onde só aqueles que, dispondo de intuições corretas, teriam construído seus modelos decisórios baseados em expectativas racionais. Aqui os empresários tomariam decisões como robôs lançando mão de modelos matemáticos baseados em premissas comportamentais e séries históricas passadas.
Para Keynes, ao contrário, a economia é essencialmente uma ciência social e não uma ciência natural. A crença na possibilidade de se prever condições econômicas futuras como em leis estatísticas de probabilidade, subestima o papel e a importância do erro humano e da ignorância sobre o futuro. Na verdade, o que deve ser enfatizado é a evolução institucional e histórica do desenvolvimento econômico.
Para os keynesianos não existem relações e correlações quantitativas imutáveis que permitam previsões acuradas sobre o futuro. O lapso de tempo entre a decisão e o resultado é um fato de fundamental importância. O lapso de tempo entre a decisão de produzir e a efetiva disponibilidade do produto pode ser de semanas, meses ou até anos. O tempo transcorrido entre a aquisição de um bem de capital ou de consumo durável e seu efeito posterior produzindo lucro ou satisfação é comumente medido em anos, para não dizer décadas.
Os eventos econômicos são assimétricos; a verificação de eventos passados não pode assegurar sua repetição no futuro, que é criado pela ação humana não sendo determinado por qualquer lei econômica imutável e muito menos sendo passível de ser calculada por qualquer máquina TURING.
Aqui, os empresários vivem um cenário econômico de incertezas sobre o futuro, não dispondo de
modelos confiáveis para determinação dos riscos de sucesso ou fracasso dos empreendimentos.
Projetos de investimento criam emprego e, em consequência, renda, ou demanda, para aquisição dos produtos da própria e de outras indústrias. Segundo Keynes, o espírito empresarial, que se caracteriza pela decisão de investir em longo prazo em ambiente de incerteza, é a condição indispensável para a prosperidade numa economia monetária.
Quando o investimento declina, a economia se deteriora, trabalhadores perdem empregos, negócios são fechados, e a produção decresce. Assim, para Keynes, a compreensão dos ciclos econômicos de crescimento e depressão está intimamente ligada aos fatores que levam os empresários a investir ou, alternativamente, postergar suas decisões de investimento, preferindo a liquidez, o que tem a ver com o otimismo ou o pessimismo dos empresários. Segundo Keynes, a postura mais ou menos arrojada dos empresários deriva da emoção e cultura empresarial, denominadas por ele como “espírito animal”, e não de modelagens matemáticas baseadas em medias ponderadas de resultados multiplicadas pelas respectivas probabilidades quantitativas de ocorrência.
Receios de perdas e expectativas de lucro podem se alternar, não existindo nenhuma base real para sua mitigação através de cálculos matemáticos. Portanto, investidores não são máquinas TURING. As decisões de investimento são tomadas com base no espírito animal, sabendo-se que não existem fórmulas para mitigação das incertezas sobre resultados que só ocorrerão no futuro. As expectativas dos investidores são dadas em ambiente de incerteza futura. Nesse contexto, elas podem ser cautelosas, de espera, com clara preferência pela liquidez; ou arrojadas, seguindo suas intuições, de escolha dos investimentos produtivos, ambas não necessariamente plenamente racionais.
John Hicks, já na sua fase final de reconhecimento da teoria keynesiana, diz que a economia se diferencia das ciências naturais já que, em economia, diferentemente daquelas, não se pode estar seguro de que um evento ou uma correlação existente no passado permanecerá no futuro. Segundo ele, a economia está nas fronteiras da ciência e da história.
Este entendimento reforça a necessidade do estudo da evolução ao longo do tempo das instituições e processos econômicos para o efetivo estabelecimento das políticas.
Os neoclássicos keynesianos tentaram pacificar o impasse conceitual entre os neoclássicos e os keynesianos, ao aceitarem as críticas keynesianas ao modelo de equilíbrio reconhecendo a possibilidade de desequilíbrios no curto prazo, com a volta autoajustável da economia ao equilíbrio no longo prazo. Mas isto está longe de ser aceitável para os keynesianos.
De fato, para os neoclássicos, a teoria keynesiana não substitui a teoria neoclássica. Para os keynesianos a teoria neoclássica se baseia em axiomas inaplicáveis, não sendo capaz de poder resolver problemas do mundo real. Mas continua valendo a máxima imbatível keynesiana de que não adianta ficar esperando que a mão invisível traga de volta a economia ao equilíbrio no longo prazo, pois, até lá, “todos já estaremos mortos”.
Que fique bem claro que os neoclássicos, no seu intento de desenvolvimento de uma análise precisa, rejeitaram a realidade e verdades óbvias universais, agarrando-se na ficção, pela fraqueza das premissas utilizadas, torturando os modelos matemáticos para se “alcançar” os resultados por eles desejados.
Marcos de Queiroz Grillo é economista e mestre em administração pela UFRJ.